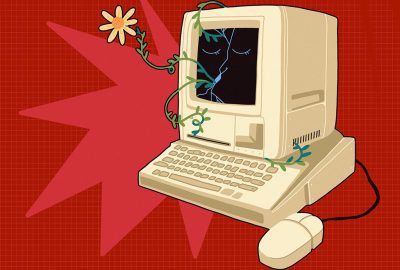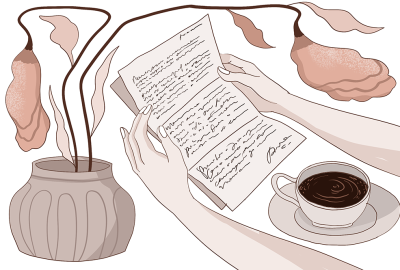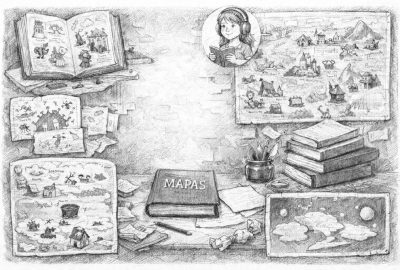As cartas quase infantis eram uma tentativa — repleta de saudade e frustração — de paralisar o tempo, congelar os dias, aquelas tardes vagarosas que passávamos nas rabiscadas carteiras da escola pública. A brusca mudança de turno — da tarde para a noite — marcou a ferro o fim da capenga infância e a entrada na incerta vida adulta. Eu tinha treze anos. Despedi-me com tristeza dos amigos antes das férias de meio de ano. Após aqueles exíguos quinze dias, eu começaria a estudar à noite — trocaria, mesmo sem desejar, as tardes solares pela escuridão de dúvidas. Não a culpo, mas a mãe deu a ordem (afinal, alguém tinha de organizar a miséria doméstica): ou estuda à noite ou desiste. A assertiva criava uma espécie de abismo à minha frente, uma poça de areia movediça, que engoliria meu corpo magro com desesperadora lentidão. Uma encruzilhada para alguém que era pouco mais que uma criança. Era preciso colaborar com as despesas da casa. Não havia saída: a renda miserável dos meus pais e a descrença no tal futuro pela educação eram uma herança que carregávamos feito uma assombração num calabouço medieval.
A. escrevia quase toda semana. As cartas eram deixadas na secretaria da escola, que se transformara em nossa afetiva caixa postal. Eu recolhia a correspondência e deixava uma folha de papel almaço, dobrada em várias partes. Envelopes eram um gasto desnecessário. Transcrevia nas linhas a nova vida, o trabalho cansativo, as aulas noturnas, os novos amigos, a rotina que me enrodilhava numa espiral de importantes compromissos: trabalhar o dia todo e suportar as aulas noturnas. Dito assim até parece uma tarefa banal, um tanto prosaica, mas havia, pelas frestas das horas, uma dinâmica exaustiva.
A fábrica era um lugar triste. Não lembro como consegui aquele primeiro emprego. Possivelmente, um vizinho o tenha indicado. Nós, os pobres, somos solidários na desgraça. Antes, desde os nove, dez anos, eu já trabalhava, mas sempre em meio período. Plantava e colhia flores, ajudava a mãe nas estufas, acompanhava o pai nas entregas — éramos bons floristas. Mas havia o privilégio de estudar com a luz do dia a entrar pela janela da escola. Agora, eu tinha certeza de que não aguentaria o peso dos dias. Meu irmão já havia desistido da escola. Sem qualquer resistência dos nossos pais, simplesmente disse não vou mais, é muito cansativo. Ganhava a vida em cima de telhados como calheiro — algo que faz até hoje. Eu seguia pelo mesmo caminho entre cadeiras e poltronas de bambu.
Antes de o dia clarear, eu descia do beliche. Mesmo acrofóbico, dormia na parte de cima. Naquela época, não temia as alturas. Com a idade, o medo infiltrou-se em cada fibra do corpo. O pavor me infla o cérebro, pressiona os músculos e transforma-me em um ridículo homem desesperado a suar frio. Mas do beliche, nunca despenquei. Tomava café, pegava a marmita na geladeira (que a mãe preparava na noite anterior), em geral arroz, feijão, chuchu e ovo cozido. O ralo cardápio variava muito pouco. Um pedaço de frango era motivo de sincera felicidade.
Há alguns dias, ao organizar as gavetas na biblioteca, encontrei uma das cartas de A. — estava no meio do álbum de figurinhas da Copa de 1982, que ainda preservo como um amuleto contra a extinção de uma espécie ameaçada. A letra miúda e arredondada, talvez de uma menina tímida, preenchia várias linhas de um papel já amarelecido. Lá se vão quase quarenta anos. Da curiosidade infantil sobre a minha nova vida, uma frase salta como um cão faminto: não entendo o motivo de você já trabalhar. Não tenho a menor ideia da resposta que devolvi na carta seguinte. Talvez tenha contado a verdade, apesar de que naquela época sentia imensa vergonha da pobreza, dos pais semianalfabetos, das roupas velhas, da casa de madeira a ruir. Hoje, não sinto orgulho, nem desprezo, nem nada, em relação àquela vida que, ao meu modo, deixei para trás (ou nem tanto). Um dia, muito por acaso, encontrei A. no ônibus. Éramos adultos. Eu a reconheci sentada num banco próximo à porta. Não nos encaramos, mas tenho certeza de que ela me reconheceu e abaixou a cabeça. Talvez tenha se transformado numa mulher tímida. Éramos adultos. E nada restou daquelas tardes de incertezas. Tínhamos outras preocupações.
Logo depois da briga, fui demitido. Desferi apenas um chute e um fracassado soco contra aquele homem. O motivo é (ou era) um dos segredos que carrego comigo rumo à cremação. Éramos cinco funcionários: um homem mais velho, duas irmãs jovens, e duas crianças: eu e outro menino do bairro, que morreu de uma doença degenerativa. Numa família condenada, todos os irmãos morreram da mesma síndrome. Chegávamos bem cedo ao galpão de madeira, localizado ao lado do parque, onde muitas pessoas faziam exercícios físicos, corriam, alongavam-se, caminhavam rumo à imortalidade. Boa parte daquela gente já deve estar morta. A eternidade não passa de um beija-flor manco.
Ao chegar, eu tinha de acender um maçarico a gás. E diante dele passava boa parte do dia, limpando as varas de bambu, com o calor da chama e um pano embebido de um óleo cujo fedor até hoje irrita minhas narinas. A outra tarefa era encher os bambus com areia de praia. Em seguida, eram manuseados pelo homem mais velho, cujo sorriso de rato ainda me assombra, e transformados, com habilidade de artesão, em sofás, poltronas e cadeiras. Não eram móveis bonitos, tampouco resistentes.
No fim da tarde, eu subia na bicicleta azul (sem freios) e fazia o trajeto de volta. Em casa, o banho rápido e a corrida até o ponto de ônibus. Mais umas quatro horas em sala de aula e retornava a casa, onde o jantar me esperava na geladeira ou no forno do fogão a lenha. No outro dia, pulava cedo do beliche, pegava a marmita e a bicicleta azul (sem freios) e começava tudo de novo. No fim da tarde, eu subia na bicicleta azul (sem freios) e fazia o trajeto de volta. Em casa, o banho rápido e a corrida até o ponto de ônibus. Mais umas quatro horas em sala de aula e retornava a casa… Até que um dia, ganhei a conta da fábrica.
Você nunca viu uma mulher pelada, disse-me certa vez uma das irmãs. E escancarou uma sonora gargalhada de dentes cariados, enquanto comia de colher o arroz e feijão na marmita. As irmãs vociferavam palavrões o tempo todo: pau, caralho, foda-se e buceta eram ditos como se fossem um simpático bom-dia. Não, eu nunca tinha visto uma mulher pelada, a não ser aquelas nas revistinhas pornográficas que surgiam entre os garotos no bairro. O sexo — revestido de certa perversão — era o assunto principal entre os três adultos na fábrica. Nós, os meninos, ouvíamos sem saber muito bem como manusear aquelas palavras e cenas que nos eram atiradas no lombo.
Um dia, sozinhos na hora do almoço, o homem, cujo passatempo era assistir a filmes pornôs nos cinemas de rua de C., mirou-me com olhos de lobisomem. Venha aqui, quero te mostrar algo. Meu braço magro — um beija-flor manco — transformou-se num pêndulo; o punho uma bigorna de palha, o impacto no vazio, seguido de um fraco chute na perna. A briga, o grito, a correria, o pânico. Em seguida, a demissão.
Naquele dia, a infância definitivamente acabara e a vida adulta parecia ser algo demasiado sombrio.