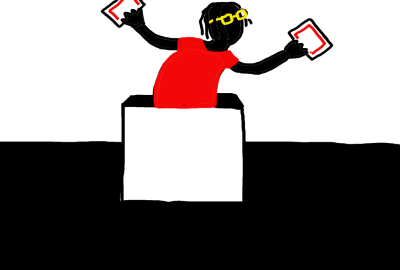O estudo de línguas estrangeiras e do português está no centro de atuação do professor, tradutor e escritor curitibano Caetano W. Galindo. Para ele, a convergência entre o ensino e a tradução em sua vida profissional não passa de “sorte”. E é esse “acaso” que o possibilita, a mesmo tempo, lecionar na universidade e traduzir para o mercado autores de sua predileção, como David Foster Wallace e James Joyce.
Além da atividade como docente na Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde atua há 22 anos como professor de linguística histórica, e tradutor, Galindo também escreve ficção.
Seu primeiro livro, Ensaio sobre o entendimento humano, venceu o Prêmio Paraná de Literatura 2013 na categoria Contos. Seis anos depois da estreia, a obra volta a circular em nova edição, cujo conteúdo foi reelaborado pelo autor e atende agora pelo nome de Sobre os canibais (2019).
“Eu tinha só alguma esperança de que umas pessoas lessem aquilo ali e achassem que os contos tinham algo a dizer. Sobre elas, sobre os outros…”, diz o escritor em entrevista por e-mail ao Rascunho.
O conjunto de narrativas breves é marcado por uma aguda autoconsciência — “Raiva do meu reflexo de raiva” e “Ela acha que eu acho que ela acha que eu estou […]” são exemplos de como se manifestam esses personagens que pensam sobre pensar. Essa inquietude se reflete em toda estrutura da obra: contos diferentes se problematizam e/ou complementam, com escolhas estilísticas que remetem ao livro Breves entrevistas com homens hediondos, de Foster Wallace (autor bastante presente neste bate-papo), e oferecem uma experiência interativa para o leitor.
Há de se pescar as minúcias para o melhor entendimento do quadro geral, e elas normalmente aparecem em forma de metáforas ou manobras metaliterárias. Para ilustrar, em Käfer — que retoma uma ideia iniciada em Investigações filosóficas (2) — discute-se a evolução de filmes de alienígenas para explorar nosso olhar sobre o próximo. Já Sinceridade e autenticidade debate a ingenuidade (ou não) do narrador e do próprio autor de um dos contos anteriores do livro, chamado Não sei se eu dou conta.
O estilo fragmentado, aliás, com o objetivo de montar um panorama mais claro só quando fruído em sua totalidade, vem sendo repetido no romance Lia, publicado em capítulos semanais no jornal online Plural — sem grande planejamento, ao sabor do que acontece com o autor por aqueles dias, do que ele lê ou se lembra. “Ela virou meu alter ego. Meu diário em prosa”, afirma.
Além da “seriíssima brincadeira com a linguagem” presente em Sobre os canibais, conforme definiu Mauricio Lyrio, autor do texto de apresentação do livro, o que se evidencia é uma preocupação em esmiuçar a experiência humana em suas ricas banalidades — frustrações profissionais, a vida em casal, microdisputas de poder que regem a sociedade. Partindo desse pressuposto, o de que o livro se debruça sobre as guerras existenciais de cada um e suas particularidades, a chave de leitura talvez esteja contida já no título. “Os canibais somos nós, acho. Os estranhos. Os incompreendidos”, diz Galindo.
• No ensaio Dos canibais, Michel de Montaigne (1533-1592) diz que “classificamos de barbárie o que é alheio aos nossos costumes”. Os canibais do título do seu livro, quem são? A escolha foi irônica, jocosa?
Os canibais somos nós, acho. Os estranhos. Os incompreendidos. Por isso mesmo eu acho que a escolha do título (sugestão do meu irmão) foi mais “humanística” que jocosa.
• No texto de orelha, Mauricio Lyrio define Sobre os canibais como uma “seriíssima brincadeira com a linguagem”. É mais ou menos por aí? Qual a principal impressão você desejou causar com o conjunto?
Putz. Toda literatura é de certa forma uma “brincadeira com a linguagem”. Acho que o que o Lyrio quis, quando disse que a minha era “seriíssima”, foi me livrar de alguma acusação de invencionice leviana. Espero de fato que o livro não mereça essa acusação. Quanto a pretender impressões… puxa… Eu pretendia poucos “efeitos”. Eu tinha só alguma esperança de que umas pessoas lessem aquilo ali e achassem que os contos tinham algo a dizer. Sobre elas, sobre os outros…
• Alguns contos de Ensaio sobre o entendimento humano, vencedor do Prêmio Paraná de Literatura 2013, foram reelaborados para o livro Sobre os canibais. A insatisfação move sua produção ficcional?
Por mais que soe bacana essa frase, não sei não. A ideia originalmente era só republicar o Ensaio. Mas o tempo foi passando, eu escrevi umas coisas, cortei outras, revisei tudo… Não achei ruim apresentar uma versão aumentada do primeiro livro. Mas não estava insatisfeito com ele como era.
“Pra mim, saber mais, entender melhor, esmiuçar mais só aumenta o prazer proporcionado pelas grandes obras.”
• Em Não sei se eu dou conta, um dos personagens diz: “Se é para virar patê, melhor ser moído ‘motivado’, né?”. A partir desse raciocínio: a literatura é uma maneira de se manter motivado em meio aos obstáculos da vida?
Bom. Eu nem sei se concordo com o personagem. Na verdade, nem sei se ele concorda com o que está dizendo ali. A literatura é uma maneira de se distrair dos obstáculos da vida, e nas melhores situações pode ser uma ferramenta que te permita ultrapassar melhor esses obstáculos. Na medida em que seja bem-sucedida em qualquer dessas duas tarefas, ela sempre há de ser um elemento “motivador”, inclusive pra te fazer perceber que você não precisa dela pra isso.
• É correto dizer que pensar sobre pensar é uma das chaves da sua ficção?
Bastante gente tem me dito isso. Deve ser verdade, sim.
• A última revisão de sua tradução d’O apanhador no campo de centeio, clássico do Salinger, foi feita em voz alta, com o objetivo de garantir a oralidade da obra. Os contos de Sobre os canibais também passaram pelo mesmo processo? Foi necessária muita reescrita para chegar ao tom desejado?
Sim. Eu tento ler tudo em voz alta. Quanto à reescrita, depende. Pra mim, pelo menos, funciona assim (hoje). Passo bastante tempo marinando uma ideia de um conto, sem nem tentar dar forma ou estrutura, só mantendo aquele germe de ideia vivo, e lidando com as ideias que vão aparecendo. Sem tomar notas nem nada. Aí, quando sento pra escrever, escrevo bem rapidão, invariavelmente já com a estrutura “final”, e invariavelmente descobrindo essa estrutura, nos seus detalhes, só enquanto escrevo. As revisões, a partir daí, tendem a ser de detalhes. Sonoridade, ritmo, um ou outro paralelo que precisa de reforço…
• Você já disse que acredita que a tradução devia ser sempre coletiva — consultas, trocas de ideias. E quanto à ficção autoral? É um trabalho mais solitário?
Engraçado… nem sei se a tradução devia ser sempre coletiva. O que eu sei é que se fosse ela tenderia a atingir resultados melhores, objetivamente melhores. Mas o dado “subjetivo” das escolhas de tradução também me interessa. E acho que vai interessar cada vez mais na medida em que a tradução automática for ocupando mais espaço. Pode bem ser que a tradução literária “humana” se transforme no equivalente, sei lá, dos pães de fermentação natural. Uma opção artesanal, onde a “assinatura” do indivíduo é bem mais importante. Acho que o mesmo vale pra ficção. Hollywood e a televisão estão aí pra provar que se você quiser qualidade e solidez na opinião da maioria, em geral é bom ter mais de uma pessoa criando. Mas o dado idiossincrático, a assinatura individual, a esquisitice de uma pessoa qualquer faz parte daquilo que a gente busca na literatura, na narrativa artística em geral. Ninguém poderia fazer Twin Peaks ficar melhor com um exército de roteiristas. O dado pessoal, idiossincrático, faz parte da qualidade final.
• A série de contos Bienal (S. Med. pat. req.) traz descrições detalhadas de obras modernas em exposição. Qual sua relação com as artes visuais?
Eu entendo pouco. Mas me interesso bastante. E penso muito quando vou a exposições. Daí ter encontrado um jeito de dizer certas coisas através de “obras de arte” inexistentes.
• Como foram surgindo os capítulos do romance Lia, publicados no jornal online Plural? Pode falar um pouco desse trabalho? Pretende publicá-lo em livro?
Sempre imaginei a Lia saindo em livro depois. Mas ainda não tenho planos muito concretos pra essa publicação. Ainda me faltam uns 40 capítulos. A ideia toda saiu de uma conversa com o André Conti, hoje sócio da Todavia, em que ele me explicou o conceito de “narrativa emergente” na cultura gamer (de que eu não entendo lhufas). Fiquei fascinado por aquilo, e comecei a pensar em maneiras de usar em ficção literária. Isso foi anos atrás. Logo depois disso eu tive uma noite bem engraçada num hotel em São Paulo, depois de um voo cancelado, e pensei que aquilo seria um primeiro fragmento dessa história (acabou aparecendo mais tarde na série publicada). E nessa mesma noite decidi o nome da protagonista. Quando comecei a escrever, já tinha traído um pouco a “pureza” conceitual do meu projeto original. Mas ainda me encantava a ideia de fornecer pedaços desconexos da vida de alguém, na vaga esperança de que a crescente familiaridade da leitora com a personagem costurasse a coisa toda. Um álbum de retratos, em oposição a um filme. E eu fui escrevendo (e estou escrevendo) um por semana, sem adiantar nada, sem planejar muita coisa. Só quando cheguei àquele que chamei de Capítulo 100 (apesar de a série ter apenas 99) é que coloquei alguma coisa de uma estrutura global. Mas a ideia continua sendo simplesmente ir escrevendo Lias toda semana. Meio que ao sabor do que me acontece, do que leio, do que eu lembro… Ela virou meu alter ego. Meu diário em prosa.
• No posfácio (não publicado) de O apanhador no campo de centeio, você classifica o livro como “um dos maiores clássicos do século 20”. Quais são teus cânones pessoais?
De todos os tempos? Montaigne. Shakespeare. Tolstói. Joyce. Wodehouse. Pynchon. Stoppard. Hoje, Salinger… Eliot. Dickinson. Hopkins. Trevisan. Machado. Bandeira. Cabral. Britto. Tanta gente…
• A tradução exige um mergulho radical na obra do autor. Você cria vínculos profundos com esses escritores? Teve um que mais te marcou?
Ah, claro. Você mexe a fundo na criação da pessoa. E quando ela é desse nível, acaba tendo uma influência gigante sobre você. Um autor traduzido, um grande livro traduzido, é parte da família. É o time pra que você torce. Vários me marcaram demais. Ali Smith, por exemplo. Mas acima de tudo Joyce, que me deu toda a carreira que eu possa ter tido.
• Você é casado e pai de uma filha. Das famílias literárias disfuncionais com as quais conviveu — os Glass, de Salinger, os Incandenza, do Foster Wallace, e os Bloom, de Joyce —, qual foi a que mais te mostrou o que não se deve fazer? Ou, ao contrário, alguma te ensinou coisas boas?
Ótima, essa pergunta! Deixa ver. Os Incandenza definitivamente são insuperáveis em termos do que “não” se fazer. Mas mesmo eles, e certamente os Glass, e ainda mais os Bloom (embora Molly talvez não queira reconhecer), são movidos por um tipo de amor que me toca demais.
• Em entrevista ao Charlie Rose, em 1997, David Foster Wallace diz que, como docente, o clichê se torna real (“professores aprendem muito mais do que os alunos”) e que, fora alguns poucos gênios, a maioria dos acadêmicos mais velhos acaba entediada. Sendo professor há muitos anos, como vê essas declarações?
O primeiro é definitivamente verdade. Sobre o tédio… bom. Eu tenho 22 anos de universidade, mas ainda me restam uns 15 antes de me aposentar. Então ainda acho que me cabe esperar uns 10 anos antes de responder a essa pergunta!
• Na mesma entrevista citada acima, Wallace diz que quanto mais tempo se gasta lecionando, coisa que é extremamente difícil de se fazer bem, menos tempo se tem para a produção própria. Se é que concorda com a premissa, o trabalho acadêmico gera conflitos com sua produção ficcional?
Não tenho a menor ilusão de poder ser nem um professor tão bom quanto foi o Wallace nem, muitissíssimo menos, um escritor do tamanho dele. Então não há comparação. É claro que o tempo é finito, e uma coisa come espaço da outra. Mas o fato é que eu tendo a ser rápido pra fazer o que tenho que fazer, o que me libera a possibilidade de fazer mais coisas (pior?). E, de outro lado, tenho duas facilidades adicionais. Uma é que leciono o mesmo conteúdo (basicamente) na graduação desde que fui contratado, e embora tente me manter atualizado e mudar o curso todo ano, isso facilita um bocado a preparação das aulas. Outra é que a minha atuação na pós-graduação anda bem perto do que faço como tradutor (que por sua vez toca diretamente o que eu faço se escrevo literatura). Existe uma sobreposição grande dos “tempos”. Posso estar traduzindo um livro e, ao mesmo tempo, ganhando algo que vai aparecer numa Lia futura e que pode ser discutido com os alunos num curso de pós-graduação. Ou posso topar com uma ideia na pós que… etc…
• Fiz esta pergunta ao Luís Bueno, também professor da UFPR, e gostaria de saber sua resposta: quais diferenças e semelhanças observa entre as linguagens acadêmica e literária?
Em termos de forma, de um lado você busca objetividade. Clareza. Imputabilidade. Do outro, todos os caminhos são válidos. Em termos de comunicação é que fica mais interessante. Porque na academia eu escrevo porque quero dizer uma dada coisa, que acho que posso provar, ou ao menos embasar com algum rigor. Já na literatura eu normalmente escrevo só porque aquilo me intriga e parece poder ter alguma coisa (qual?) a dizer a algumas (muitas?) pessoas.
• A aproximação profissional que você ora tem com a ficção, seja como acadêmico ou tradutor, tira um pouco da “mágica” da literatura?
Ah, não. Isso só serve pra mágica de verdade. Tipo prestidigitação. Eu venho da música. Uma arte que tem técnica até no que tenha de mais abstrato. Pra mim, saber mais, entender melhor, esmiuçar mais só aumenta o prazer proporcionado pelas grandes obras. Pode prejudicar a fruição da arte mais ordinária. Mas isso é problema?
• O curso de Letras pede que os alunos desenvolvam um olhar treinado para destrinchar a ficção. Na hora de revisar seu próprio material, consegue avaliá-lo com certo distanciamento?
Não mesmo.
• Você pratica vários idiomas — inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, latim, galego, romeno, dinamarquês — e sua formação acadêmica é na linguística histórica. Como surgiu essa paixão pelas línguas?
Cara de pau…? Eu gosto de sons diferentes, de conhecer palavras, de fuçar com sintaxe… e mais é sempre melhor. Pra mim, conhecer outros períodos do português, além de uma obrigação profissional (sou professor de linguística histórica) é um prazer enorme. É como ver fotos de infância da pessoa que você ama adulta. Conhecer outros idiomas, então… é só ampliar o leque de possibilidades do encanto. Do fascínio. Ver o teu idioma na comparação com os outros também te ajuda a perceber o que ele tem de mais doido e mais singular. Eu gosto de línguas. Gosto não só de aprender uma língua estrangeira, mas de conhecer a história dela, as variedades, os sotaques, as gírias… É mais diversão. Mas eu acabei dando jeitos de fazer isso conversar com a minha atuação profissional, de diversas maneiras. Sorte.
“A literatura é uma maneira de se distrair dos obstáculos da vida.”
• Qual foi a resposta do público ao livro Sim, eu digo sim: uma visita guiada ao Ulysses de James Joyce? Acha que, com o seu trabalho de divulgação, o pessoal passou a encarar a obra-prima do escritor irlandês de forma diferente?
Isso é uma coisa estranha. Eu às vezes fico com a impressão de que o autor do livro, precisamente por estar envolvido demais, é quem tem num primeiro momento menos chance de ter uma ideia clara dessa “repercussão”. Quem falou comigo, em geral, era meu amigo, meu aluno, conhecido… Mas os poucos comentários de leitores “aleatórios” que chegaram a mim me deixaram bem feliz. A esperança, afinal, é essa. Todo esse “projeto Joyce” tem exatamente essa finalidade. Gerar uma penetração maior de Joyce no nosso cenário literário. Aprofundar a leitura da obra dele e fazer com que mais gente tenha melhores chances de encontrar ali o que tantos já acharam. Mas não sei se sou eu que posso avaliar o eventual “sucesso” do guia nessa tarefa.
• Para fecharmos. No final do conto O grande escritor, de Sobre os canibais, o narrador diz: “Escritores são vis”. Concorda?
Bom… esse conto é uma espécie de meta-paródia de Wallace. E essa afirmação, com uma pitadinha de sal, é dele mesmo. Mas, de novo, não sei se concordo com o personagem e, para piorar, não sei nem mesmo se ele concordaria, a frio, com sua própria afirmação.