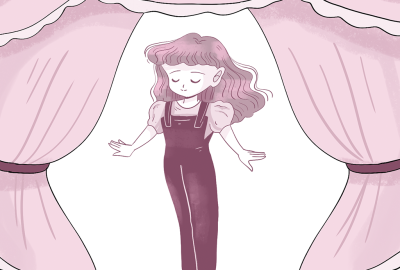As mãos pequenas e desajeitadas evitavam os dedos do menino de cabelo sebento, meio revolto, a escorrer pela testa obtusa. O sol se infiltrava por entre as palmeiras que ocultavam encontros sexuais nas madrugadas. A sombra minguada de dois tristes cavaleiros vagava pela praça de calçamento irregular. Algo estava fora do lugar, deslocado naquela cidade a ser descoberta no início dos anos 1980. Crianças em fila com os olhos atentos aos supostos mistérios escondidos entre milhares de páginas.
C. era somente uma pálida aquarela, em tons cinza, para os olhos de um menino daltônico. A mãe, de dedos nodosos e estropiados pelo trabalho na terra, me estendera uma nota de dinheiro. Atendia feito um animal obediente e indefeso à exigência da professora: “Na próxima semana, vamos a uma feira de livros. Tragam dinheiro para comprar um livro”. O pavor se infiltrou por todos os lados. Aquela mulher amorosa — minha professora — desferira um pedido repleto de mistério, revestido nas palavras dinheiro e livro. Objetos estranhos num mundo em construção, após a chegada da família de retirantes à cidade grande. Conhecíamos bois, enxadas, machados, porcos a chafurdar no decrépito chiqueiro, plantações ralas de milho. Agora, livros. Em casa, apenas um solitário exemplar tentava nos salvar do inferno: a Bíblia, no improvisado altar doméstico, era lida com a pontas dos dedos pela mãe. Catava letras com a mesma devoção com que caçava piolhos na cabeça dos filhos. Tentava uma leve carícia na face de Deus. É possível alcançar a salvação com a ponta dos dedos?
Era uma estranha missão: comprar um livro. Chegamos cedo à praça de chafariz imundo, no centro de C., onde crianças chapinhavam o corpo magrelo. Descemos do ônibus em alvoroço. Logo, contidos pelo rigor professoral. Imagine o desespero de se perder alguma daquelas crianças? Em fila — formigas curiosas em direção ao abismo —, iniciamos nossa odisseia sem ao menos desconfiar de que Homero jamais velaria nosso sono, amparados pela professora que tentava, literalmente, nos colocar na linha. Um a um, fomos forçados a agarrar a mão de um colega. Na insônia infantil, eu sonhava com a delicadeza da pele de M. — a loirinha que insistia em cavoucar o nariz e levar o dedo à boca com um charme aterrador. Restou-me, no entanto, o menino magro de andar torto, que invariavelmente dormitava em sala de aula e nunca aprendeu a ler frases inteiras.
“Então, leia, meu filho.” A mãe não sabia colocar vírgulas. Eu as coloco agora na ilusão de pagar uma dívida ancestral. Mas vírgulas não nos salvam de nada. Ela, a mãe, me esperava na porta de casa. Passava do meio-dia. O sol bem no centro do mundo. Por acaso, estava ali. A cena da mãe esperando o filho diante de casa não pertencia àquele roteiro. Não tínhamos roteiro. Éramos guiados pela sorte. Temo que a mão de Deus não nos dirigia, apesar da ferrenha e inabalável crença da mãe. Já nascemos extraviados. Acreditávamos mais na sorte. A curta frase (“Então, leia, meu filho.”) saíra da boca já em ruína. Aos poucos, a boca da mãe começou a murchar, a perder o viço. A queda de um dente após o outro transformou a gengiva em terra devastada, improdutiva.
A desilusão vem abraçada ao vazio. Diante das barracas — improvisadas e míseras livrarias — a nota de dinheiro espremida entre os dedos não conseguia comprar nenhum livro. Estava em território desconhecido — um soldado ao relento a aguardar o resgate. Nenhum livro. Nenhum livro. Duas palavras se repetiam na vergonha infantil. Meus amigos sorriam felizes com histórias que carregavam nas mãos. A pergunta (teria ironia nos lábios?) de M. — aquela que sacolejava o sangue no meu corpo no impulso das grandes paixões infantis — me sufocava: “Não vai comprar nenhum livro?”. A resposta era apenas um grunhido sufocado, um pássaro atingido em pleno voo à espera do seu algoz: “Não gostei de nenhum”.
A mãe me estendeu o dinheiro. Uma nota meio esverdeada, se minha daltônica memória não me trapaceia mais uma vez. Uma mísera nota. “Compre um livro.” A ordem — sempre em frases curtas — tinha de ser obedecida. Mas por que comprar um livro se eles nunca habitaram nossa casa? A mãe fora a escola durante pouco mais de um ano. Sabia quase nada da palavra escrita. O pai também carregava um boletim escolar com nenhum dez. Duas pessoas marcadas pela distância absurda da escola nos grotões do interior de Santa Catarina. Dali, nos arrancaram em direção a C., em cujo asfalto era impossível cravar a enxada. Na escola pública, os filhos tentávamos quebrar a dinastia familiar da ignorância.
Voltei para casa com um insignificante livro de poucas páginas, pequeno, desgastado nas bordas. O único possível encontrado no cesto no final da feira. Quase sem querer, deparei com a obscena placa “tantos livros por tão pouco”. Mergulhei feito um desesperado em busca de salvação. Enfiei todas as unhas disponíveis por entre aqueles seres estranhos. Voltei à tona com o livro. Um capitão Ahab agarrado a uma esquálida Moby Dick. O livro que me acompanha desde sempre, apesar de ter se perdido entre uma mudança e outra.
“Então, leia, meu filho.” A longínqua frase da mãe salta o tempo todo das estantes da minha biblioteca doméstica, composta por milhares de livros. Feito o grito de um fantasma, segue-me pelas ruas em direção à Biblioteca Pública do Paraná, meu local de trabalho, a poucas quadras da praça naquele passeio que teima em nunca terminar.
NOTA
Após um longo período sem escrever devido a uma doença na ponta dos dedos, o editor Rogério Pereira volta a publicar a coluna Sujeito oculto.