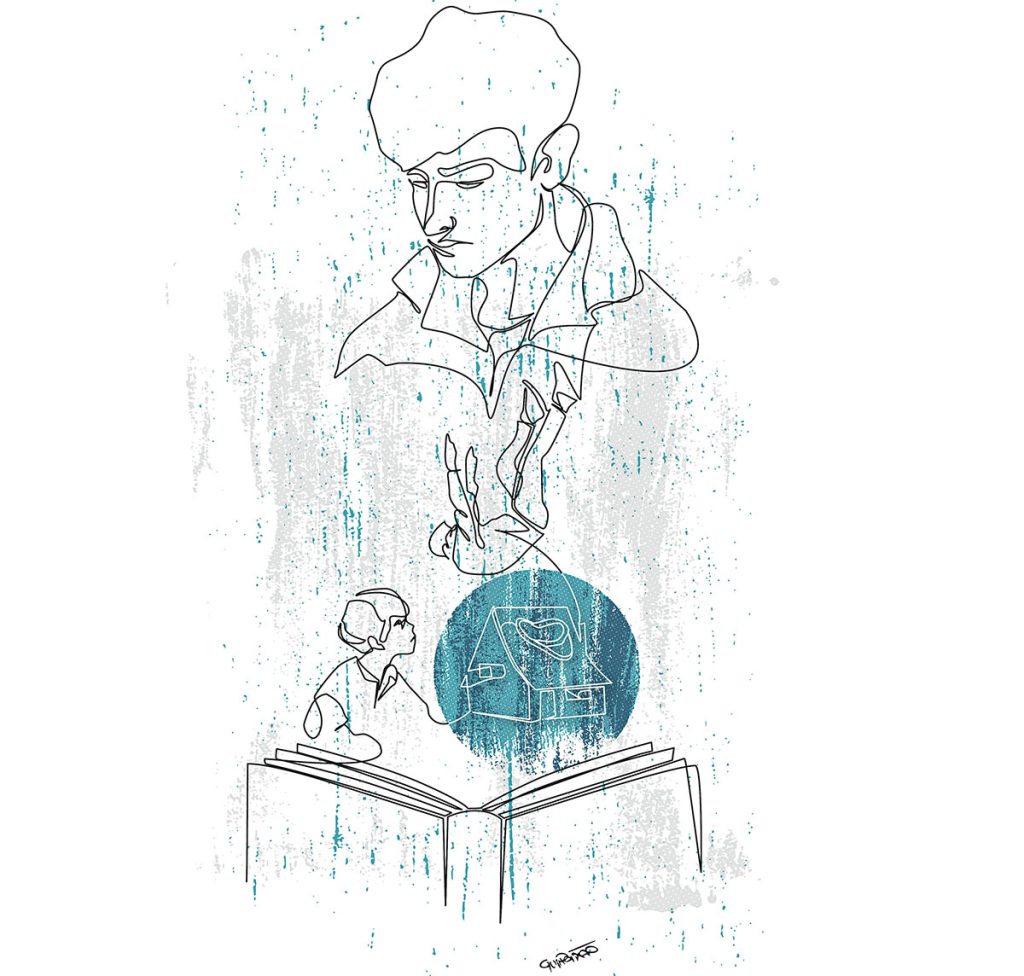Não conheço Oslo. Deve ser uma cidade bonita — a boca delicada sussurra ao meu ouvido na semiescuridão do cinema. O contorno do rosto projeta-se na sala quase vazia. Há um tênue brilho, uma luz, ao meu redor. É ela. Um homem sozinho remexe o pacote de pipoca. O arrulhar de papel espraia-se com facilidade. O filme se passa em Oslo. Numa fagulha de ingênuo improviso, digo que o nome da cidade vem de solo, num jogo infantil com as sílabas. Por que comprar um dicionário? Meu filho — um menino a abandonar serelepe a infância — não entende ainda que cada palavra esconde um segredo inescrutável. Na impossibilidade da resposta concreta, teço um comentário trivial. É um dicionário analógico da língua portuguesa, não de simples e complexos significados. Uma espécie de caça ao tesouro. Nada é simples quando estamos diante de uma palavra escrita. Estamos, o casal, envoltos na intimidade possível do cinema. Arrebenta a imagem na tela. Oslo escancara-se: deve ser uma cidade bonita. Sim, digo-lhe, mas não tenho certeza de que seja bonita. Sei que tem um rio. Deve ser fria, quieta, solitária. Lembro do dicionário: jogo as palavras e as rodopio — oslo, solo, oslo, solo: sozinho, solitário, solidão. Portanto, Oslo é a cidade dos solitários.
Nada faz o menor sentido. Mas, por uma delicada coincidência, na tela os personagens comprovam a minha canhestra teoria: somos, ao final, cada um a sua maneira, todos solitários. O protagonista morre de câncer com pouco mais de quarenta anos. A mulher tem um aborto espontâneo no banho. A água vermelha a escorrer pelo ralo em Oslo. A solidão é universal.
São muitas as possibilidades diante do emaranhado de palavras: um só, um único, nenhum outro, estar só, isolado, apartado, solitário, sozinho, abandonado, esquecido dos homens, perdido, desamparado…
Da telha, os respingos grossos da chuva arruínam as tábuas desbotadas. A casa ainda não é velha. Mas é questão de tempo. A fragilidade da madeira logo tombará diante da ferocidade dos cupins e das intempéries. A água despenca com raiva do céu. Estou sentado sobre os gravetos — local de cortar lenha para o fogão. O machado de fio incerto, encostado à cerca. Um dia, o pai, talvez com resquícios de cachaça ainda a rondar o corpo, jogou displicente o fio contra um pedaço de madeira. À distância, vejo apenas as mãos rudes daquele homem manchadas de sangue a verter da testa, palavrões a borbulhar da boca. Em inesperada catapulta, o graveto voou de encontro ao rosto enfurecido do pai. Não senti pena, nem remorso, ao pensar que uma lenha nos vingava em uma batalha muda.
Foi apenas um tapa — a mão desgovernada e desgraçadamente volumosa, os dedos grossos, a palma áspera, de encontro ao meu rosto de menino. O barulho seco entre os gritos da mãe.
Não lembro da besteira, da traquinagem cometida, mas para escapar da ira de uma mãe de poucos afetos, corri porta afora feito um rato assustado. Nem imaginava que Oslo existisse e ficava bem longe lá de casa. Quando chegamos a C., no início daqueles anos 1980, éramos apenas uma possibilidade de família, saída de uma roça hostil e miserável. O tempo comprovou que, mesmo entre prédios e carros, quase tudo deu errado.
Não era um presente — não tínhamos direito a estas regalias — a cobrir os pés gelados no inverno. O chinelo de pano até que confortável fora feito com certo zelo pela mãe na velha máquina Singer, cujo barulho harmônico preenchia o incômodo silêncio de nossas bocas. Por que não conversávamos sobre algo? Nem mesmo futilidades nos eram possíveis. O silêncio dos afetos cria silêncios intransponíveis.
Balofo, o chinelo transformava nossos pés em espécies de pães caseiros. Sempre ajudei a mãe a sovar a massa, a espremê-la no cilindro. E, depois, odiava com todas as forças aqueles pães com margarina. Por sorte não havia neve: seríamos facilmente confundidos com um esquálido Iéti de pés desproporcionais. No piso de tábuas enceradas, deslizávamos numa brincadeira que acabava com os berros da mãe: vão estragar o chinelo. O tecido ordinário ganhava contornos de eternidade. (A vida não suporta a eternidade. A frase solitária está anotada em uma caderneta velha, esquecida numa gaveta entre recortes de jornais. Sem data, a lembrança da anotação se esfarela (por que escrevi A vida não suporta a eternidade?), mas teima em me acompanhar. Penso nessas seis palavras com certa frequência e sempre me remetem a uma infância que insiste em arrastar os grilhões atrás de mim.) Era como se cometêssemos uma heresia contra a mãe e sua abnegada forma de nos cuidar — mas queríamos apenas brincar pela casa. Desafiar a eternidade de um chinelo cujo tempo de vida era desprezível.
Então, veio o tapa próximo ao ouvido. Um solapaço (um neologismo doméstico) na cara. O zunido penetrou o meu corpo magro de menino. Esmerilho a acarinhar o arame. O choro preso entre os dentes cariados, a corrida a carregar um ódio desproporcional. Nos pés, o chinelo balofo — a arte da mãe prestes a se transformar em vingança.
Com método e raiva, transformei os gravetos em adagas afiadas. Eviscerei com facilidade o par de chinelos. As garras dos dedos arrancaram da terra o barro. Enchi a pança dos chinelos até não caber um só grão do barro do qual, segundo a crença da mãe, todos nós viemos, moldados pela misericordiosa mão divina. Os nossos moldes, possivelmente, vieram muito imperfeitos.
Com algum esforço — a chuva a socar meu rosto —, joguei primeiro o pé esquerdo no telhado. Depois, o direito. Duas bolas de pano e barro transformaram-se os chinelos da mãe. Já não me pertenciam mais. Era como se estivesse atirando ao relento da chuva, que logo despedaçaria os pés do Iéti, o pouco que a mãe conseguia nos entregar. Quando a mãe morreu, numa noite de agonia provocada pelo câncer, ao lado da cama havia um solitário chinelo de dedos muito sem graça: magro e de borracha.
Na saída do cinema, a escada rolante está inerte à espera de pés que a acionem. Ao toque no primeiro degrau, movimenta-se, serpenteia devagar. Subimos felizes pelo filme e pela mútua companhia que tenta ignorar a solidão. Incomoda-me apenas a sensação que os chinelos molhados me causam nos pés. E a dúvida de que Oslo seja uma cidade bonita.