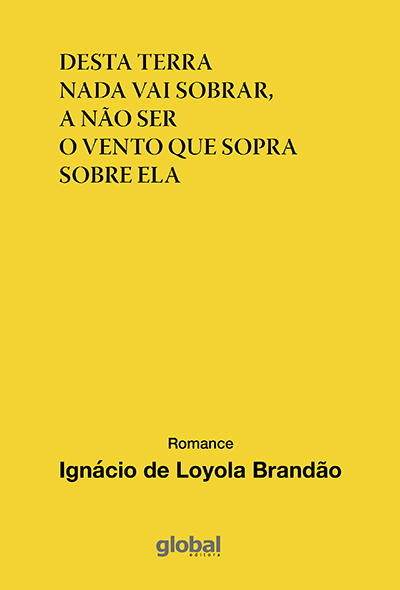Há uma tendência mundial de narrativas distópicas, fermentadas nos temores causados pelas rápidas alterações climáticas, que têm amedrontado os contemporâneos, algo que nos devolve à Guerra Fria, quando por pouco não ocorreu uma hecatombe nuclear em função da disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Talvez o grande livro recente nesta linhagem seja A estrada (2006), de Cormac McCarthy, em que um pai e um filho enfrentam os canibais para chegar a uma área segura e assim recomeçar a vida. No cinema, o fim mundo em um futuro próximo também é algo muito presente, como na série The walking dead e no filme Bird box, o que criou um imaginário de recepção para este tipo de história.
Ignácio de Loyola Brandão sempre esteve identificado com esta linhagem. Nos anos 1970, quando o pânico nuclear unia a intelectualidade e o Brasil passava pela ditadura militar, Loyola ganhou projeção internacional como seu Zero, publicado primeiro na Itália (1974), pela Feltrinelli, em tradução de Antonio Tabucchi, obra que seria censurada no Brasil. Em 1981, nos estertores da ditadura, sai outro romance distópico, Não verás país nenhum. Unindo estas duas obras, a percepção de que esta realidade extrema só pode ser representada pela fragmentação narrativa e pela coleção de frases retiradas dos meios de comunicação.
Não é por acaso que o novo romance de Loyola completa o que poderíamos chamar de trilogia apocalítica em um momento em que o país vive uma grande crise política, social e econômica. Dessa forma, seria correto pensar que Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela dá respostas tanto para o momento de descrença mundial quanto para a crise brasileira, aguçada com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. É, assim, um romance visceralmente nacional, mas com uma conexão internacional pela onda das distopias.
Antes montado do que narrado, este livro traz capítulos que se iniciam com uma epígrafe, retirada de vários lugares, desde músicas a artigos de jornal, e que servem como tema do que vai aparecer na sequência. Neste universo pós-humano, não há a figura do narrador. O romance é organizado como se fosse um big brother em que assistimos ao que acontece nos cenários mais remotos através de câmeras, que filmam tudo e colocam imediatamente na internet, numa alegoria à onipresença das redes sociais, e a chips instalados nas pessoas que vigiam os seus pensamentos. Ninguém mais escapa aos registros contínuos. Nesta mecânica, as cenas são episódios captados pelo sistema de controle.
Loyola cria uma narrativa que se assume como imagem gravada. A fragmentação, portanto, será a matéria estrutural do romance, que cresce caoticamente para criar no fruidor o sentido de desorientação neste futuro em que todos estão perdidos, desmemoriados e vigiados. Neste tempo distante e próximo, o país é um caos administrado por presidentes provisórios que se sucedem e por corruptos que usam tornozeleira eletrônica. Esta instabilidade das instituições cria uma existência fluída, de multidões que não se reconhecem mais em um país tornado abstração geopolítica. Os personagens se perguntam a toda hora se estão no Brasil.
Usando alegorias e referências diretas a fatos da história recentíssima, Loyola escreveu um romance de busca, focado em um casal que rompe o relacionamento, aumentando o grau de dispersão por uma realidade confusa. Enquanto acompanhamos a separação de Felipe e Clara e depois a procura da amada que Felipe empreende, as câmeras vão revelando de forma exaustiva este outro agora, que nada mais é do que um presente que se fez absurdo. “Há quarenta anos foram fechados os institutos de pesquisa”, como fica dito no capítulo O presidente com Síndrome de Ulmer, em uma referência aos cortes na pesquisa.
Para dar conta disso, o autor se vale ao longo de todo o romance da enumeração. Pode ser apenas a enumeração de palavras: “Te chamam de comunista, de homofóbico, de gay, filhodaputa, ateu, filho de satanás, machista, defensor de negros, amante de sapatas, trans” (p. 25). Ao interromper a narração com estas listas, o autor fragmenta ainda mais o texto. Pode ser de cenas, que se sucedem sem uma relação de causa e efeito com a busca de Felipe, e que serve também para sabotar a narrativa e criar o ambiente caótico que o livro quer comunicar sensorialmente ao leitor.
Dentre os vários eixos deste romance polifônico, há de se destacar um. No mundo extremamente computadorizado, de alta tecnologia, de controle total, há um movimento de volta ao interior. Clara retorna à sua cidade natal, Morgado de Mateus, para se reencontrar com seus fantasmas (foi vítima de violência sexual na juventude) e também para o convívio com a irmã. Este retorno é uma forma de segurar o movimento de desumanização gerado pela tecnologia a serviço de políticos corruptos e controladores. Nesta passagem, há a única cena bucólica do romance. As duas irmãs vão colher mexerica para fazer uma velha receita de geleia. É o campo como antídoto para a tecnologia opressora. Isso permite que se pense este romance como leitura futurista de A cidade e as serras, de Eça de Queirós.
E este paralelo não está fora do conjunto de referências do romance. A cidade fictícia que o autor criou é uma homenagem à Casa de Mateus, no distrito de Vila Real. Um dos exemplares da edição monumental de Os Lusíadas, feita pelo quinto morgado da casa, estaria com um político da cidade brasileira. A Portugal profunda funciona como um equivalente pátrio deste outro Brasil.
No final, com a completa dissolução do tempo, há um encontro impossível como Pedro Álvares Cabral, recém-chegado para tomar posse do Brasil, numa sugestão de que depois do fim do país é hora de começar a construí-lo desde o início. A presença do navegador português é assim um vetor metafórico para indicar um novo começo, que também está representado pela vida agrícola que Clara assume na cena-chave do romance.
Publicado em 2018, Desta terra nada vai sobrar… não faz referência direta ao presidente Jair Bolsonaro, embora trabalhe com os tumultos políticos que permitiram a sua desastrosa assunção ao cargo. Mas esta distopia pode ser lida como um retrato exagerado do caos vivido no Brasil, mesmo quando temos consciência de que o autor se coloca contra um país “divido entre os Nós e os Eles” pelas militâncias. É um romance que eleva ao absurdo a existência de zumbis e robôs ideológicos entre nós como uma forma de alerta, lutando assim contra o enlouquecimento coletivo de uma nação.