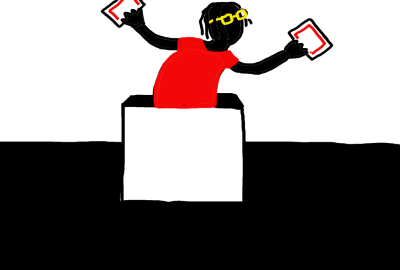Assim que entro no prédio, o porteiro me diz: “Tem um senhor que o espera. Está no salão de festas. Parece nervoso”. Não estou esperando por ninguém. Foi um dia cansativo. Agradeço e subo direto para casa.
Assim que abro a porta, encontro um bilhete no chão. “Precisamos conversar. Não tem pressa, mas é urgente”. Se não há pressa, como pode haver urgência? É uma mensagem do velho. Só pode ser. Mas, se ele me espera no salão de festas, como subiu até o décimo nono andar?
Jogo-me no sofá. Arranco a máscara. Respiro. Preciso pensar, mas não consigo pensar. Continuo em isolamento quase total. Hoje só saí de casa porque tinha médico. Voltei correndo. E agora esse velho. Nem a máscara dele me protege.
Ligo para a portaria. “Ele ainda está aí?” O porteiro gagueja. Por algum motivo, não consegue falar. Por fim, balbucia: “Ele continua aqui. Agora está de pé à minha frente”. Depois, em voz ainda mais baixa, comenta: “O senhor tome cuidado”. Desliga.
Também ao porteiro, o velho diz que não tem pressa, pressa alguma, que pode esperar o tempo que for preciso. Mas, ainda assim, insiste que seu caso é urgente, é inadiável. Precisa falar comigo ainda hoje.
Volto a ler o bilhete, em busca de algum sinal. Uma pista. As letras são tortas. O papel, amarelado. Ao dobrá-lo, vejo que, do outro lado, como uma assinatura, está escrito: “Meu nome não interessa. Nada interessa mais”.
Peço ao porteiro que o vigie e que me mantenha informado. Que disfarce, mas não tire os olhos do velho. Não sei o que pode estar tramando. Devo imaginar coisas. A pandemia é uma gosma. A cada dia, as coisas parecem mais embaralhadas.
Preciso me livrar do velho. A melhor maneira de fazer isso é mandá-lo subir. Ouvir logo o que tem a dizer. Não prolongar a conversa. E despachá-lo em seguida.
Faço-o entrar. Sem pedir licença, abre sua maleta sobre o balcão da sala. Está cheia de relógios. Relógios de pulso, de corrente, despertadores, relógios digitais. Agora entendo que é só um vendedor. Mas por que a urgência?
“O senhor observe: estão todos parados.” Diz isso e se detém também, como uma estátua que, infeliz, espera por uma resposta que jamais receberá. Não sei o que dizer, mas preciso dizer alguma coisa. Preciso me livrar do velho.
Por que diabos eu o fiz entrar? Por que fraquejei? A apatia também é uma peste.
“O senhor note: todos pararam ao mesmo tempo. Marcam horas diferentes porque não estavam sincronizados. Mas nenhum deles funciona mais.”
E eu com isso? Diante da maleta aberta, agora sou eu quem congelo. Esforço-me: “O que o senhor espera de mim?” Não quero comprar nada. Muito menos, relógios enguiçados. Por que eu o fiz subir?
Veste um terno solene, embora amassado. Uma gravata amarela. Tem olheiras fundas, rugas empoeiradas na testa, uma careca gordurosa. É só um velho. Eu também sou um velho, mas não ando por aí invadindo a casa dos outros.
“O senhor não está entendendo”, ele diz. “Não sou um vendedor de relógios.” Mas o que será então? Um contrabandista? Um ladrão? Se não vende relógios, por que me mostra os relógios? “É que me disseram que talvez o senhor possa me ajudar.”
Peço que se explique. Pede para sentar. Em má hora, aponto o sofá da sala. Bufa, como um cachorro. Um cachorro velho e sem dentes. Um cachorro cansado. “Minha mulher sempre lê seus artigos. Ela diz que nós nos parecemos muito.”
Agora essa. Um admirador? Um duplo? Indiferente a meu estupor, o velho esfrega os olhos. Está esgotado. Faltam-lhe forças para falar. A angústia escorre pelo rosto. Uma angústia úmida, que se assemelha ao suor, mas não é suor, é desespero.
Fraquejo e me sento a seu lado. “Minha mulher me disse que também o senhor percebe que o tempo parou.”
Não posso negar que o mundo estagnou. Já estava assim, mas com a pandemia a coisa ficou mais grave. E depois, a política, o caos. Tudo acontece, mas nada acontece. Olhamos em volta e só vemos a tristeza. O país definha. Morre.
Mas, em torno de tanta desgraça, em vez da reação, a pasmaceira. No lugar da luta, o tédio. Nada se mexe. E, quando as coisas se mexem, é sempre para pior.
Peço que me diga logo o que quer, pois tenho pressa. “Não quero nada. Já encontrei o que quero. Alguém que me compreende.” Agora mais essa.
Observo a pasta aberta, os relógios parados que dela se derramam, sinto o cheiro do couro. Um cheiro azedo, de podridão. Se nada mais se move, se tudo se esgotou, por que a urgência? Por que ele disse que não tem pressa, mas é urgente?
“Minha mulher me garantiu que o senhor me compreenderia. Que só o senhor seria capaz disso. Pois nem ela mesma me compreende.”
Não sei o que dizer. Nada tenho a dizer. Por que não o despacho? Por que o tolero? Devo admitir que alguma coisa ele me traz. Não sei o que ele me traz, mas me traz. Não é urgente, mas é urgente. Merda: o velho me fisgou.
Começo a entender. Não sei o que começo a entender, mas começo a entender. Agora acho que percebo: tudo isso é a imobilidade. A estagnação se parece com um movimento, mas é só um atoleiro. Os relógios existem para marcar as horas, mas não andam.
Ando esgotado também. Quem não está? Todo o caos que nos rodeia. Toda a desgraça, todo o ódio, todo o desvario. Quem suporta? Não posso negar que o velho tem razão. Sim, eu o compreendo. Não serve para nada, não leva a lugar algum, mas eu o compreendo.
Ofereço um café. “Prefiro um vinho”, diz, sem cerimônia. Sirvo o vinho. Decido tomar um cálice também. Ainda tenho que trabalhar, o álcool pode me dar sono. Mas, para suportar a pasmaceira, só o vinho. Só com ele posso sincronizar com o que vivo.
“Bem, acho que vou indo”, o velho diz de repente. Levanta-se, arruma os relógios dentro da maleta, fecha a maleta. Levanto-me e o encaro. Alguma coisa ele me trouxe, mas o quê? Não foram os relógios. Não comprei nada. Também não foi o que ele me disse.
Foi, talvez, o que ele foi incapaz de dizer. Trouxe o tédio, que se parece com o assombro. Pegou o elevador sem se despedir. Nem mesmo um aperto de mão. Nada. Terá mesmo vindo?
Agora, tudo me parece ainda mais parado. Mais estagnado. Tudo está mais vazio e horrível. Não digo desesperador, porque a imobilidade congela também o desespero. Aflitivo. Talvez isso. Só uma grande tristeza.