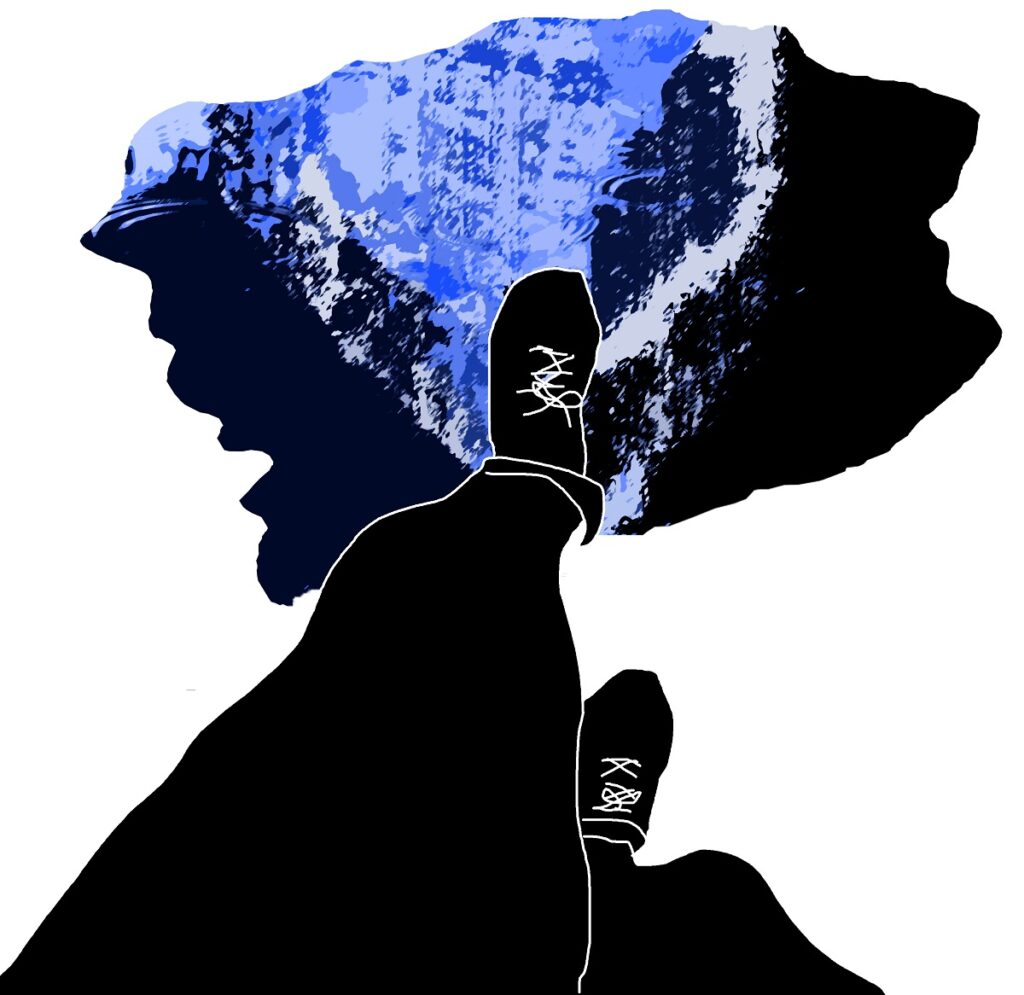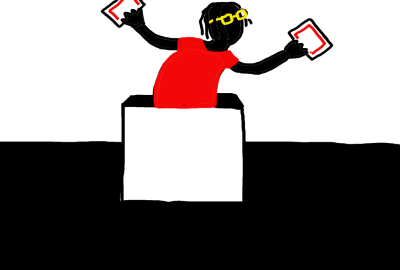Capítulo 1
Essa poça d’água me chamou à atenção. Ela refletia os prédios da praça Osório como se fossem outros edifícios. Não aqueles que se veem quando ando sem o guarda-chuva de quase todos os dias. Quando tem sol, Curitiba se mostra para cima, até a ponta do céu. Dessa forma, sempre reconheço os mesmos lugares a cada hora que passo por ali. Se fico muitos dias sem repetir o caminho, o que de certa forma é muito difícil, tento me surpreender com eles. Às vezes funciona. Mas quando todos estão se desviando da chuva, tenho a impressão de que a cidade só existe do joelho para baixo. Nesse momento, me ocorreu uma sensação de estranhamento ao descobrir as imagens repetidas de forma inversa nessa poça d’água. Uma espécie de cidade invisível que só me dei conta de que existia quando li as histórias de Italo Calvino. Talvez eu não saiba que a minha cidade invisível também exista, mas sim, ela está em todos os lugares que não se vê. Nada mais óbvio. Hoje, diante desse reflexo estampado no chão, entendi que existem muitas outras cidades dentro dela mesma. Muitas outras Curitibas que respiram ao redor. Por aí. Nas poças d’água. Talvez agora faça mais sentido o que ouvi de Dalton Trevisan naquele dia em frente ao portão da Ubaldino: Pedro, você precisa encontrar a sua voz, a sua Curitiba. As vozes são muitas, mas é preciso escutar umazinha que vem desses encontros. São tantas as Curitibas. São tantas as vozes. Os prédios vistos nessa poça d’água estavam opacos, mas inteiros. Pareciam passar pelo lusco-fusco, mas ainda dia. Cinza. Úmido. Quem morava ali? Será que as mesmas pessoas que vivem nos prédios de cima são as pessoas que moram nos invertidos? Ou são pessoas invisíveis? Ser invisível em uma cidade conhecida é uma necessidade de tantos. Caminhar por uma praça em que se conhece cada pedra pisada pelas pessoas, cada árvore que se esconde para não serem lembradas, e ser reconhecido como o professor de antes, como o cabeludo da banda de Heavy Metal ou como aquele desconhecido que nunca colocou uma canção na rádio, pode ser sufocante. Ser invisível é uma arte. Costumo ir para uma cidade em que não conheço nenhuma pedra, nenhuma árvore, nenhum caminho. Ser invisível em uma cidade invisível. Poder esquecer qual idioma se fala, como se dirigir às pessoas, apenas andar pelas ruas, apenas entrar nas lanchonetes e pedir um x-bacon, apenas procurar o café mais próximo para ler um artigo no jornal sem entender nenhuma palavra estampada nas fotos, poder andar sem o guarda-chuva, sem os sapatos, sem a camisa e, ainda assim, ninguém olhar para você (justamente porque você não está olhando para ninguém), parar diante de uma casa antiga escondida pela pátina do tempo (usando novamente uma frase do Dalton, que prefere a pátina do tempo à tinta na parede) e perceber que muito se modificou, mas sempre tem o ar do passado que está nas entrelinhas, gritar na rua como se fosse um fiel dizendo que Jesus voltará ou ainda dizendo que o fim do mundo está próximo, fazer de conta de que ainda se é criança e parar diante da loja de brinquedos sem titubear e sair de lá com uma caixa de “Scotland Yard” debaixo do braço para ver se ainda se lembra de todos os casos e do amigo com quem jogava por horas, tentando esconder as pistas em palavras inventadas — (nesse sentido, puxo sempre na memória aquele idioma que só eu sabia): inventar uma vida, inventar uma história para ser invisível em uma cidade invisível. Isso tudo é uma arte. Passar alguns dias nesse limbo, se escondendo ou tentando se encontrar. Italo Calvino andava assim por Paris. Antonio Tabucchi por Portugal. A pátria deles era o italiano. Mas eram invisíveis. Não se sabia por onde. Apenas eram invisíveis. Essa poça d’água na minha frente era, de certa forma, onde eu poderia ser invisível sem ao menos sair de Curitiba. Olhar a cidade de fora, sem fim, apenas com continuação. Da janela do trem que cruza a Suíça de ponta a ponta, as cidades apenas se alongam e se continuam entre elas. Difícil saber quando se sai de uma e entra em outra, quando uma termina para a outra começar. São as mesmas. Mas são absolutamente diferentes, por mais antagônico que isso possa parecer. Não pude evitar o desconforto em não saber onde estava e com quem falava. Sentado em um banco desse trem, sem a noção para onde estava indo exatamente, ainda que vendo as casas passando pela janela, paradas em um não-lugar. Depois de alguns minutos de viagem, o fiscal de bilhetes me pediu para ver a passagem e o documento. Minha resposta foi apenas intuitiva, tirei da pasta que levava comigo todos os papéis que colecionei nesses dias de viagem. Ele encontrou o que queria e passou para o próximo. Não sei se fechei os olhos e acordei em outro trem, mas em algum momento apareceu outro fiscal de bilhetes e balbuciou em outro idioma alguma coisa que me pareceu ser o mesmo pedido de antes. Novamente deu certo de encontrar o que queria. Eu estava no mesmo trem? As casas continuavam as mesmas, apenas um pouco mais brancas pela neve que caía. Devo ter dormido mais um pouco, porque um terceiro fiscal apareceu em outro idioma que não consegui identificar e me pediu, aparentemente, os mesmos papéis. Não sabia onde estava e em qual língua falava. A cada túnel em que o trem passava, novas palavras e novos sons saíam das bocas das pessoas. Até o momento em que eu acreditava que estava entendendo tudo o que eles estavam falando. A minha invisibilidade era ainda maior. Eu só não conseguia falar. Não podia. Todas essas lembranças cabiam dentro dessa poça d’água que refletia os prédios opacos nessa Curitiba invisível. Exatamente no momento em que me dei conta de que ela existia e que estava ali se exibindo na minha frente, na praça Osório. As janelas desses prédios estavam fechadas (talvez porque ainda chovesse?), mas pude ver cada um de seus moradores sentados no sofá da sala. Ou deitados em suas camas. Parados. Sempre tenho a sensação de que é preciso inventar outra cidade cada vez que nos damos conta de que a nossa já era. Acionar um botão de cima do chafariz e começar novamente. Talvez seja exatamente isso que esse reflexo na poça d’água estava me dizendo: inventar outra cidade. Outra Curitiba. Mas como é difícil! Do outro lado da rua, um homem caminha apressado sem se interessar por onde pisa. Carrega seu guarda-chuva austero diante de todos e não olha para os lados. Apenas vem. Tenho a sensação de que é alguém que conheço, mas não tenho muita certeza, ele traz consigo alguns livros debaixo do braço. Quando passa pela poça d’água, os prédios se desmancham de forma desorganizada. A água é empurrada para os lados deixando apenas um pedaço do chão à mostra, mas logo retorna e desconecta os lados. Esse movimento que as ondas fazem para todos os lados de ir e vir me traz para a realidade e me faz ir adiante. O reflexo caminha comigo para fora da praça Osório.