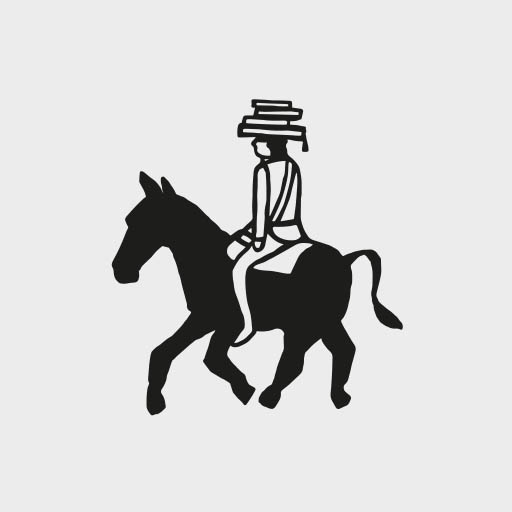É muito fácil começar uma guerra, o difícil é terminá-la. Vitória é uma ilusão. Para muitos, a guerra nunca termina. Dois livros lançados no Brasil em 2021, Kaputt e Os amnésicos, provam que é doloroso mas necessário descobrir se a Segunda Guerra Mundial terminou em cada família.
Kaputt, de Curzio Malaparte, foi publicado na Itália em 1944. É o relato semificcional de Malaparte, correspondente de guerra — credenciado por Mussolini junto ao governo nazista — que cobriu os eventos no Norte e no Leste da Europa entre 1941 e 43. O outro livro, Os amnésicos, da jornalista Géraldine Schwarz, foi lançado na França em 2017. Schwarz, de mãe francesa e pai alemão, faz uma tentativa de definir a responsabilidade de seus avós durante o nazismo. Malaparte pertence à mesma geração dos avós de Schwarz, o que torna a leitura de ambos ainda mais instigante. O que diria essa jovem autora francesa do papel desempenhado pelo autor italiano?
Curzio Malaparte era o pseudônimo de Kurt Erich Suckert, nascido na Itália em 1898, de pai alemão e mãe italiana. Logo após o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, começou a trabalhar como jornalista. Tornou-se escritor e cineasta, mas foi como correspondente de guerra que produziu os dois livros que o consagraram, Kaputt e A pele (1949). Este último também semificcional, sobre o período pós-Guerra na Nápoles da miséria e depravação. A população tentava sobreviver com a ajuda dos soldados americanos que, apesar das boas intenções, eram dominados pela ingenuidade e inexperiência.
Ingenuidade nunca foi uma marca de Malaparte. Sempre soube se aproximar do vencedor durante a vitória e rapidamente afastar-se dele na derrota. Não rápido o suficiente para enganar a todos em todos os tempos, mas funcionou bem por um bom período. Começou sua carreira política como fascista convicto. Desde 1920 já escrevia artigos em admiração a Mussolini — e escrevia bem —, o que lhe rendeu um assento bem próximo ao Duce e à sua família. O enaltecimento foi crescendo até surgir a prova de fogo da lealdade.
Em junho de 1924, com a benção de Mussolini, uma gangue de squadristi, camisas negras, raptou e assassinou Giacomo Matteotti, corajoso político de oposição. Malaparte era notoriamente próximo a Amerigo Dumini, um dos squadristi; compareceu ao tribunal duas vezes para defender o amigo sob a alegação de que Dumini pretendia apenas “assustar” Matteotti. Se até então havia quem duvidasse da verdadeira dimensão do fascismo, esse foi o ponto de virada — e a imagem de Malaparte virou junto. A partir daí, foi amado e odiado, nem sempre em partes iguais.
Em 1929, foi credenciado por Mussolini como correspondente no Kremlin. Ao retornar, escreveu artigos conforme o esperado, criticando o regime, mas não Stalin. Somente 15 anos mais tarde, já em pleno movimento de aconchego ao comunismo na Itália, compôs o que chamou de O baile do Kremlin, naturalmente laudatório, mas nunca conseguiu editá-lo. Repintou todas as fachadas. Rebatizou-se como defensor da igualdade comunista, rebelde antifascista intrépido, perseguido revelador de verdades.
Em 1943, apresentou-se ao alto comando do exército americano como paladino da democracia e da misericórdia católica, o que lhe rendeu três anos como oficial de liaison militar. Após andar como um fascista, falar como um fascista, aplaudir o totalitarismo como um fascista, revestiu-se de um zelo libertário que ia além da cautela. Fez um grande esforço para instalar-se inclusive entre os artistas de vanguarda que ele havia ajudado a condenar, mas sem sucesso.
Após a guerra, entrou para o partido comunista italiano e voltou-se ao maoísmo. Escreveu peças teatrais baseadas na vida e obra de Marx e Proust e dirigiu filmes. Continuou a escrever para jornais, agora referindo-se ao comportamento dos jovens no pós-guerra em tons homofóbicos. Mais uma vez emprestava sua pena a uma tirania; continuava a demarcar seu espaço na mesa mais alta do poder do Estado.
Mesmo sabendo de tudo isso, permanece a pergunta milionária: a moral ou a estética? Suas crenças eram subservientes à busca obsessiva da melhor expressão artística? Sua decisão moral era que a estética está acima de tudo? E qual é a nossa decisão, o que vale mais, as cores incontestáveis de sua obra ou as do camaleão político que ele foi? Por que ler Kaputt?
Ponto e contraponto
O livro é dividido em seis partes nomeadas como animais (cavalos, ratos, cães, pássaros, renas, moscas). Alguns referem-se a algozes, outros a vítimas, mas todos são episódios. Não há uma trama propriamente dita. A forma é perfeita para o conteúdo, tratando-se de uma guerra que foi tudo, menos coesa.
O narrador observa os locais em que é enviado e as pessoas que vai conhecendo. Há um ciclo em cada episódio: ele se encontra com um nobre ou dignatário que pode ser um conde, uma princesa ou um general; cumprimentam-se pelo primeiro nome e conversam sobre a guerra presente; eles contam ao narrador uma história de algo que tenham visto — histórias reais, mas de terror — e ele comenta esses fatos em um tom amigável e aparentemente sem julgamento. Por mais chocante que sejam os relatos em si, são esses comentários que dão um arrepio na espinha, pela naturalidade do narrador perante os fatos. Ironia? Pode ser. Mas, após quase 500 páginas, essa suposta ironia perde força: a voz que se escuta parece bem genuína.
Também assusta pelos contrastes. Malaparte é mestre do ponto e contraponto. Em Os cavalos, ele descreve a melancolia culta do gentleman príncipe Eugênio da Suécia em uma sala rica e bem aquecida, chorando pela Europa que perdeu sua beleza, sua Paris, seguida de um cenário de terror, cavalos congelados no lago Làgoda, na Finlândia.
O terrível inverno de 1941 havia coberto o país de branco, a grande peste branca. Centenas de cavalos, encurralados entre as tropas russas e um incêndio na floresta, atiraram-se ao lago. Morreram de frio, do fogo ou pisoteados pelos outros que tentavam desesperadamente escapar. Os que não morreram imediatamente foram emboscados pelo vento do Norte que desceu à noite, congelando a água em minutos:
O lago parecia uma imensa placa de mármore branco, na qual se apoiavam centenas de cabeças de cavalos. Pareciam cortadas pelo talho preciso de um cutelo. Todas as cabeças estavam voltadas para a margem. Nos olhos arregalados ainda ardia a chama branca do pavor.
Pavor contagiante. Em Os ratos, Malaparte brinda o leitor com um bacanal gastronômico que faria até Bacchus corar. É difícil saber onde está a maior crueldade — se no desfile, sob aplausos, de imensas bandejas com animais assados, ou nos diálogos que beiram uma execução. O contraponto é pior. Muito pior. Malaparte “visita” o gueto de Varsóvia. A pretensa ingenuidade do jornalista é nauseante. Começa por descrever o jovem da Guarda Negra, cuja escolta lhe é imposta:
Um jovem alto, loiro, de rosto magro, de olhar claro e frio. Tinha um rosto muito bonito, uma testa alta e pura, que o capacete obscurecia com uma sombra secreta. Caminhava entre os judeus como um deus de Israel. (grifo meu)
Comparar um anjo da morte da Waffen-SS a um deus de Israel, ora, a morte nunca havia recebido tal honraria. Mas fica ainda mais ofensivo:
Curiosas com meu uniforme de oficial italiano as pessoas da multidão levantavam os rostos barbudos, fitando-me com olhos pilosos, avermelhados pelo frio, pela febre, pela fome; as lágrimas brilhavam entre os cílios, escorriam dentro das barbas sujas. Se por acaso eu esbarrava em alguém na multidão, pedia-lhe descupas, dizia, “prosze Pana”, e ele levantava o rosto, olhava-me surpreso e incrédulo. Eu sorria, repetindo “prosze Pana”, porque sabia que minha gentileza era para eles uma coisa maravilhosa e sabia que depois de dois anos e meio de angústia e de brutal escravidão essa era a primeira vez em que um oficial inimigo (eu não era um oficial alemão, era um oficial italiano: mas não bastava que eu não fosse um oficial alemão, não, talvez isso não bastasse) dizia gentilmente “prosze Pana” a um pobre judeu do gueto de Varsóvia. (grifo meu)
Qual é o tamanho do ego de alguém que espera que cerca de 500 mil pessoas amontoadas em poucas quadras, nove ou dez adultos por cômodo, há dois anos sem aquecimento, sem comida, reconheçam a diferença entre o uniforme de um oficial italiano e de um alemão? “Talvez isso não bastasse”? Bastasse para quê? Para que o adorassem? Sem falar da dimensão que ele atribui a sua própria gentileza perante esses rostos com “barbas sujas” e “olhos pilosos”.
Fetiche da crueldade
O motor da máquina Malaparte é o fetiche da crueldade: observá-la, descrevê-la, avultá-la. Se a realidade não desse conta do impacto pretendido, lançava mão da ficção com tal habilidade que ficava impossível verificar os fatos. Um desses momentos surge em Os pássaros, ao final de uma longa conversa com Ante Pavelic, chefe do Estado Croata (fantoche dos nazistas):
Enquanto falávamos, eu observava um cesto de vime em cima da escrivaninha, à esquerda do Poglavnik. A tampa estava soerguida, via-se que o cesto estava repleto de frutos do mar, tal como me pareceu, e eu diria serem ostras, mas sem a casca, como as que se veem, às vezes, expostas em grandes travessas nas vitrines da Fortnum and Mason, em Picadilly, em Londres. Casertano me fitou, piscando um olho:
— Bem que você gostaria de uma bela sopa de ostras, hein?
— São ostras da Dalmácia? — perguntei ao Poglavnik.
Ante Pavelic ergueu a tampa do cesto e, mostando aqueles frutos do mar, aquela massa viscosa e gelatinosa de ostras, disse sorrindo, com aquele seu sorriso bom e cansado:
— É um presente de meus fiéis ustasci: são vinte quilos de olhos humanos.
Malaparte partilhava da estética fascista: o modernismo hipermásculo, o culto quase místico de sacrifício e heroísmo, de nação, guerra, uniformes, morte. Sua prosa, ora lirismo, ora autópsia, era feita sob medida para esse quadro. Enquanto a graça da Europa dava seu último suspiro em meio a uma pilha de carne apodrecida, ele era atraído inexoravelmente ao extremo barroco da guerra total. Habitou as mentes — e, segundo ele mesmo, também as almas — de carniceiros, torturadores e estupradores de Estado.
Entre 1941 e 1943, período em que trabalhou como correspondente de guerra e escreveu Kaputt, a “solução final” ainda não estava inteiramente implementada, por isso a violência genocida que observou apresentava-se na forma de hediondos crimes pessoais, quase íntimos. Isso não o impediu de aproximar-se e anotar os detalhes, ao contrário; mosca varejeira que era, refestelou-se sobrevoando a carniça bem de perto.
O motor da máquina Malaparte é o fetiche da crueldade: observá-la, descrevê-la, avultá-la.
Descoberta
Por ser jovem, não se pode dizer (ainda) que Géraldine Schwarz tenha cometido erros de percurso. A julgar por seu livro de estreia, ela está no bom caminho. É uma escritora, jornalista e cineasta franco-alemã. Nasceu em Strasbourg (França), em 1974, e se define como “uma filha da reconciliação entre a França e Alemanha” devido às diferentes nacionalidades de seus pais.
Géraldine cresceu em Paris e se formou na London School of Economics, uma das mais prestigiosas faculdades de Economia do mundo. Em seguida, estudou jornalismo e começou uma carreira em Berlim. Desde 2010 direcionou-se à escrita e direção de documentários. Os amnésicos: história de uma família europeia recebeu prêmios logo após o lançamento e foi traduzido para mais de dez idiomas. Nele, a autora reconstitui os fatos antes, durante e depois da Guerra — sobre seus avós maternos (franceses) e paternos (alemães) e respectivos países, de seus acertos de contas ou a falta deles.
Em 2010, a jornalista econômica de currículo invejável encontrava-se em uma posição segura, vivendo em uma das cidades de maior qualidade de vida do mundo, gozando de boas relações com seus parentes. Enquanto folheava os arquivos da família no porão do prédio onde vivia em Mannheim, descobriu um fato chocante: em 1938, seu avô paterno, Karl Schwarz, tirando vantagem da política racial nazista já em vigor, comprou a empresa de Julius Löbmann, seu sócio judeu, por uma bagatela. O sócio a vendera para poder escapar da Alemanha com sua família. O valor pago por Karl era muito pequeno e somente Julius e um primo não morreram em Auschwitz.
Anos mais tarde, já nos Estados Unidos, Löbmann escreveu a Karl requerendo a justa compensação. Como Géraldine constatou na correspondência fielmente preservada, seu avô tratou o ex-sócio com desprezo, depois com ridículas apelações à sensibilidade de Löbmann pelo “sofrimento da família Schwarz”. Quando viu-se obrigado por lei, fez um acerto de contas pouco mais que simbólico. Pelo resto da vida reclamou do que considerou uma injustiça causada pelos judeus, e não pela política desastrosa de Hitler.
Ao se deparar com esses fatos incontestáveis, Géraldine foi dominada por graves dúvidas: até que ponto seus avós haviam sido culpados de tudo que aconteceu? O que nos torna cúmplices? Qual tinha sido exatamente o papel de cada um de seus avós, inclusive no lado materno, de seu avô Lucien, policial no governo de Vichy? Para Schwarz, esse foi o começo de um movimento centrífugo que a levou bem distante do confortável centro emocional e de carreira.
Trabalho da memória
Schwarz tinha consciência que poderia carregar silenciosamente a dupla bagagem de culpa sobre o Holocausto, mas escolheu o caminho mais justo: a combinação da escavação dos documentos e da memória pessoal dos membros da família. Sabia que os protagonistas não estão vivos — mesmo em vida, nunca contaram nada — e que testemunhos dados décadas após os fatos são menos confiáveis do que registros escritos na época em que aconteceram.
Em vez de “o dever de lembrar”, optou pelo que chamou de “o trabalho da memória”. Ligou fragmentos de conversas que teve com seus pais e tios ao longo da vida e confirmou com cada um deles as suas conclusões. Foi aí, por exemplo, que soube que os luxuosos móveis art déco que seus avós Karl e Lydia a vida toda ostentaram só poderiam ter sido adquiridos nos leilões — verdadeiras orgias de saques — que se faziam nas casas dos judeus deportados, poucas horas após eles serem arrancados dali — a roupa ainda no varal, a louça na mesa, os brinquedos no chão. A implicação subjacente é ainda mais perturbadora: como poderiam esses alemães, inclusive Karl e Lydia, dizer que não sabiam o que acontecia a esses judeus? Quem tira uma cristaleira da casa do vizinho se supõe que o dono pode voltar?
Sobre a mesma época, no Leste Europeu, Curzio Malaparte faz vários relatos da imoralidade (a seu ver) dos sobreviventes de massacres nazistas, que, assim que se sentiam a salvo, corriam para tirar roupas e calçados dos mortos. Vestiam o que podiam e vendiam o resto por migalhas de comida. Existe um universo de diferença entre esses pobres coitados e os Opas Karl e as Omas Lydia — sob racionamento de manteiga, imagine! —, que arrancavam lustres de cristal da casa do vizinho deportado. E se Malaparte aceitou tantos favores de Mussolini e sua gangue, teria recusado um Klimt, caso lhe fosse oferecido?
A despeito da coragem na escolha do tema de pesquisa, é a técnica de Géraldine Schwarz que torna Os amnésicos um livro obrigatório. A partir de uma história policial inflamável centrada sobre sua família bem próxima, surge a crítica social e o decorrente alerta que vai muito além da sua época. A densidade de dados históricos por página desafia o mais rígido critério acadêmico, mas, com seu talento para localizar a cena ou diálogo emblemático, mantém o leitor cativo pelas quase 400 páginas.
Fases do genocídio
Cada história é vital, meticulosa e eloquente como a radiografia de um pulmão tuberculoso. Sobre sua avó (Oma) Lydia, lembra-se do que ela dizia quando via na televisão as notícias de distúrbios nas ruas da Alemanha dos anos 1990: “Isso jamais aconteceria se o Führer estivesse aqui!”. Géraldine parte da avó para demonstrar as opiniões populares da época do nazismo, as promessas de Hitler (algumas de fato cumpridas) que seduziam as mulheres da classe média.
O processo, com o avô, foi outro. Karl Schwarz eventualmente filiou-se ao Partido Nazista, mas:
Ele provavelmente foi seduzido pelas vantagens de tal filiação. Mas é pouco provável que o fez por convicção ideológica, porque Opa era um hedonista, amava o prazer e tinha pouco interesse nas demonstrações de poder sadomasoquistas em que o Nacional Socialismo tanto se sobressaía. O nazismo exigia uma disciplina cega que nada tinha em comum com seu espírito independente e com a liberdade a que aspirava.
Se por um lado Karl pode ter se filiado ao Partido por autoproteção, e não por uma convicção ardente, por outro, ele não teve problema em obter um lucro fácil quando os judeus locais foram obrigados a abandonar suas posses. Schwarz sugere que Hitler, muito além da propaganda com que inundou todas as esferas da sociedade, desenvolveu um método infalível para tornar cúmplice um povo acostumado a seguir a lei ao pé da letra: legalizando o crime.
Um dos primeiros passos de Hitler havia sido incapacitar economicamente a população judaica, forçando-os a vender suas empresas e propriedades a não judeus. Ao “comprar” a empresa de Löbmann, Karl Schwarz não foi o único nem o maior vilão nessa estratégia. Mas havia consequências.
À medida que esses judeus perdiam tudo da noite para o dia, suas condições de vida decaíam rapidamente, desumanizando-os aos olhos de seus “tão asseados” vizinhos arianos. Ficava então muito mais fácil fechar os olhos quando esses indesejáveis eram deportados para o gueto e, mais tarde, para os campos de extermínio. Géraldine salienta que a cada uma dessas fases do genocídio havia sim atitudes de resistência possíveis para a população alemã. Ao instaurar o programa de eutanásia dos deficientes, Hitler se deparou com oposição inesperada do povo — e recuou.
Em 22 de outubro de 1940, 2 mil judeus de Mannheim foram arrancados de suas casas, one viviam há gerações, e deportados para Gurs, um campo de concentração nos Pirineus franceses. Não há nem mesmo um registro de protesto por parte dos concidadãos. “Nós não sabíamos”, mentiram até morrerem, para seus filhos, netos e para o mundo. Houve medo, sim, mas houve muito mais crimes de conformismo, oportunismo, indiferença, cegueira.

Amnésia patológica
Para Schwarz, a “amnésia patológica” encontrou solo fértil na atmosfera apocalíptica do pós-guerra. A prioridade não era revisitar o passado e sim construir uma nova vida. Termos como “Konzentrationslager” (campo de concentração) e “SS-Mann” (soldado da SS) foram apagados dos dicionários. Foi somente sob o governo de Helmut Kohl, chanceler da Alemanha entre 1982 e 1998, que o povo alemão foi obrigado a lembrar o passado e encarar sua cumplicidade. Só então começou a cura.
Para entender esse processo, a autora coloca lado a lado as opiniões de seu pai, Volker Schwarz, nascido em 1943, e sua tia, Ingrid Schwarz, irmã de Volker, nascida em 1936. Volker não tem memórias da Segunda Guerra nem dos primeiros anos de reconstrução da Alemanha. Passou a infância e adolescência em um ambiente mais seguro, politicamente estável e de crescimento econômico. Nunca ouviu uma palavra sobre o nazismo na escola ou em casa, então teve um despertar tardio, mas autêntico.
Já Ingrid tem outra história. Tem lembranças vívidas dos bombardeios e da pobreza que se seguiu. Tinha 9 anos quando a guerra acabou, portanto passou sua adolescência nas dificuldades e no silêncio do pós-guerra. Do auge do orgulho olímpico estampado nos filmes de Leni Riefenstahl sobraram uma juventude envergonhada e um país dividido. Para as perguntas de sua sobrinha sobre as atitudes de Karl, seu pai, Ingrid responde com o chavão:
Eles eram Mitläufer, gente comum que, igual à maioria da população alemã, seguiram a corrente durante a Guerra. Não podemos nos colocar no lugar deles. Eles viveram sob uma ditadura — você teria de ser um herói para resistir.
Sem a cooperação dos Mitläufer, os nazistas jamais conseguiriam executar as atrocidades do Holocausto.
Géraldine Schwarz obriga o leitor a encarar o fato de que o totalitariso mancha todos, exceto os que resistem — e, às vezes, até eles.
França e o nazismo
Diz-se que a Europa ressuscitou duas vezes, em 1945 e em 1989. A queda do muro de Berlim foi muito importante para trazer à ex-Alemanha Oriental a discussão política sobre o passado. Durante a Guerra Fria não houve qualquer tentativa de averiguar o passado. A Alemanha serviu e serve ainda de exemplo para os outros países da Europa. É o único país que conseguiu, com enorme trabalho estatal continuado, transformar a culpa coletiva em responsabilidade democrática, exercida mesmo hoje com os imigrantes e refugiados.
Nem mesmo a França — queridinha dos intelectuais mundo afora — fez qualquer esforço para aclarar seu verdadeiro papel no nazismo. A resposta padrão da França a essa questão tem sido culpar os alemães, ignorar a cumplicidade de boa maioria de sua população nas deportações e até mesmo apoio entusiasmado pelo Holocausto.
A história oficial reza que “os franceses” resistiram à ocupação. Ao menos isso é o que Josiane, mãe de Géraldine Schwarz, aprendeu na escola, e o que ouvimos ad nauseum nos filmes e documentários franceses. A realidade é bem outra. Os jornais da época descrevem em detalhes a maior captura de judeus na França. Provam que eles foram capturados e entregues pelos gendarmes, policiais civis franceses, que faziam esse trabalho com entusiasmo, sem qualquer recompensa ou ameaça.
E seu avô Lucien, ele mesmo um gendarme em um vilarejo próximo à fronteira?
O que contava a seus filhos era que sempre que judeus e membros da Resistência tentavam escapar pela fronteira em busca de segurança, ele “olhava para o outro lado”, em vez de prendê-los ou atirar neles, como tantos oficiais de Vichy ficavam felizes em fazer.
Sabemos que o número de franceses de fato envolvidos na Resistência era muito menor do que sempre foi anunciado. Esse foi um golpe de marketing de De Gaulle aceito pelos americanos ao libertar Paris. Isso ajudou a cimentar a culpa de milhões de franceses, inclusive pelo mal que fizeram à própria Resistência. A falta do trabalho de memória de tantos países europeus tem estreita correlação com o ressurgimento dos nacionalismos extremos — basta olhar para a França, Áustria e Hungria. Géraldine Schwarz obriga o leitor a encarar o fato de que o totalitariso mancha todos, exceto os que resistem — e, às vezes, até eles.
E como se sairia Curzio Malaparte no exame de Géraldine Schwarz? Bastante manchado. Enquanto ele viajava de avião, hospedava-se em mansões (e construía a sua) e saudava sanguinários pelo primeiro nome, Camus arriscava sua vida editando Combat, o jornal da Resistência. Se não sabemos como teríamos agido se estivéssemos no lugar de cada um desses artistas, isso não significa que não sabemos como deveríamos ter agido, então não se fala exclusivamente do passado. Sabemos como deveremos agir, caso isso ocorra novamente. A responsabilidade é individual antes de ser coletiva. “Tudo que deve ser dito já foi dito”, registrou André Gide. “Mas já que ninguém está ouvindo, tudo deve ser dito outra vez.”