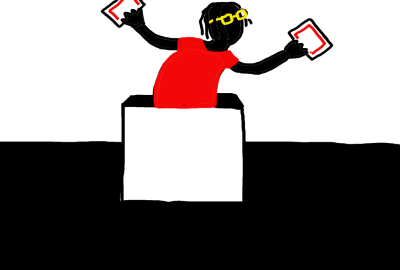O polígrafo Raimundo Magalhães Júnior, um dos signatários do Manifesto da Esquerda Democrática — que deu origem ao Partido Socialista Brasileiro, no qual se misturaram de antigetulistas a trotskistas —, atuou no jornalismo, na produção de estudos biográficos e no teatro. Neste, especializou-se numa dramaturgia menor, de recreio, que brilhou na noite carioca entre as décadas de 1930 e 1950, composta principalmente de peças dedicadas ao teatro de revista, espetáculo em que músicas, esquetes e coreografias somavam-se para realizar a crítica bem-humorada e superficial da vida brasileira. Pouco restou também do trabalho de Magalhães como jornalista, incluindo o que produziu para jornalecos partidários, como A Batalha e A Esquerda. Ainda que suas traduções de Tennessee Williams tenham recebido elogios, o mesmo não aconteceu com várias adaptações, tratadas, algumas vezes, como “mutilações”. Sua dívida com a cultura brasileira cresceu no decorrer do tempo, pois, apesar dos ideais socialistas, aceitou o trabalho de censor cinematográfico durante a ditadura militar, na década de 1970 — incoerência, aliás, típica da esquerda, que jamais recusa benesses do Estado, não importando a ideologia de plantão. No que se refere ao trabalho de Magalhães como biógrafo de Machado de Assis, que ainda lhe assegura um lugar nas letras nacionais, isso talvez revele mais a falta da grande biografia machadiana, até hoje não escrita, do que a imprescindibilidade das suas conclusões. O tempo dirá.
Tais limites se refletem no segundo volume de contos do autor, Fuga, publicado em 1936. O livrinho abre com a narrativa homônima, história supostamente aventurosa do pré-adolescente que, censurado pela avó, decide fugir de casa. A dedicatória do conto — “Em memória de David Copperfield, de Charles Dickens, e de Jack, de Alphonse Daudet” — engana o leitor. O começo simples, a constatação, exposta de forma clara, de que “o desejo de fuga anda na cabeça de todos os meninos”, promete mas não entrega. Logo a seguir, antecedidas por exclamações — “belas!” e “linda!” — que nada acrescentam às “bandeirinhas multicolores” e à “roupa bizarra e colorida dos jóqueis”, começam a surgir inverossimilhanças: em alguma perdida cidade no interior do Ceará, o narrador não só construiu, no quintal de sua casa, “um circo completo, com barras, trapézios, trampolim, tudo”, como provocou, ao descuidar da segurança, a morte de um garoto trapezista que “arrebentou o pescoço estupidamente” — e ninguém foi punido. Obedecendo ao sonho mirabolante de ser um jóquei famoso, ele “ganha páreos de honra” nesse mesmo lugarejo, o que provocará as reprimendas da avó e sua fuga. Nosso megaempresário e surpreendente cavaleiro consegue também caminhar léguas e léguas, incluindo um longo trecho de terreno pedregoso, sem sapatos, invencível mesmo depois de roçar o braço na “pior urtiga do mundo”. Só a fome e o menosprezo do fazendeiro que se recusa a acolhê-lo vergam sua obstinação, fazendo com que tome o caminho de volta, num comportamento típico das crianças — mas não dos garotos que são megaempresários e jóqueis famosos. A raiva contra a avó se dissipa “de maneira quase miraculosa” — e demonstrando que todos os seus feitos mirabolantes esconderam do leitor uma personalidade superficial, incapaz de extrair dos fatos lição duradoura, o narrador fecha o conto recordando sua decisão de jamais acreditar na “generosidade desinteressada e nessa coisa que chamam de solidariedade”.
Desencontro é a história do narrador-protagonista que se anuncia como pessoa sem reações, incapaz de fazer com que sua opinião prevaleça. Esse personagem, arrastado pelas circunstâncias, mostra-se, contudo, valente quando quer; e luta para enriquecer, trabalhando, numa região diamantífera, em local “insalubre, pantanoso, cheio de mosquitos”. A odisseia superficial leva nosso narrador de amores infelizes a dezenas de escolhas erradas, da vida de seminarista ao convívio com bandidos e ao alcoolismo — sempre por não obedecer a si próprio. Os motivos das reviravoltas e do seu comportamento são apresentados com ligeireza, numa linguagem corriqueira, à qual não faltam lugares-comuns ou imagens no pior estilo alencariano, como neste trecho, em que descreve Margarida, sua paixão: “E não era de flor só o nome que tinha. Era o ser também. Tão fresca, tão jovial, tão expansiva! Um canário em dia de verão não faz tanto alvoroço junto ao ninho”. Chegando às reticências que fecham a narrativa, resta o desconforto de termos lido um melodrama negligente.
A usina trata de Clodoaldo, enganador profissional de uma cidadezinha, mas é crônica, textinho sem conflitos. O sino não se inscreve na mesma categoria apenas porque Tio Zeca, sedutor violento e insaciável da cidade de Taquara, termina caindo na armadilha inteligente do sacristão, o marido chifrado. O melhor trecho é a descrição do lugarejo, em que o autor consegue superar a mera lista de características.
Caricato e medíocre
O teatro do grotesco — com uma ponta de Grand Guinol — surge em A grande atração, história da decadência do homossexual Bianchi, cantor lírico que não consegue papéis femininos na ópera, abandona o sonho do La Scala e torna-se travesti, até se transformar no domador dos cachorrinhos Abelardo, Heloísa, Paulo, Virgínia e Eurico, nomes que o narrador irônico afirma serem “sugestões de leituras românticas”. No circo decadente, Bianchi apaixona-se por Betanzo, homem dos “músculos de aço”, que, por falta de dinheiro, e apesar do nojo, cede ao travesti. O final é mais que previsível: surge a uruguaia Berta Caballero para desequilibrar a relação — depois, o ciúme de Bianchi, que o leva a matar seu grande amor. História caricata e medíocre.
A inverossimilhança retorna em O crime de Bandú, na qual o “caboclinho mirrado, de constituição franzina e musculatura débil”, incapaz de qualquer trabalho braçal, vê-se desprezado por Patrocínio, “faceira morena”, que prefere o másculo Taturana. É o que basta para o protagonista adquirir “aspecto quase trágico” e assassinar, a facadas, o valentão, dono de um punhal que “já tinha ido espiar o que nove pessoas haviam comido”. A história é tão inconvincente, que o próprio narrador tenta justificar a morte de Taturana, como se escrevesse um relatório policial: “A surpresa do ataque, pois não contava com reação tão fulminante, inibiu-o de qualquer movimento de defesa, deixando também estarrecidos os circunstantes”. No final, claro, Patrocínio apaixona-se por Bandú.
O sentenciado é outra dessas histórias inócuas, cujo mérito se resume a apresentar o Brasil arcaico, prevalecente até hoje, com seus 60 mil homicídios por ano, grande parte deles por motivos fúteis ou desconhecidos. Passou-se quase um século entre esse arremedo de conto e o presente — mas nada mudou.
Um hiperbólico bandido é o protagonista de O julgamento de Policarpo Corisco, em que o sádico criminoso acaba derrotado por… uma insolação. A historieta vale pelo final divertido.
Os chavões do desgosto, do amor não correspondido e da jovem sonhadora que detesta o próprio nome escorrem de Catidiana, história insignificante da pobre Tudinha, que sonhava ser “Laura, Beatriz, Julieta, Margarida…”. Outro conjunto de obviedades forma Corpo fechado, cuja descrição inicial seria curiosa se Euclides da Cunha não tivesse, três décadas antes, esgotado o tema. Na trama fácil, Pedro Macambira transforma-se em Pedro Curador, enganando o povo com a cascavel da qual sempre extrai o veneno. É o desfecho mais previsível do livro.
A última narrativa, Rio Movido, acrescenta ao rol de defeitos uma incontrolável sanha pleonástica. O narrador utiliza as primeiras linhas para dar vida ao rio que, anualmente, durante as chuvas, mudava de curso. A analogia que se tenta construir é capenga: “Parecia uma dessas mulheres que se cansam depressa de um leito só. Uma dessas mulheres que gostam de variar de leito pelo prazer das novidades”. Poucas linhas depois, para reafirmar a “convulsão geológica”, o narrador insiste: “A terra ali apodrecera, como uma mandioca dentro de um charco. Não oferecia resistência. Amoldava-se aos caprichos do rio. O rio era dono e senhor da terra. Fazia dela o que quisesse. Passava aqui, passava ali, passava acolá. Lambia terra do jeito que queria” — o que mostra como as redações do Enem podem não ser o fim do mundo. A história que se segue, de atração sexual, traição e duplo assassinato, é contada de forma verborrágica, com páginas repletas de informações desnecessárias.
No final do volume, em que o editor reuniu elogios ao escritor, o filólogo Joaquim Ribeiro destrambelha: “Raimundo Magalhães Júnior, acima de novelista, é o escritor de estilo cheio de agudeza e de recursos privilegiados. A sua prosa, além de espontânea, vem sempre orvalhada e luminosa; lembra a verdura molhada de rocio nas manhãs claras”. Nada melhor do que a nefasta retórica nacional para provar minha tese: acabamos de analisar um ótimo autor do teatro de revista. Nada mais.
NOTA
Desde a edição 122 do Rascunho (junho de 2010), o crítico Rodrigo Gurgel escreve a respeito dos principais prosadores da literatura brasileira. Na próxima edição, Sérgio Buarque de Holanda e Raízes do Brasil.