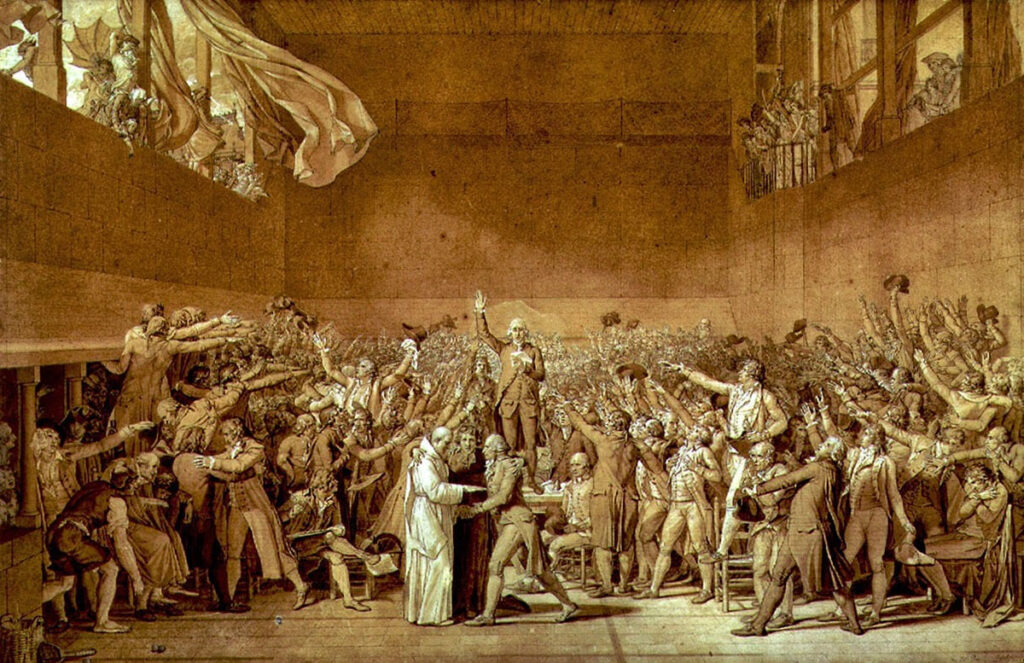O texto que não se lê e não se traduz se vai recolhendo para dentro de si mesmo, até a total incompreensão. Até nada mais poder ser lido. A ausência da leitura e a inutilidade do texto, como peça de museu que se admira pela beleza, pela antiguidade ou pela raridade.
Traduzir é reconstruir com base em leitura, pesquisa e lembranças, e sempre a partir de um ponto de vista determinado e inapelavelmente pessoal. Nunca se sabe ao certo o que o outro entende, como lê, como enxerga, que sentidos pode vislumbrar além do texto impresso no papel ou brilhante na tela.
Demasiado pessoal, a leitura é irrepetível. Ainda mais irrepetível se revela a tradução, pela carga de reflexão que requer. Se a leitura, mesmo que por natureza ativa, pode embeber-se de maior grau de espontaneidade, o mesmo não ocorre com a tradução — que é menos intuitiva e mais braçal e ao mesmo tempo intelectual. Fruto de maior esforço.
Mas nem por isso a tradução dispensa a visão intuitiva, que opera como primeira versão textual. Como primeira leitura, aliás inescapável. Pode-se traduzir por lampejos, ainda que não se alcance assim a compreensão cabal nem muito menos o texto definitivo. Podem-se reescrever parágrafos inteiros após intenso trabalho de penetração intelectual do original; parágrafos que funcionarão com base para a escritura mais sofisticada que deverá prevalecer.
Na tradução, o leitor/autor pode expressar-se com mais desenvoltura e autoridade, conduzindo o texto ao longo de caminhos que não se apresentariam à primeira vista. Pode dar uma direção precisa à cadeia de significação. Ou, se não lhe faltar talento, pode construir escritura cambiante, texto que chegue a assumir, com mais maleabilidade, o sentido que lhe queira atribuir o leitor. Texto com personas diversas. Texto que permita ao tradutor sentir de antemão o transbordamento do assombro que provocará no leitor.
A rigor, o original não pode ser mudado. Mas é inegável que as diferentes leituras que dele se podem fazer influenciam decisivamente os rumos que o texto primeiro virá a tomar. O tradutor, do alto de sua autoridade insubstituível, pode muito bem forçar rumos discursivos. E nem precisa inventar nada que já não esteja no original. Basta dar visibilidade a textos subjacentes ao principal, aquele da primeira leitura superficial. Basta usar a energia do subtexto para a construção da tradução. Será uma subversão de sentidos, uma traição descarada do original? Ou necessidade que se impõe ao tradutor em seu processo de reescritura?
A tradução tem, assim, o poder da revelação. Algo que a leitura nem sempre consegue captar, especialmente se distraída ou fugaz. O tradutor não trabalha com meras feições estáticas, mas com expressões vivas dos sentidos. Retira do texto sua subjetividade mais ardente.
Na tradução, muito mais do que na leitura, vê-se descompasso — ou abertura de compasso — entre o original e seu texto sucessor. Nota-se o distanciamento entre os textos, forçado pela operação da reescritura — algo que não necessariamente se explicita na leitura, embora também nela esteja latente.
Na tradução, muito mais do que na leitura, se exige a reconstrução de discursos e narrativas. Exige-se a reestruturação de significados. Não se pode trabalhar sempre com as mesmas palavras, palavras cujos sentidos se vão desgastando; desgaste que as torna ocas e opacas.
Na tradução, muito mais do que na leitura, sentidos provocam pressentimentos, que permitem a concepção de um novo texto. O original deixa de ser repositório de verdades acabadas e passa a representar fonte de possibilidades infinitas, incontroláveis. Haverá algo mais fascinante?