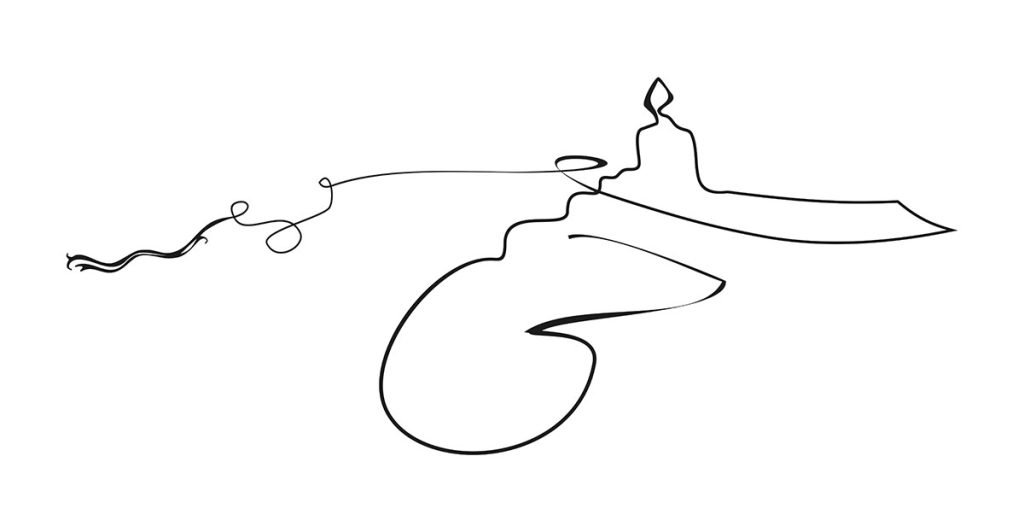O escritor mais detestado pela crítica brasileira, atingido pela fúria modernista com os piores adjetivos, os julgamentos mais levianos — sobre ele tripudiam, até hoje, os prosélitos de Lima Barreto e Oswald de Andrade —, Coelho Neto merece, inclusive por esse motivo, cuidadoso estudo. Não se trata de escolher, para justificar sua reabilitação — como sugere Alfredo Bosi em O pré-modernismo –, entre “uma determinada doutrina estética” ou “um pensamento estreitamente casualista”. Optar por um desses atalhos seria condenar o escritor a permanecer na camisa de força em que o enfiaram o superficialismo e o preconceito de grande parcela da academia e da crítica literária, satisfeita no seu exercício de papaguear o que aprendeu neste ou naquele manual, mas raramente disposta a ler, com espírito despojado de ideologias, a produção dos autores. Trata-se, portanto, de desprezar o continuum de erros e injustiças — no qual até mesmo a sensata Lúcia Miguel Pereira caiu, escorando-se, em Prosa de ficção, no juízo, dentre outros, de Adolfo Caminha, um ninguém da literatura brasileira —, ignorar o vale-tudo em que nossos estudos se transformam quando se trata de defender a Semana de 22 e seus herdeiros e dedicar-se à releitura da ampla, multíplice bibliografia que Coelho Neto nos legou — ou seja, deixar as obras falarem.
Ilusória liberdade
Publicado em 1906, Turbilhão é um dos vários romances que poderiam ser escolhidos para apresentar os méritos de Coelho Neto. A fim de melhor aproveitá-los, o leitor deve estar aberto ao vocabulário cujas acepções nem sempre são corriqueiras, e exatamente por isso acrescentam rigor e força à narrativa. O que parte da crítica chama de “parnasianismo” é, na verdade, destemor para utilizar os recursos que o português oferece, busca apaixonada, flaubertiana, do termo justo — sem descuidar do emprego da linguagem coloquial, quando ela se faz necessária. Veja-se, por exemplo, este parágrafo do Capítulo 1:
Subitamente um bufo, como da expansão de uma válvula, subiu das oficinas, e foi depois um chiado e logo um silvo de jato, e, lentamente, com rumor de ferragens, como à partida de um comboio, as máquinas moveram-se, abalando o soalho em trepidações contínuas.
O período coeso — que muitos escritores contemporâneos transformariam, por imperícia, numa sucessão de frases independentes — recria com exatidão os movimentos iniciais de uma impressora de jornal do início do século 20. Logo a seguir, o tipógrafo começa seu trabalho:
Parado, coçando a barba, como em grande cuidado, um velho olhava para uma das marinônis, em cujos cilindros já reluziam as matrizes. De repente afastou-se, tomou várias folhas de papel tisnadas, andou com elas em volta do “Monstro” vendo, revendo, curvado, de cócoras. Meteu o papel entre os cilindros, ergueu-se, deu um puxão à alavanca e a máquina moveu-se com rapidez trepidando, a espichar aquelas folhas de papel que os rolos apertavam e impeliam manchadas de tachas sórdidas, como as primeiras vasas anunciadoras do parto.
Perceba-se não só a precisão das palavras, a descrição que nos permite visualizar a cena, a analogia inusitada entre os primeiros resultados da impressão e um parto, mas também o julgamento feito pelo narrador, ao usar o substantivo “tacha”, referindo-se às manchas de tinta, cujo sentido comporta uma alusão a defeitos ou máculas morais propagados pelas notícias — idéia reforçada pelo adjetivo “sórdidas”.
A história da pequena família suburbana — formada por uma viúva, D.ª Júlia, e seus filhos, Paulo e Violante — é perturbada de maneira dramática, logo no Capítulo 2, pela fuga da jovem. A descrição do quarto da irmã, em plena madrugada, depois de Paulo ter enfrentado, para encontrá-la, a chuva e também o descaso da polícia, reflete o sentimento de abandono:
Deteve-se um momento, limpou os olhos e, tomando da mesa uma caixa de fósforos, fez luz e entrou. Sobre o lavatório de vinhático, numa palmatória de cristal, havia um coto de vela; acendeu-o.
À luz, que se foi, aos poucos, difundindo, lançou os olhos pelo interior desolado e, cruzando os braços, ficou a olhar como se estivesse diante dum cadáver.
A cama estreita, alva, com um fino cortinado enastrado de fitas, tinha uma ligeira depressão; o travesseiro macio, de paina, com a fronha de crivo, estava machucado. Um lenço jazia aos pés da cama, amarfanhado e odorante.
[…]
Voltou-se: o lavatório estava em ordem, com os vidrinhos de essências, os vasos de flores, as escovas, os pentes. Sobre a cômoda o retrato do pai, fardado, em grande gala, de pé junto a um rochedo; e outros retratos de moças, de crianças; e cromos e a cestinha que ele lhe dera pelo Natal com amêndoas.
No fundo, o guarda-vestidos entreaberto. Puxou a porta, que rangeu, emperrada, e viu, a um canto, sobre a caixa de chapéu, a boneca, muito loura, com os braços abertos, rindo, toda de azul; e os vestidos escorridos nos cabides, a sombrinha, caixas, embrulhos. Afastou as saias, sentindo um perfume morno e sensual de essência e de carne — faltava a de seda preta, a mais nova. Fora com ela, a linda saia que ele lhe havia dado meses antes, no dia em que ela completara 18 anos, e que a mãe cortara e cosera, cantarolando as suas modinhas tristes.
Coisas insignificantes adquirem relevo extraordinário. E Coelho Neto nos leva, de pormenor em pormenor, a um dos elementos que ganham importância crescente na história, sobre o qual falarei adiante.
O narrador apresenta igual vigor quando abandona a intimidade do lar e descreve cenas urbanas, com seus personagens anônimos flagrados, de maneira cinematográfica, em meio aos hábitos do cotidiano, aos gestos reveladores de sua condição social:
À porta de uma casinha robusta mulher, encostada ao umbral, uma das mãos engastando o queixo, olhava, com melancolia, o céu carregado, cinzento, sem esperança de sol. Adiante, em outra casinha, a família jantava. O homem, já grisalho, em mangas de camisa, à cabeceira da mesa, os braços muito abertos, as bochechas cheias, todo derreado sobre o prato, devorava. Um pequenote, balançando as perninhas escalavradas, esmagava o bolo de feijão; a mulher, magra, triste, comia lentamente, com ar enfastiado. De pé, na penumbra, ao fundo, uma rapariga ruiva, com um prato sob o queixo, chupava talhadas de laranja, chuchurreando tão alto que se ouvia de fora, e um cão negro, sentado, com as orelhas atentamente fincadas, olhava o homem, à espera de algum bocado.
Meninos, com as calças arregaçadas, chapinhavam sordidamente na lama, aos gritos. Entrava gente — um velho mascate, curvado ao peso da grande caixa; um vendedor de fósforos, com o tabuleiro suspenso à altura do ventre, coberto por um encerado; operários, com as ferramentas, e, à porta da venda, que comunicava com a larga entrada da estalagem, em túnel, havia um ajuntamento: homens de pé, outros sentados em pedras, fumando, conversando.
Fora, ao portão, um garoto apregoava os jornais da tarde. Cães morrinhentos dormitavam pelos cantos e, defronte, num sobradinho amarelo, uma mulher gorda, com fofos de renda à volta do pescoço, chupava roletes de cana, atirando o bagaço à rua.
Mas Coelho Neto pode passar da exposição descomprometida, leve, ainda que detalhista, desses cenários da vida social a certo momento dramático, tenso, no interior de um cômodo lúgubre:
Quando Paulo tornou ao quarto a moribunda arquejava em agonia maior, respirando a espaços, ficava longo tempo imóvel, como se já houvesse acabado; de repente, porém, abria-se-lhe a boca imensa e o ar entrava de raspão como se fosse rompendo passagem. Ritinha chegou-se ao leito e ficou contemplando a velha, cuja fisionomia cavava-se com a angústia.
Apalpou-a, sentiu-a fria até o ventre — era a morte que começava a subir. Súbito abriram-se-lhe dilatadamente os olhos vítreos, assombrados e fitos. Os dois recuaram, um estremecimento sacudiu-a toda. Os braços enrijaram-se, a cabeça soergueu-se de leve, um gargarejo rolou no fundo da garganta, as pálpebras tremeram.
Ritinha pôs-lhe a vela na mão. Paulo ajoelhou-se soluçando. Fecharam-se-lhe os olhos e ficou imóvel. Ele ainda esperou ouvir o estertor angustioso, mas a morte passara […].
Ênclises e mesóclises incomodam o leitor que se viciou no folgado predomínio das próclises, mas, superando-se tal estranhamento, o trecho se revigora, livre das conhecidas e cansativas reflexões naturalistas sobre o caráter irremediável do processo biológico que comanda nossa espécie, etc., ou do olhar romântico, que buscaria idealizar o fato e incluir na cena algum elemento edulcorante. Aqui, o narrador está livre de qualquer imposição — e um personagem, a fim de completar essa ilusória liberdade, pode apalpar de maneira desrespeitosa, quase promíscua, a pobre moribunda.
Torpezas e amor
O fim indigno de D.ª Júlia, contudo, não se resume a esse pequeno trecho. Na verdade, o romance enfoca o ápice da desagregação familiar, o breve período no qual essa derrocada, até então mero anúncio, finalmente se materializa, condenando a idosa à decepção e à morte, expressão concreta de sua impotência diante da ruína moral.
Perfeito corte no tempo, a narrativa nos informa sobre o passado não por meio do narrador onisciente, mas, sugestivo recurso, de um personagem secundário, Fábio, compadre da pobre matriarca: suas censuras a Paulo e Violante revelam-nos a verdade suavizada, até aquele momento, pelo excessivo amor de D.ª Júlia. Desse ponto em diante, o comportamento, as decisões dos personagens só confirmarão as palavras do velho Fábio, de início aparentemente severas.
Paulo, que nas primeiras páginas do romance surge como revisor de jornal cansado das longas horas de trabalho e crítico implacável da irmã, mostra-se egocêntrico, sensual, ciclotímico, supersticioso, desfibrado. O jovem que bravateia, como se fosse a palmatória do mundo, revolta-se com a fuga de Violante — mas não demonstra preocupação. Ao contrário, sua inquietude concentra-se no que pensarão dele os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho e da faculdade. Em nenhum instante ele se questiona seriamente sobre a repentina decisão da irmã, chegando a assobiar enquanto a mãe chora e reza, destruída pela angústia. Para sua mente perturbada, as pessoas que o observam na rua ou riem num restaurante na verdade zombam dele. É também um hipócrita, a quem notícias da fugitiva, se estampadas num jornal, serviriam para enaltecer sua própria moralidade. Ele engana D.ª Júlia repetidas vezes, gasta na roleta o dinheiro de uma jóia penhorada para pagar o aluguel e introduzirá na casa a própria amante, a volúvel Ritinha, que finge ser a caridosa esposa de um amigo, disposta a cuidar da doente.
Paulo, no entanto, revela mais que inversão de valores. Na sua completa desorientação, a realidade não é um dado nítido, palpável, mas o cenário onírico que se modifica conforme as variações do seu humor: impedido, pela chuva, de ir à jogatina, entende o aguaceiro como castigo divino, e imediatamente passa a murmurar desculpas estapafúrdias…
O romance é construído de maneira a nos surpreender sempre. Ultrapassada a primeira metade, quando imaginamos que todas as cartas foram distribuídas, Coelho Neto oferece novos elementos para compor a personalidade de Paulo: a compulsão em fazer cálculos, distribuindo o que sonha ganhar no jogo em listas de compras mirabolantes — e sua atração sexual pela irmã. O jovem que abre o armário e sente o “perfume morno e sensual de essência e de carne”, pouco antes descrevia Violante, ao delegado, ressaltando não os traços principais, mas aqueles que o encantam. Quando os irmãos se reencontram por acaso e Paulo descobre que a fugitiva tornou-se uma prostituta de luxo, o moralista desaparece, restando o homem dividido entre a beleza da irmã e a possibilidade de ela o proteger, fazê-lo participar de sua fortuna. O desejo incestuoso atinge o clímax na visita que Paulo faz a Violante horas depois. O ato não se consuma, mas o cenário destila volúpia:
Cortinas escuras temperavam a luz, quebrando a violência do sol que entrava por quatro janelas abertas sobre balcões. Na mesa do centro, incrustada de marfim, dentro duma linda jarra de porcelana, morriam rosas. Aroma tépido e voluptuoso impregnava o recinto. Os rumores da rua chegavam abafados, ensurdecidos, como se viessem de muito longe.
[…]
E, de pé, os braços cruzados, pôs-se a examinar os quadros, as estatuetas das peanhas. Uma sandália cor-de-rosa jazia no meio do salão embarcada. Sobre um dos divãs uma saia de rendas amarrotada parecia uma grande e estranha flor, murchando em abandono.
Da depravação ao cinismo salta-se com extrema facilidade. Assim, Paulo e Ritinha copulam na sala enquanto D.ª Júlia agoniza. Poucas horas depois, o corpo da boa mulher é esquecido — e a família obscena senta-se à mesa para jantar, rindo e travando saborosa discussão a respeito das características da comida francesa.
Cabe a D.ª Júlia o papel de contraponto em meio a tanta torpeza. E ela o desempenha com humildade e brandura, sob a pressão do desespero e da doença, amando os filhos — mas, ainda que eles não percebam, sem se deixar enganar, sem perder a lucidez, conhecendo seus defeitos e momentâneas qualidades.
Diálogos e oratória
Merecem estudo à parte os diálogos de Turbilhão. Paulo e D.ª Júlia estão inteiramente personificados nestas breves falas:
Soprou uma baforada e, vendo a mãe curvar-se a esfregar a perna, gemendo, quis saber se estava sentindo alguma coisa.
— Tenho sofrido muito nestes últimos dias. É da umidade… E hoje andei tanto!
— Eu também não tenho passado bem: dores de cabeça, fastio… É fadiga. Também, com a vida que levo não é para admirar: não paro.
— É, precisas ficar um dia em casa descansando.
— Pudesse eu! — suspirou encaminhando-se para o quarto. — Mamãe pode arranjar-me uma xícara de café?
— Sim.
A velha levantou-se pesadamente e foi devagar, claudicando, a amparar-se pelas paredes do corredor. […]
O jovem que passou dois dias na jogatina, abandonando a mãe às grosserias do cobrador do aluguel, obrigando-a a caminhar pela cidade em busca de uma casa de penhores, retorna com o dinheiro que conseguiu e finge ter perdido horas em algum trabalho cansativo. As mentiras brotam de Paulo com tal naturalidade que, a partir de certo ponto, percebemos sua mitomania. O desmesurado egotismo torna-o indiferente à condição em que a mãe se encontra há semanas — e pede-lhe o café como se estivesse diante de uma mulher saudável, lépida. A mãe amorosa se enternece pelo filho que só consegue enxergar a si mesmo, despreza suas próprias dores e levanta-se para servi-lo. A viciosa intencionalidade das falas de Paulo nos revoltam, mas é admirável como o autor une as palavras à personagem delirante. Não há exagero nos termos utilizados, naturalidade e fluidez ampliam a verossimilhança e nenhum dos dois expressa sentimentos ou reações imprevistos. O diálogo contribui para desenhar a cena e reforça no leitor suas certezas em relação aos personagens, impulsionando-o a seguir na leitura, ao menos para descobrir quão pernicioso Paulo pode ser ou quanto de bondade D.ª Júlia ainda guarda em sua alma.
Outro exemplo, distinto mas de igual qualidade, encontra-se no Capítulo 4, quando Paulo procura Mamede, o ex-policial, para que o ajude a encontrar Violante. A linguagem, aqui, sofre adequada transformação. As falas do mulato, repletas de coloquialismo, expressam, primeiro, falsa humildade, para, a seguir, transbordarem de jactância, pois suas promessas não se realizam, ele não localiza a jovem e todas as pistas que apresenta são apenas desculpas para extorquir alguns trocados de Paulo. O discurso malandro, contudo, anuncia o que saberemos mais tarde: o suposto amigo foi expulso da polícia, não passa de um larápio, ágil no uso da navalha, expedito para o jogo e o crime.
Há, no entanto, alguns problemas no texto. É uma pena que Coelho Neto às vezes abuse dos gerúndios:
[…] Frias lufadas balançavam as lanternas, enfunavam as bandeiras, retorciam as flâmulas que faziam uma aléia triunfal à entrada e circulavam o pátio, subindo às negras folhagens das árvores raquíticas como estranhos frutos d’oiro e farrapos espadanando, alongando-se no ar, coleando, tufando.
Em raros momentos, o escritor cede à tentação da retórica, não consegue se libertar do incontrolável amor que muitos escritores brasileiros, ontem e hoje, têm pela própria voz. E acaba cometendo parágrafos assim:
Era a hora maior do sol, a hora do esplendor máximo. Como que a natureza quedava em humilhação estática, adorando silenciosamente o grande astro a pino, na glória de toda a sua magnitude, dominando d’alto a terra que se prostrava como uma fêmea que se agacha sentindo o peso do macho sobre o seu corpo vibrante de emoção lúbrica.
O silêncio dilatava-se abafando todos os rumores como se a vida fosse, aos poucos, parando — só um piano, na vizinhança, zaragalhava em notas fanhas, que discordavam do grande e solene arroubo daquele luminoso espasmo.
Esse tipo de orgiástica grandiloquência — que faz também alguns autores repetirem sempre o mesmo narrador, com os mesmos cacoetes, certos de estarem escrevendo um novo livro, defeito a que dão o nome de “estilo” — é um índice de como permanecemos nos estágios iniciais das culturas escritas: neles, recordando a lição de Northrop Frye, o mais importante porta-voz é o orador.
Desafio à história
Mas coloquemos de lado essas imperfeições, superadas pelas características exemplares que apontei, e retomemos o início deste ensaio. Na verdade, esconde-se, sob o preconceito que há contra Coelho Neto, uma visão deformada de literatura. Faz tempo, a maioria dos críticos insiste que a arte literária deve expressar, necessariamente, não as experiências ou a maneira de ver o mundo de cada escritor, mas, sim, o modus vivendi de sua época — e precisa fazê-lo não só em termos de conteúdo, mas principalmente de forma. Leiam, por exemplo, o ensaio Tema e técnica, de Sérgio Buarque de Holanda (no volume 2 de O espírito e a letra). Escrito em 1950, as idéias ali presentes se repetem, com palavras diversas, até hoje. O crítico e historiador lastima-se pelo fato de Oswald de Andrade e Clarice Lispector não terem intensificado seu experimentalismo nas obras que se seguiram a Serafim Ponte Grande e Perto do coração selvagem — e, defendendo a prevalência da técnica sobre a mensagem, aponta, em Coelho Neto, a falta de uma “moldura adequada”.
Ora, idéias desse tipo deságuam em dois erros, faces da mesma moeda: menosprezam-se grandes narradores que não optaram pelo vanguardismo tout court — como Buarque de Holanda faz, no mesmo ensaio, em relação à obra de José Lins do Rego — ou condena-se a linguagem literária à ingrata tarefa de reinventar a si mesma permanentemente, o que produz obras passíveis de serem compreendidas apenas por seus próprios autores ou por um seleto grupo de iluminados — beco do qual a literatura brasileira luta para sair.
Sim, é verdade que a literatura está parcialmente condicionada pela história — mas é verdade também, como afirma Northrop Frye, que ela forja a sua própria história. Ela “responde a um processo histórico externo”, sustenta o estudioso canadense em O caminho crítico, “mas não é determinada por ele no que diz respeito à sua forma”. E, completo, pode se contrapor ao seu tempo também no que se refere ao conteúdo.
Deste modo, se queremos analisar um escritor, não devemos investigar se ele representa ou não sua época, mas, antes, ver seus livros, ainda citando Frye, como “estruturas coerentes”. Nossa difícil tarefa, portanto, é “permanecer a meia distância dos dois extremos não críticos”: a tese de que “a literatura necessita de uma referência social, sob pena de sua estrutura ser ignorada e seu conteúdo associado a alguma coisa não literária”; e a “crítica avaliadora que impõe os valores pessoais do crítico, decorrentes dos preconceitos e ansiedades de sua própria época, a toda a literatura do passado”.
Enquanto não nos libertarmos desses “extremos não críticos” ou “sofismas”, como Northrop Frye os denomina — em minha opinião, degenerescências das propostas que defendiam uma literatura engagée —, continuaremos desprezando obras que, intencionalmente ou não, negam-se a ser um eco do seu tempo. Exemplo elucidativo sobre essa questão encontra-se no ensaio Improviso em homenagem a Stravinsky, de Milan Kundera (em Os testamentos traídos), mas referindo-se à música. Ali, o romancista tcheco mostra como a escolha de Bach pela polifonia pura significou, na prática, um “gesto de desafio para com a História, uma recusa tácita do futuro”. A mais radical escolha de Bach, portanto, denuncia o que muitos de nós esqueceram, que
a História não é necessariamente um caminho ascendente (em direção ao mais rico, ao mais culto), que as exigências da arte podem estar em contradição com as exigências do dia (dessa ou daquela modernidade) e que o novo (o único, o inimitável, o que nunca foi dito) pode ser encontrado numa direção diferente daquela traçada por aquilo que todo mundo sente como progresso. Com efeito, Bach pôde ler na arte dos seus contemporâneos e dos mais jovens do que ele um futuro que deveria parecer, a seus olhos, uma queda.
Excelência
Desconheço se as escolhas estéticas de Coelho Neto foram conscientes, mas sua obra nos afirma que ele recusou seguir a via aberta por Machado de Assis com Memórias póstumas de Brás Cubas, publicado em 1880, mais de duas décadas antes do romance que aqui analisamos — e nem por isso deixou de escrever “uma obra-prima indiscutível”, como Wilson Martins classifica, acertadamente, Turbilhão.
Entre minhas certezas, só posso repetir o que o poetastro Aurélio afirma no Capítulo 14 de Turbilhão, vociferando, exaltado, em favor da “Arte Nova” que estaria a caminho, “sonora e rica, luminosa e forte”, anunciando ter ele mesmo no fundo da gaveta “dois poemas e um romance […] cuja tese era a emancipação da mulher, com um surdo protesto contra o celibato clerical”. Por meio de Aurélio, Coelho Neto ironiza o futuro, sem saber que tal predição se realizaria da pior forma: numa tentativa de estraçalhar sua obra. Mas, apesar das conseqüências nada desprezíveis, comemoremos: o futuro não se realizou plenamente.
NOTA
Desde a edição 122 do Rascunho (junho de 2010), o crítico Rodrigo Gurgel escreve a respeito dos principais prosadores da literatura brasileira. Na próxima edição, Lindolfo Rocha e Maria Dusá.