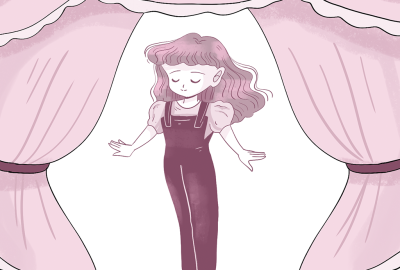Eu acabei de escrever um conto, são duas versões, vou te mostrar. A primeira está uma obra-prima de concisão: três linhas, puro minimalismo barroco. Como você já deve ter percebido, a modéstia está temporariamente fora do rol das mentiras que eu costumo praticar. Aliás, o primeiro requisito pra quem deseja escrever bem é… desejar escrever bem — sem nenhum subterfúgio (o que é um pouquinho diferente de desejar ser escritor). Só que pouca gente se toca de que ninguém escolhe nada, deseja… e é o desejo quem nos escolhe. Não somos mais do que suas vítimas. Mas chega de abobrinhas, deixa eu ler logo pra você ver… quer dizer, não, deixa eu dar uma elaboradinha no quê que é minimalismo barroco, antes. Esta frase que eu acabei de dizer, por exemplo, é barroco puro, esta construção que vai e vem, repara: quer dizer, não, afirma e nega, quebrada na vírgula — voluta, meu irmão, pura voluta barroca. E quando uma voluta consegue evoluir dentro de uma estrutura concisa, o barroco pode ser minimalista. Lembra daquelas plaquinhas que antigamente tinham nos ônibus: “Fale ao motorista somente o indispensável”? Pois é, as pessoas deviam ter prestado mais atenção nelas. Eu mesmo, se tivesse escrito exatamente estas mesmas três linhas há uns tempos, quando, digamos, eu tinha mais cabelos pretos e menos experiência, e ainda pagava aquele carma que todo mundo que quer se dedicar a alguma forma de arte paga no início (alguns para todo o sempre) de ter que ser um gênio, eu não ia aceitar só estas três linhas, eu ia querer enfiar mais e mais linhas, pra, pelo menos, poder aproveitar algumas daquelas frases que a gente sempre tem guardadas na algibeira, sobras de outros escritos, ou observações de guardanapo mesmo, mas que a gente acha brilhantes, que, enfim, chegou a hora delas e… pobre do motorista!, quer dizer, do leitor. Até ele conseguir chegar no filé mignon, vai ter que encarar muito chã, acém, patinho, perigando ter uma puta indigestão no final — aliás, como sói acontecer na maioria das coisas que se lê, ouve ou vê nestes tempos multimídia, um tanto multimerda (claro que ninguém passa recibo, manja aquela estória do rei tá nu?).
Uma das poucas vantagens da idade é que não é só o corpo que degenera, o ego também. Sempre sobra uma coisinha, é verdade, mas não é mais aquela camisa-de-força. Não existe mais aquele compromisso existencial de ter que ser fodão o tempo inteiro: acordar fodão, escovar os dentes fodão, cagar e limpar a bunda fodão… e aí, convenhamos, na hora em que você precisa mesmo de ser fodão, você já gastou toda a fodice. A idade tem que servir pra alguma coisa, né?, senão, puta que pariu!
Caaalma, eu não estou entrando numa de te alugar, apenas eu não quero te tratar como um leitor comum, porque você não é um leitor comum, por isso é que eu estou me permitindo o prazer especial de quebrar este — toc, toc, toc — escudo invisível que nos separa, e poder mostrar pra você que lê como a coisa toda funciona pra quem escreve, revelando tudo, descortinando os truques, e o primeiro é justamente este: fazer o leitor se sentir um… leitor especial. Pronto!, já estou entregando o ouro, mas vamos lá, você é mesmo especial, verdade, a única coisa da qual eu lamento é você não ser uma leitora (o velho Machadinho é que sabia das coisas). Ah, uns braços… Na falta d’outros vou tomar dos teus (sacou o galicismo?) e te levar por eles até a gênese de uma obra de arte, onde tudo começa, onde a arte não sabe ainda que vai ser arte.
E tudo começa na cabeça, sempre na cabeça, e foi assim que tudo começou: numa noite dessas eu estava saindo do meu plantão no aeroporto quando eu percebi que tinha uma blitz lá na frente, num trechinho antes de desembocar na Linha Vermelha. Foi então que a ficha caiu: será que era uma blitz falsa? Não dava mais pra me desviar e eu estava devidamente encrachazado, tinha me esquecido de tirar aquela estrela enorme pendurada em mim (você já viu um crachá da Receita Federal?, o cara que bolou aquilo devia ter complexo de xerife), se eu não conseguisse escondê-lo direito e fosse uma falsa blitz, eu tava fodido — neguim com certeza ia pensar que eu era um meganha da Polícia Federal, e até eu tentar explicar que jacaré não é peixe, já teria levado umas três azeitonas nas idéias.
Puta que pariu!
Mas aí é que entra a cabeça: eu comecei a imaginar, talvez como uma defesa mental inconsciente, que em vez de mim quem estava ali dirigindo era o Mendonça, que é um meganha do aeroporto que não vale porra nenhuma, e que aquela blitz era uma falsa blitz mesmo, e que eles iam parar o Mendonça, iam descobrir que ele era meganha e aquele filho da puta do Mendonça ia se foder. Claro que antes de matarem o Mendonça, eles iam prendê-lo em algum barraco escondido da Vila do João, e eu já imaginava a cara do Mendonça se cagando todo, fingindo que era bonzinho, chefe de família e o caralho, que compreendia as diferenças sociais, que a culpa de tudo era desses governantes que não valem nada, que os malandros podiam soltar ele numa boa, que eles podiam ficar com o carro que o carro tinha seguro, que ele não ia fazer nada depois… (porra, a cabeça da gente é tão foda que até eu já estou começando a achar que o Mendonça é um santo). Mas bandido não é trouxa não, né?, e o Mendonça ia mais era se foder mesmo, rá, rá rá! Mas aí, sei lá, eu imaginei que o Mendonça conseguiu fazer alguma manobra e inverteu a situação, os bandidos é que estavam agora sob o seu controle e quem ia se foder eram eles, eu podia até ver a cara de facínora dos bandidos, quer dizer, do Mendonça, pior que a dos bandidos, porque pelo menos os bandidos têm a favor deles a barra social, mas o Mendonça não ia querer saber, ia enfiar a pistola na boca de cada um deles e ainda ia tripudiar dizendo que eles eram uns tremendos babacas de terem acreditado nele antes, e depois de despachar os caras, ia chegar em casa e ver televisão com a mulher, o filho e o cachorro, como se não tivesse acontecido nada, dizendo que chegou mais tarde por causa de algum incidente de trânsito qualquer, com a cara mais enfadonha do mundo.
O Mendonça é o cão!
Mas aí eu pensei de novo, e se ao invés do Mendonça fosse o Fernando Bode (não é sobrenome não, é que lá tem dois Fernandos, e ele tem uma barbichinha)? O Bode é um outro meganha do aeroporto, gente boa pra caralho, um cara sério, foi da seleção brasileira de vôlei, quer dizer, ele diz que foi, eu não me lembro de ter visto o Bode jogando em nenhum jogo da seleção, aliás, eu nunca vi o Bode jogando em time nenhum, mas eu também não manjo muito de vôlei e isso também não tem nenhuma importância. Com certeza o Bode jogou em algum time de vôlei por aí, ele é formado em educação física com especialização em vôlei — diz ele que nos jogos de Atenas foi junto com a delegação brasileira (vai ver foi fazer a segurança) —, mas a vida de atleta não devia estar dando muito pedal e em algum momento ele resolveu prestar concurso pra Polícia Federal. Tá cheio de gente com formação em educação física na Polícia Federal, na minha opinião são os melhores agentes, eles não entram na Polícia numas de se dar bem, descolar umas tretas; eles tão mais afim é de uma vida de ação, andar de helicóptero, dar uns tiros por aí — o que na cabeça deles deve ser uma coisa muito divertida —, recebendo, com certeza, um salário muito maior do que a maioria dos professores de educação física… e quando eu vi, eu ainda estava com o crachá pendurado, passando em plena blitz, e ninguém me parou. Carro de duro, devem ter pensado, e até hoje eu não sei se aquela blitz era verdadeira ou falsa.
Bom, bem ou mal eu fiquei mais relaxado e continuei pensando naqueles caras da Polícia Federal quando, de repente, me passou a seguinte questão pela cabeça: Será que o Bode já matou alguém? O Mendonça já deve ter até perdido a conta. A pergunta era: o Bode? Claro que ele já deve ter matado, eu mesmo me respondi, afinal ele não anda com aquela pistola na cintura só de chinfra. Mas, porra, o Bode não é o Mendonça, não nasceu assassino, o barato dele é esporte, vôlei. Aí a pergunta se refinou, se um cara feito o Bode já matou em serviço, como deve ter sido a primeira vez? Caralho!!!, isso dá um puta conto, será que eu consigo escrever?! Eu nunca matei ninguém, eu não tenho essa vivência (se é que matar alguém pode ser chamado de vivência). Mas, porra, no aeroporto eu convivo vinte e quatro horas, duas vezes por semana, com caras feito o Mendonça e o Bode, principalmente com o Bode, com quem, por razões óbvias, eu tenho mais afinidade, e além do mais a gente já chegou a trabalhar junto em algumas forças-tarefa. É claro que a cabeça dele é diferente da minha, afinal eu fiz concurso pra Receita e ele pra Polícia, mas ela não me é totalmente estranha, eu acho que sou capaz de entender o seu funcionamento.
O desafio estava lançado, escrever o conto.
O problema passou então a ser os detalhes, o interior do personagem caprino eu creio que dominava, mas e o exterior?, os detalhes, que tipo de operação ele estaria fazendo pra ter que matar alguém?, qual arma ele usava? Se eu enveredasse por essa linha, eu tinha medo de ficar tudo soando meio falso, inverossímil. A verossimilhança, na verdade, é uma das grandes criações da ficção; a realidade, na realidade, caga montanhas pra verossimilhança. Mas eu me propunha a escrever um conto — ficção —, como é que eu ia sair dessa? Melhor esquecer… Mas, porra, perder um personagem feito o Bode? O trânsito fluía semi-engarrafado, e debreando e acelerando, desacelerando e debreando, começaram a surgir umas frases soltas na minha cabeça, a princípio meio desconexas, quer dizer, absolutamente conexas, mas em estado bruto, sem aquela costurinha que a gente tem que fazer depois pra ficar tudo mais fluido. Achei melhor desligar o rádio pra não ter muita interferência nesse fluxo mental, e, de repente — bong! — em três frases redondas eu tinha o début do Bode matando alguém. Puta que pariu, tava bom demais!!!
E se eu esquecer as frases?!, é tudo tão rapidinho, relampejante. A caneta!, meu reino por uma caneta! Porra!, onde eu botei a caneta? Putz!, quase que eu bato… achei!! Vou aproveitar essa paradinha rápida, vai nas costas do contracheque mesmo, pronto (vai buzinar no rabo da tua mãe, babaca!).
Eu quase gozei…
Mas, imediatamente, eu me esburaquei numa depressão, mais ou menos como acontecia na seqüência das punhetas que eu batia quando era menino, onde logo depois da euforia fabricada eu me achava o ser mais desprezível do mundo. “Punheteiro!”, retumbava uma grave voz dentro de mim. Será que escrever é uma espécie de masturbação? “Punheteiro!”, eu achava as três frases brilhantes, mas não me sentia capaz de inseri-las numa estrutura maior sem estragar tudo.
Merda!
Como é que eu ia resolver a questão dos detalhes? O crucial do conto eu já tinha em três frases, o Bode, quer dizer, um agente tipo o Bode, matando alguém pela primeira vez. Aliás, eu nem chegava a definir com clareza que era um agente em serviço, ficava tudo meio no ar, alguém matando alguém numa concisão quase que asfixiante, mas… e os detalhes? Eu decididamente não me achava capaz de resolvê-los sozinho.
Claro!, como é que eu não havia pensado nisso antes? A solução era simples, eu chegava em casa, dava uma olhada nos livros do Rubem Fonseca, via como é que ele descrevia estas situações e fazia igualzinho, botava lá no texto uma pistola Glock e o caralho a quatro, e estava tudo resolvido. Eu só estava me esquecendo de outro detalhe: eu não era, não sou e nem serei o Rubem Fonseca. Quer saber? Vai ver nem o Rubem Fonseca é o Rubem Fonseca mesmo. Ele tira a maior marra de que foi delegado e coisa e tal (depois de alguma fama, certo lado dark é o arremate perfeito), mas, porra, o meu pai foi funcionário da Light a vida inteira, e desde pequeno eu ouvia o velho falar que tinha um cara que trabalhava lá com ele, o Zé Rubem, que também era escritor, e pelo que eu saiba, a Light nunca foi uma delegacia. Teve até um caso na minha adolescência que foi engraçado. Eu não sabia, assim, que carreira eu ia seguir, qual o vestibular que eu ia fazer. Eu queria ser artista, ou melhor, eu achava que era artista, o fato de eu nunca ter feito uma única obra de arte na vida era uma questão menor, coisa momentânea que seria resolvida oportunamente. A minha mãe não se conformava com isso e vivia enchendo o meu pai: “Por quê que você não leva esse menino pra ter uma conversa com o Zé Rubem, afinal ele é um intelectual, um escritor, mas tem também um bom emprego, um salário garantido. Uma coisa não exclui a outra”. “Eu não vou levar ninguém pra falar com aquele metido!”, o meu pai respondia. Se o Zé Rubem era metido mesmo, eu não sei. Eu acho que o meu pai tinha era uma ponta de inveja dele, que naquela época já era bastante respeitado como escritor. Agora… que ele é marqueteiro é, né? Você já viu algum recluso com tanta discípula? Só mulher?
E por essas e outras, eu acabei perdendo a oportunidade única de conhecer o Zé Rubem, na ocasião já um bem-sucedido protótipo do grande Rubem Fonseca. E quer saber? Vai ver esse Zé Rubem lighteiro que conviveu com o meu pai durante anos era apenas um despiste em relação à sua verdadeira identidade. Ou então, antes dos anos Light, ele foi delegado mesmo por uns quinze minutos em algum outro lugar, sei lá. Convenhamos, qualquer biografia também merece ser tratada como ficção. No fundo, a verdade é que nem jogo do bicho: vale o escrito… vale mais o bem escrito.
Então a ficha caiu de novo. O conto já estava pronto, não precisava de mais nada: em três linhas eu entronizava na cabeça do leitor a estranha banalidade do ato de matar alguém pela primeira vez. A narrativa na primeira pessoa fazia com que ele sentisse diretamente na própria boca o inusitado sabor de derramar o sangue alheio. E se depois de terminada a leitura ele ainda resolvesse tomar um banho, inconscientemente se lavando do acontecido — como fez o personagem —, ficava perfeito. Só faltava pôr o título.
O título!!!!!!
Sou sugado por um novo buraco negro. O título de um conto é diferente do de um romance. Não é assim como nome de cachorro, que você chama Rex ou Bobby e está resolvido o assunto, em dez minutos o cachorro já está atendendo por Bobby ou Rex, sentando e dando a patinha. O conto é um potro arisco, não aceita um encilhamento qualquer. O título tem que ter certa dialética com as suas entranhas, ou está tudo perdido. Eu quase não acreditava, alguns segundos atrás eu era o homem mais feliz do mundo… O conto era muito conciso, as suas entranhas apertadas demais para eu conseguir penetrá-las e fisgar de lá um título. Uma obra-prima de concisão… perdida.
Foi só…
Caraaamba!!! Foguetes aos céus — pou! pou! pou! Espocar de rojões, achei um título! Sem querer eu tropecei nele: Foi só…, com reticências e tudo, era este o título (porra, eu adoro reticências — possuem beleza gráfica, sugerem coisas não ditas — por que será que o seu uso é tão reticente?). Resolvido, cheguei em casa, gravei tudo rapidinho no computador, comi um troço, tomei uma cerveja e fui dormir.
No dia seguinte, eu tava de folga e acordo sem porra nenhuma pra fazer, meio embrulhado naquela ressaca pós-criação (um bode pós-Bode), e só pra matar o tempo eu fiquei imaginando como é que eu faria o conto antigamente, quando eu… ainda não era eu, e não seria capaz de identificar uma obra-prima em somente três linhas (às vezes eu acho que a verdadeira questão da arte não é a criação, mas a sua identificação). Voltei a pensar de novo nos detalhes, como eu resolveria o arcabouço do real: a verossimilhança? Que operação era aquela? Por que houve uma morte? Quem era o cara que morreu? Eu já tinha dado a versão de três linhas como pronta e acabada, estas perguntas agora eram só uma coisa lúdica pra distrair, não eram mais uma ansiedade, uma questão de vida e morte — o conto era de vida e morte, eu estou me referindo à elaboração do conto (não chateia!, você está me entendendo que eu sei).
Comecei, então, narrando tudo outra vez, explicando agora com mais clareza que era a primeira operação de um agente novato da Polícia Federal — saquei, então, que não havia necessidade de definir exatamente o que era essa primeira operação, o fato de ser a primeira bastava. Nessa nova versão usei a terceira pessoa, era uma maneira de ver a operação com algum distanciamento, ou seja, eu só precisava descrever a superfície da operação, não precisava destrinchar muito o seu lado interno. Fui tocando o barco seguindo esse viés, sem dar muita explicação. Você tem sempre que deixar algumas lacunas no meio, que é pro leitor ter que pensar um pouco e se virar sozinho (quem recebe tudo mastigado acaba se sentindo tratado como um idiota). É preciso fazer o leitor se sentir sagaz — mesmo os mais idiotas. Mas chegou numa hora em que o grande idiota era eu, escrever sobre o que você não conhece é que nem ficar com a bunda de fora virada pra praia quando você fura uma onda e o seu calção está frouxo. A cabeça do Bode eu conhecia, mas alguns dos bastidores por onde ela circulava me eram estranhos. Eu já falei que tinha participado de umas forças-tarefa com ele, mas foram umas operaçõezinhas merrecas, pra pegar muambeiro pé-de-chinelo. Eu nunca tinha participado de uma operação fodona com a Polícia Federal.
Quer dizer, uma vez eu quase levei uns tiros na Avenida Brasil, quando eu voltava pro aeroporto com o Bode, depois de levar pra Polícia Federal da Praça Mauá um cara que tava tentando sair do Brasil com cem mil dólares escondidos na cueca (sempre ela — a Ralph Lauren devia lançar um modelo de cueca para as elites brasileiras já com porta-dólares embutido). Não, não era um político não. Era um executivo de uma dessas empresas ponto com. Mas a grana de virtual não tinha nada, devia ser caixa dois, três… sei lá. Só sei que a gente teve que levar o cara pra Praça Mauá porque o delegado de plantão do aeroporto tinha dado uma saída e o celular dele estava fora de área (devia estar comendo alguma escrivã pelas redondezas, achando que àquela hora — era quase meia-noite — não ia acontecer mais porra nenhuma). O jeito foi levar o cara pra delegacia da Praça Mauá, e precisavam de alguém da Receita junto, porque o flagrante rolou na hora do embarque, que também é uma área jurisdicionada pela Receita. Como eu já tinha trabalhado com o Bode antes, nas forças-tarefa, adivinhem quem foi o designado para o acompanhamento?
Na ida foi tranqüilo, eu fui com o cara na viatura do Bode, no meio de um comboio de meganhas, tudo de janela aberta, as metralhadoras pra fora. Parecia uma procissão de porcos-espinhos. Quando a gente chegou lá, a meganhada do comboio foi embora e sobrou pra mim e pro Bode. Enquanto o elemento era interrogado numa sala ao lado pela equipe da delegacia, eu e ele tivemos que xerocar sozinhos aquelas notas todas, fazendo aparecer o número de série de cada uma, porque a porra daquelas notas eram a prova material do crime e o caralho.
Aliás, ainda bem que só sobrou pra nós, porque o Bode é um cara certinho que eu sei, e ele não ia fazer nenhuma presepada de sumir com nota ou coisa parecida. Já eu, até hoje ainda não sei direito se eu sou honesto, cagão ou incompetente (talvez um pouco de cada). Agora, trouxa eu sei que não sou. Teve uma hora que me deu vontade de fazer um pipi e aí o Bode ficou tomando conta das notas enquanto eu fui ao banheiro. De repente, eu estou lá dando a minha mijada e quando eu vejo, atrás de mim, aparece o delegado, puxando um papo meio esquisito, tipo cerca-lourenço. Eu dei uma de mané, fingi que não estava entendendo nada: ou ele era era viado, ou tava a fim de uma acerto.
Deixa pra lá, o que vale é que no final deu tudo certo: graças a Deus o Bode não teve vontade de mijar, e a gente conseguiu contar, xerocar e lacrar todas as notas, sem nenhum incidente. Claro que, dias depois, o acusado disse que tinha desaparecido parte do dinheiro, que o valor era maior do que aquele relacionado nos autos, que o depoimento tinha sido assinado sob coerção e o caralho. Filho da puta (ele foi tratado com a maior consideração, arranjaram até uma cela separada pra que aquela bundinha branca dele dormisse bem sossegadinha)!
Fica com a versão que você quiser, pra mim tanto faz, eu já estou acostumado. Um aeroporto internacional de certa forma é uma fronteira, e uma fronteira é sempre uma área de sombra.
O foda, mesmo, foi quando o Bode e eu voltamos na viatura dele pro aeroporto, com o dia quase raiando. A viatura do Bode era um carrinho desses comuns, igual a qualquer outro, a única diferença é que tinha aquela bolota de piscar presa no teto, que o Bode esqueceu de ligar. Quando a gente estava quase entrando na Linha Vermelha, um carro surgiu do nada, cheio de negão dentro, e abalroou a gente pelo lado do carona, onde eu estava sentado. Porra, eu não tô sendo racista, só tinha negão mesmo, o quê que eu posso fazer? Maquiar a realidade com pó-de-arroz? Tá bom, se isso te tranqüiliza, eu juro que da minha biografia oficial eu faço constar que naquele carro havia um anglo-saxão, um índio, um japonês e um afro-descendente, que é pra ficar bem equilibrado. Aliás, daqui a pouco é bem capaz de rolar esse negócio de cota na literatura também. Já pensou, cada conto ou romance tendo que contar com a inclusão mínima de vinte por cento de personagens negros de alto nível sócio-econômico, tipo médico, economista ou advogado? Pelo menos na literatura ninguém ia morrer por causa de erro médico de cotista mal preparado.
Mas o Bode não quis saber se era branco, preto ou índio. Puxou a pistola que ele usa sempre, pra fetiche da mulherada, displicentemente presa na cintura, passou com ela cuspindo fogo debaixo do meu nariz — tac! tac! tac! (o barulhinho é meio seco, diferente do cinema) — e jogou o carro em cima dos caras, acendendo a bolota e ligando a sirene — uó! uó! uó! A galera debandou no ato sem entender nada: o passarinho indefeso que eles iam atacar tinha virado um dragão. Foi tudo tão rápido que nem deu tempo de pensar na peneira que eu ia virar se eles revidassem… nem de checar se a pistola era uma Glock.
De volta para a ficção (se é que é possível sair). Eu já havia dito que o personagem era um agente novato numa primeira operação, era o suficiente, não havia necessidade de alongar mais. Resolvi, então, meter a narrativa dentro da cabeça dele — mesmo sendo na terceira pessoa, não tem problema, funciona mais ou menos como no cinema, quando a câmara sai de um plano geral, se aproxima e fecha num primeiro. O foco agora era o interior do personagem, o que ele estaria sentindo naquele momento: o cagaço que deve pintar, a sensação de que pode dar tudo errado, de que ele pode se foder todo… Aí eu aproveitei a deixa pra dizer que ele sofria por causa de uma separação recente. Era uma forma de aproximar um pouco mais o personagem do universo do leitor, que provavelmente jamais participou de uma operação da Polícia Federal (não conto com o Mendonça e o Bode como possíveis leitores), afinal, todo mundo já sofreu uma separação qualquer, nem que tenha sido das fraldas. E quando o leitor, quase que mediunicamente, incorporava o personagem, era imediatamente surpreendido pelo prosaísmo nada prosaico de ter matado alguém pela primeira vez. Um toque final: ao fundo ecos do programa do Faustão vindo de alguma televisão dos arredores, e pronto, o absurdo se assentava docilmente num domingo. E com essa mesma cajadada eu resolvia o título (não dava mais para ser Foi só…, que não deixava de ser uma jogadinha também com as três linhas da versão anterior). O conto, agora, passava a se chamar Domingo.
Repito, o título é crucial, tão crucial para um conto como deve ser a sua a primeira frase. Só que ao invés de jogar o leitor no bojo do conto, como uma primeira frase bem-sucedida, o título é uma espécie de procedimento pré-cirúrgico, uma assepsia que se faz na cabeça do leitor para prepará-la melhor para o seu recebimento. O cara vai ler um conto chamado Domingo, a primeira coisa que ele imagina é que vai ser um passeio em Paquetá ou coisa parecida, relaxa todas as suas defesas e quando se dá conta está com um corpo tombado diante dele… tombado por ele.
Não se preocupe, eu não estraguei nada contando tudo antes, pelo contrário, eu só apurei os seus sentidos para uma leitura mais afinada, você não vai mais ter que ficar prestando a atenção no enredo. Os autores e leitores de policiais que me perdoem, mas o enredo só serve pra atrapalhar. É como se ele fosse uma espécie de legenda, se você precisar seguir acaba perdendo as nuances do filme, que é aquilo que está acontecendo lá atrás. Por isso eu te recomendo, seja lá qual for o livro, leia antes a orelha, o prefácio, o posfácio, as resenhas, os fundilhos… tudo! Leia tudo o que for possível antes de pegar o livro. Como encarar um Borges sem os seus espelhos? Ele mesmo já fazia um prologozinho do que escrevia, que é pra ninguém se enredar além da conta nos seus labirintos. E Kafka? Já imaginou ler Kafka sem qualquer preliminar? Seria, por assim dizer, demasiado kafkiano.
Nenhum escrito, fora de seu contexto, é inteligível. A famosa frase “Ivo viu a uva”, não fosse a cartilha, quantas perguntas poderia suscitar? Quem é Ivo? Por que é que ele viu a uva? Que uva? Ora, somente no contexto “cartilha” esta frase se assenta em seu significado justo: Ivo é aquele que viu a uva (…e foda-se o Ivo, e foda-se a uva).
Toma, as duas versões estão aí. Lê você sozinho, em silêncio. É melhor. O cérebro também tem a sua respiração, o seu ritmo interno. Chega de oralidade, nem tudo é boquete.
Os acontecimentos e personagens relacionados no presente texto são todos fictícios, criados com o propósito único de desencadear idéias e possíveis reflexões. (Vai que o Mendonça lê, né?)