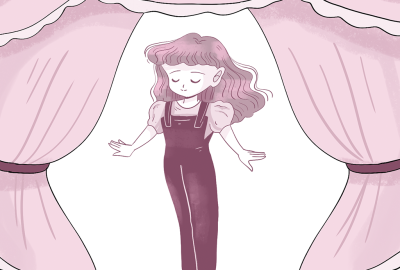1.
Num texto sobre Mandelstam, Brodsky diz que Petersburgo é o berço da prosódia russa. Observação semelhante poderia ser emitida a respeito da Broadway, a longa avenida que atravessa — como a cicatriz na barriga de um transplantado — a ilha de Manhattan. E isso, essa levada tão americana, é tocada provavelmente desde Whitman, que zanzou por essas esquinas (“Tu, multicolorida como o próprio mundo”, escreveu o poeta em Broadway), até ser cristalizada naquele ritmo ianque-ítalo-judaico-latino-negro-cantonês possível de ser captado desde o mínimo sussurro até o alarido, passando por gradações sonoras que vão da cólera ao prazer, do segredo comercial à pregação religiosa.
Foi para ouvir esse ritmo — e para cruzar a Broadway de ponta a ponta – que desembarquei da Estação Bowling Green do metrô nova-iorquino numa fria manhã de novembro. Fazia seis graus, havia sol, eu estava bem alimentado pela mistura de pães, ovos e rosquinhas fornecida pelo hotel. Há meses, ainda em São Paulo, eu havia decidido percorrer a pé os 21,5 quilômetros de extensão da avenida dentro de Manhattan. Eu havia pesquisado a respeito, inclusive tendo percorrido — graças ao Google Street View — todo o caminho, atento aos possíveis percalços. Surpresas não estavam nos meus planos. Sou pouco afeito a elas. Certamente a longa Breedeweg dos holandeses serpenteia até o Bronx, depois de uma ponte ao norte. Continuar para além-Bronx estava completamente fora dos meus planos, contudo.
2.
Hesito em qualificar o que fiz como uma aventura — seria no mínimo uma malversação do sentido original da palavra. Mas se é possível alargar um pouquinho o campo semântico, o que empreendi foi um fiapo daquilo que habitualmente chamamos de aventura, a única odisséia possível para alguém como eu, irremediavelmente urbano, fraco, assombrado por um sem-número de temores (doenças transmissíveis pelo ar, violência gratuita, pessoas com capuz, a verdadeira zona morta que é a luz emitida entre o final da tarde e o início da noite, etc.) e sem a menor vocação para uma vida movimentada. Se o tipo de atividade que eu realizei se tornasse um esporte profissional, só consigo me imaginar sendo patrocinado pela Aspirina.
Não é preciso ser atleta, claro, para fazer todo o percurso a pé. O fato é que tenho vocação para a caminhada longa. Porém nunca me aventurei a correr. Não tenho fôlego. Também não pareço contar com a paciência e a disciplina do corredor regular. De todo modo, sou capaz de caminhar em um bom ritmo — num daqueles ridículos trotes de manequim que acabou de receber um sopro de vida, um desses golens amalucados a bordo de um Asics — e não ficar exageradamente cansado depois de algumas horas em movimento.
3.
O Google Maps estipula em quatro horas o percurso a pé de uma ponta a outra de Manhattan. Pois a Broadway começa bem ao sul, naquele emaranhado de ruas ainda longe do grid desenhado pelo grupo de visionários que em 1807 retraçou a cidade (apinhada por mais de 100 mil almas ao sul e quase despovoada nas fazendas mais ao norte), criando ruas e avenidas numeradas. À direita a antiga possessão holandesa, à esquerda a velha cidade inglesa, ruazinhas tortas e estreitas, às vezes lembrando muito a região do Triângulo, no centro velho de São Paulo, mas ainda assim infinitamente mais potáveis.
São inacreditáveis as metamorfoses pelas quais uma avenida como a Broadway passa ao longo de toda a ilha. Desde seu início ainda nos arredores do centro financeiro, a Broadway parece personificar o espírito de cada vizinhança cindida por ela. Comercial, espetacular, residencial, devastada, às vezes quase invisível. Capital, produção, imaginário, refugo de todas essas encarnações do capitalismo nas cidades, a Broadway avança, retrocede no tempo e no espaço. Personagens mudam da noite para o dia. Ambientes se tornam irreconhecíveis em menos de uma geração. “Como acontece tantas vezes em Nova York, o bairro mudou. As sinagogas viraram igrejas, as yeshivas restaurantes ou estacionamentos”, escreve Isaac Bashevis Singer num de seus contos americanos, O cabalista de East Broadway. Singer encarnou um pouco essa mistura entre história pessoal e geografia que distingue a mobilidade social nas grandes cidades. Num álbum do fotógrafo Bruce Davidson sobre o Lower East Side, o velho bairro judeu, é possível ver o escritor em duas imagens altamente significativas. Na primeira, ocupa uma mesa na Garden Cafeteria (na altura do número 165 da Broadway), hoje desaparecida, mas que já foi o reduto tanto de uma intelectualidade judaica do leste europeu — a sede do jornal Forvetz, o então poderoso diário de língua iídiche, ficava ali perto — quanto dos tipos mais desmazelados que lá iam para engolir um grude qualquer, como mingau de aveia, sanduíches e sopa de matze ball.
Na segunda imagem captada por Davidson, Singer refestela-se (tomando notas em seu bloquinho) num banco no canteiro central da mesma Broadway, porém já na altura do Upper West Side — parecendo personificar o percurso clássico da afluência imigrante, aquilo que em termos paulistanos seria como ir do Bom Retiro a Higienópolis em uma geração. Poucos quilômetros de distância, mas um grande salto temporal. Foi ali no Upper West Side, em um apartamento do imponente edifício Belnord na rua 86 com Broadway, que o escritor nascido na Polônia passou a viver desde sua consagração no meio literário até sua morte em 1991. A esta altura os fantasmas e o gueto eram apenas literatura.
4.
Ainda no Lower East Side, esse atual reduto de jovens endinheirados e de artistas badalados, renascido depois de décadas de crime e abandono. Foi aqui, há pouco mais de 100 anos, que Abram Charmacz, meu bisavô, chegou para ganhar a vida. Tinha 25 anos, era casado, deixara a família na Lituânia e embarcara num navio no porto de Roterdã. Mandaria buscar mulher e filhos quando fizesse algum dinheiro. Uma típica odisséia de imigrante, não tivesse dado tudo completamente errado. Judeu praticante e pio, suportou durante apenas dois anos o trabalho como carregador de carga, que não lhe privava do tempo para freqüentar a sinagoga diariamente, e retornou ao Velho Mundo. Quando morreu, nas primeiras semanas da ocupação nazista na Lituânia, seu filho Samuel já estava a salvo, com mulher e quatro filhos (meu pai entre eles) em sua versão muito particular da “América”: Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
5.
Esqueço meu voice recorder ligado durante cerca de um minuto dentro do bolso do casaco e agora, meses depois, me deparo novamente com a paisagem sonora da Broadway. É curioso pensar que, com tanto avanço na área tecnológica, pouca gente hoje se preocupa em estabelecer uma cartografia sonora das nossas maiores cidades. De certa forma a poesia do alto-modernismo e, mais tarde, compositores como Steve Reich e Lou Reed (no caso nova-iorquino), fizeram isso em seus próprios termos. O fato é que parece um pouco intolerável escutar o barulho infernal sem estar no seu ambiente original, onde podemos nos distrair com as placas e os letreiros luminosos, as vitrines, os semáforos e a presença efêmera de outras pessoas que passam sem parar diante de nós. Eu poderia dizer que a experiência dos cegos é semelhante, mas claro que não é: os cegos enxergam com a audição. Nós, que não somos privados do sentido da visão, seríamos engolfados rapidamente pelo turbilhão da cacofonia, como aqueles personagens de Saramago.
Ficaram gravadas as famosas sirenes de Manhattan, que são, de longe, o grande souvenir auditivo que todo turista leva consigo para casa, a milhares de quilômetros dali, o rugido do vento daquela manhã seca e fria, vozes distantes discutindo algo, uma voz feminina — anasalada, musical e algo infantilóide, padrão entre muitas nativas —, o rugido de um caminhão gigantesco, mais sirenes. É preciso que alguém ainda explique o fascínio local pelo constante aviso de perigo proporcionado pelas sirenes.
Estou a essa altura (pelo que posso aferir do cruzamento entre o arquivo do voice recorder e minhas anotações) em pleno Chelsea. A pouco mais de uma quadra daqui está o prédio do YIVO, o instituto científico judaico que reúne em seu acervo as pesquisas de Max Weinreich (1894-1969). Filólogo erudito, Weinreich escreveu uma enciclopédica história da língua iídiche que hoje pode ser lida em dois volumes traduzidos para o inglês. Nela se descobre que o iídiche surgiu como língua popular às margens do Reno há mais de mil anos, e que mais tarde se tornaria a verdadeira voz — na literatura, no teatro, na canção popular — dos judeus do leste-europeu. Graças à imigração maciça para o Novo Mundo, foi entoado por pelo menos duas gerações de nova-iorquinos.
Essa voz iídiche influenciou e se deixou influenciar bastante pela cidade de Nova York. Pense na entonação dos personagens de Seinfeld, ou nos filmes de Woody Allen. Tin Pan Alley, a região que concentrava os escritórios das editoras musicais (que forneciam o grosso das canções entoadas nos musicais da Broadway), contava com um numeroso time de letristas e compositores cujo idioma materno era o iídiche. Insultos eminentemente locais como “potz” (estúpido) e “schmok” (idiota), além de verbos como “schlep” (zanzar), são derivados dessa espécie de alemão que se escreve com o alfabeto hebraico. A prosódia também foi contaminada por tais vozes antigas. Em que outro lugar do mundo um porteiro porto-riquenho de hotel polemiza e se lamenta em inglês com a mesma música que tocava a minha avó Sarita (em português e em pleno Bom Fim porto-alegrense)?
6.
O que falar — e que já não tenha sido dito profusamente — dos arredores de Times Square? Os letreiros, o néon, os teatros, os milhares de turistas à espera do primeiro malandro golpista que irá constrangê-los até que seja aceita sua indicação para comer em um chinês suspeito das redondezas. Na parede do restaurante, o turista incauto irá se deparar com inevitável cartaz que ensina a fazer a Manobra de Heimlich, a danse macabre em que a vida de alguém severamente engasgado é salva graças à pressão no diafragma, que provoca uma tosse, e assim o naco de comida preso na traquéia é expelido.
Aqui, a Broadway parece não ser mais do que um corpo infeccioso. Em se tratando de um lugar espetacularizado como Times Square, a analogia não é das mais cruéis. Sua “doença”, essa mistura de Rei Leão com a cadeia de fast food Wendy´s, de consumo conspícuo de memorabília made in China com o chamado “clima familiar” (todas as asperezas do erotismo foram limadas numa controversa repaginação, anos atrás, desse pedaço da cidade) é, afinal de contas, o espírito do nosso tempo. Todas as cidades se parecem, ou querem se parecer, com aquela entrevista nas luzes estridentes e algo diabólicas de Times Square, o melhor cenário para um filme-catástrofe.
7.
What-are-you-doing-in-my-hood?, pergunta num só fôlego o meninote, não mais do que 10 anos, boné dos Yankees no alto da cabeça e mochila nas costas, assim que eu atravesso uma esquina. Não é preciso consultar o mapa. Já dá para saber que cheguei ao Harlem. Meu pequenino Virgílio em idade escolar nem precisava ter se prestado a esse papelão. Neste pedaço da cidade fica bastante claro que o melting pot norte-americano é uma imagem inexata. Não passa de conversa para boi dormir. A propalada integração é uma fantasia. Seria mais verossímil comparar a diversidade e a interação entre os grupos étnicos dos EUA com uma daqueles típicos bandejões em que cada alimento tem seu nicho próprio: a carne do dia à esquerda, o arroz ou as batatas à direita, salada no campo superior esquerdo e assim por diante.
Eu tinha acabado de deixar o Upper West Side e Morningside Heights, afluência e conhecimento de ponta num mesmo quadrante (os diversos prédios da Universidade de Columbia ocupam diversas ruas da região), poucos afro-americanos circulando se não estivessem carregando caixas de um lado a outro ou atendendo nos balcões das lojas, e agora chegava ao coração negro não só de Nova York, mas de todo o país. Desde que deixou de ser, ainda nos primórdios do século passado, um bairro alemão com fraüleins pedalando de vestido e cervejarias nas esquinas, o Harlem é o imenso tambor que transmite o pulso da cultura negra para o mundo. Claro que partes devastadas do Brooklyn e do Bronx deram sua contribuição desde os anos 1970 (a cultura do hip hop, por exemplo), mas foi aqui nessas ruas, hoje em pleno processo de gentrificação, que a cultura negra se afirmou, reescreveu sua própria história e floresceu como em poucos lugares.
Ainda sobrevive, contudo, o Harlem das moradias populares, os tenements (cortiços), onde numerosas famílias se amontoam em conjuntos de prédios unidos por um pátio comum. Troque-se o figurino das crianças pulando corda por algo mais empoeirado e é possível sentir-se dentro de um daqueles retratos tirados por Jacob Riis, o jornalista e reformista social nascido na Dinamarca que registrou (em tom de denúncia) a vida lastimável dos nova-iorquinos pobres do final do século 19 e início do 20.
Muito a propósito o livro mais famoso de Riis intitula-se How the other half lives (“Como vive a outra metade”), libelo contra as condições subumanas da massa imigrante que fornecia a mão-de-obra da cidade, essa “outra metade” que fazia Nova York avançar em direção ao futuro. São imagens ainda hoje eloqüentes e até ríspidas. Ao contrário de outros fotógrafos, o olhar de Riis não parece compassivo: ele deixa as lágrimas e os sentimentos nobres para quem contempla seus retratos. O que se vê nas imagens é a pobreza como ela sempre foi: sem sentido, brutal, animalizante.
8.
Avanço pela Broadway. Já estou perto de Washington Heights. Na altura do Cemitério Trinity — separado por uma esquina do vetusto neoclássico que abriga a Hispanic Society of America — uma senhora negra, magra e alta pergunta se eu falo inglês. “Sim”, eu respondo. Ela já estava no meu radar. Segundos antes eu a havia visto abordar outros dois sujeitos morenos e de cabelo muito liso que balançaram a cabeça negativamente. Já esperava, portanto, seu contato. Chorosa, ela então me mostrou a foto de um garotinho (negro, mirrado e sorridente), dizendo que era seu neto, que ele estava no hospital e que ela precisava de dinheiro para remédios. Emiti um “I´m sorry” algo encabulado e voltei à caminhada, não sem antes experimentar o mesmo tipo de sensação que me açoda nas ruas de Higienópolis mais ou menos perto do Natal, quando um sujeito careca e enfatiotado me pede uma contribuição para pagar os remédios da esposa hospitalizada. Um dia, depois de ter sido abordado por ele pelo terceiro ano consecutivo, perguntei se a mulher estava hospitalizada esse tempo todo ou se o mal dela se manifestava perto do final do ano, numa espécie de recaída sazonal. Ele bateu em retirada e nunca mais teve coragem de falar comigo.
9.
Em Washington Heights, bem ao norte da ilha, é possível vislumbrar algo que quase não se percebe em Manhattan: a natureza. Este é um bairro irregular, com ruas que terminam abruptamente em paredões de rocha, repleto de árvores, algumas ladeiras. E um dos maiores índices de homicídios da cidade. O dinheiro que renovou outros bairros (e terminou por expulsar seus moradores originais) ainda não chegou por aqui. Há pobreza, mas uma pobreza norte-americana, é certo, e, como no Harlem, um maior número de franquias de cadeias de fast food do que no restante da cidade. A fome aqui foi trocada por gordura trans.
Para quem atravessou a cidade, o resto de natureza vislumbrado em Washington Heights parece desnecessário e até artificioso. Pois Midtown, com seus paredões de concreto e vidro, o rugido quase infinito das multidões e sirenes, os desfiladeiros entre prédios, tem hoje um aspecto paradoxalmente muito mais “natural” do que esses últimos fragmentos silvestres da ilha de Manhattan. Não se trata de resvalar no surrado clichê “da selva das cidades”. As grandes avenidas de Midtown ostentam um aspecto mineral quase que anterior à própria presença do homem, como o Grand Canyon.
E no entanto Manhttan só existe por ação do homem. O próprio Central Park é uma evidência disso, com sua paisagem domesticada. A natureza em Nova York é acessória e, mais ainda — diferentemente do Rio de Janeiro, claro, mas também de São Paulo — parece ter se domesticado a um ponto em que alcança a invisibilidade. É uma voz abafada e neutra nesse discurso composto pela cidade.
10.
Essa jornada acabou pouco antes das 14h45, na altura da rua 220. Sobre minha cabeça, a ponte que une Manhattan ao Bronx no trecho sobre o Rio Harlem.
Eu estava completamente exausto.
Antes de voltar — eu ainda precisaria caminhar uns poucos quarteirões abaixo para poder tomar o metrô que me levaria à parte mais ao sul da ilha — percebi que havia chegado ao ponto ideal. Tinha iniciado horas antes na ponta de baixo, onde afinal de contas tudo começou muitos séculos atrás (pelo menos para nossos padrões do Novo Mundo). Durante boa parte dos últimos 200 anos, e mesmo ainda hoje, milhões de pessoas quiseram vir para cá, e de fato muitas vieram, e outras tantas sequer estiveram por aqui, mas tornaram a própria vida mais suportável em aldeias sicilianas, lamacentos schtetls no leste europeu ou em favelas latino-americanas graças a esta perspectiva.
Sair da ilha, mesmo que fosse para continuar dentro de Nova York (e o Bronx faz parte da cidade), seria abandonar de alguma forma o ímpeto — de natureza romântica, é certo, mas também com algum fundamento histórico — que me levou a caminhar durante quatro horas quase sem pausa (uma parada para comer cachorro-quente no Gray’s Papaya de Verdi Square e outra para usar o banheiro num Mc Donald’s do East Harlem) ao longo de toda a Broadway. Enquanto girava 180 graus para descer algumas ruas até a estação de metrô mais próxima, pensei o quanto meu olhar pode ter sido (e foi) educado por filmes como Era uma vez na América, Faça a coisa certa, Bonequinha de luxo, Fievel – Um conto americano e dezenas de outros. Então entendi que, mesmo se eu não tivesse usado o recurso do Google Street View, eu já tinha visto aquilo tudo antes. Só não lembrava quando.