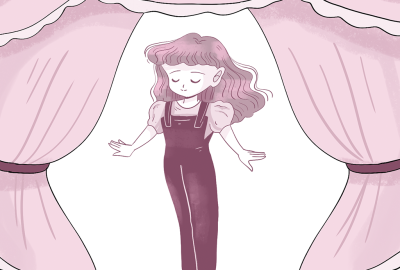Ficamos um bom tempo sem conversar. Eu me concentrava para perceber o efeito dos remédios. Já havia cheirado éter, antes. Dava uma vontade de rir, apenas, e passava rápido. Com os comprimidos a reação devia ser diferente, mais forte, imaginei.
Cirineu cavoucava o chão com um pauzinho, ficou nisso por horas. Foi ele quem começou.
Sabe o que eu gostaria de fazer agora?
Virei o rosto para indicar que escutava.
Escovar os dentes.
Comecei a imaginar a espuma, a boca mentolada, fresca, e entendi o que ele queria dizer. O gosto da coca-cola parecia sujar a boca. Tomei um gole, o gás limpou aquela sensação. A sujeira voltou em seguida, e a sede era maior ainda.
Se estou numa festa, vou até o banheiro e uso a primeira escova que encontro.
Você não tem nojo?
Tenho.
Eu também teria. Não quis falar para não ofender o meu amigo. Então me ocorreu sugerir que ele levasse sempre uma escova no bolso.
Já fiz isso. Dura dois dias, depois esqueço.
Não queria ficar pensando no problema de Cirineu. Esperava o momento em que os comprimidos começassem a agir. Eu ia gostar? Ver monstros? Distorções? Procurei uma veia em meu pulso. Ela pulava bastante, mas eu não sentia nada além de uma pequena ansiedade. Talvez eu fosse uma daquelas pessoas imunes ao efeito das drogas. Ou era uma questão de tempo.
Que planta é essa?, perguntei, já que estávamos ali.
Colza. A economia da cidade, Cirineu disse. Tem uma indústria aqui, reparou? É do que as pessoas vivem.
E o que se faz com ela?
Óleo de cozinha.
Passei a reparar melhor na vegetação. As plantas tinham quase um metro de altura e formavam, no conjunto, uma saia plissada de tamanho gigante. Ao tomar-se uma delas, individualmente, dava para ver que a haste central abria-se em apêndices para formar um candelabro pequeno e delgado que se replicava de espaço a espaço, tanto acima quanto abaixo. As folhas finas, de um verde bem escuro, pareciam mais pesadas do que o caule podia suportar. Seriam elas que, esmagadas, davam o azeite?
Não, ele vem da semente, Cirineu contou. Nunca sentiu o cheiro na cidade?
Ele tinha razão. Dia e noite havia um bafo de cozinha no ar. No começo senti um pouco de náusea, depois deixei de prestar atenção naquilo. Como em todo o resto.
Debaixo dos pés de colza podia-se ver a terra que, de tão vermelha, parecia estar em brasas. Era uma combinação bonita, o verde com a argila: uma cor fazia contraste para a outra ficar mais intensa. E por cima, o infinito, que na hora me pareceu a parede de uma caverna azul.
Com as mãos, recortei um quadrado imaginário na horizontal, depois na vertical, onde coubesse um pedaço de cada coisa.
Agora, não parecia mais uma plantação. Era mais uma bandeira de três listras — vermelha, verde, anil — o que eu via. Por causa do tamanho reduzido, o pedaço que eu havia recortado deixava os tons ainda mais vivos e brilhantes.
Quando baixei as mãos, o quadrado permaneceu no ar. Pisquei, ele continuou ali. Desviei o olhar e o quadrado acompanhou. Era como uma janela, uma lente que aumentava as cores de qualquer coisa que meus olhos enxergassem.
Estrangeira, você está viajando.
A voz de Cirineu era fina, ele disfarçava falando baixo.
Perguntei o que aconteceria depois, com a plantação já madura.
Vai ser ceifada por máquinas colhedeiras. Uma parte vira farelo, a outra, óleo. Mas antes, vai ficar tudo florido.
Logo?
Setembro, por aí.
Eu estava pronta para dizer que ia voltar para ver a floração quando o quadrado ficou na frente de Cirineu. Era como se eu visse o seu rosto pela primeira vez. Já tinha notado a marca de espinhas nas bochechas e a cicatriz da testa; o arco torto do nariz, nunca. Os olhos pequenos, verdes, ficavam bem no fundo da órbita dos ossos. Dava para imaginar a caveira do Cirineu. Então me dei conta de que eu não prestava muita atenção nos objetos, nem nas pessoas. Olhava tudo por alto, a buscar outra imagem, para além das aparências. Um reflexo que talvez não exista. O fato é que olhar, enxergar de verdade, era outra coisa. Dá para reproduzir em palavras tudo que existe só a partir dos detalhes, das particularidades que a pressa não permite ver. Agora, mesmo se fechasse os olhos, eu podia fazer um retrato falado do meu amigo.
Seus dentes têm bordas azuis, eu disse, certa de que Cirineu ia gostar de ouvir aquilo.
Ele sacudiu a cabeça levemente, repetidas vezes, como um desses cachorros de mola no pescoço que os motoristas põem no painel do carro.
Você vê cada coisa, Estrangeira.