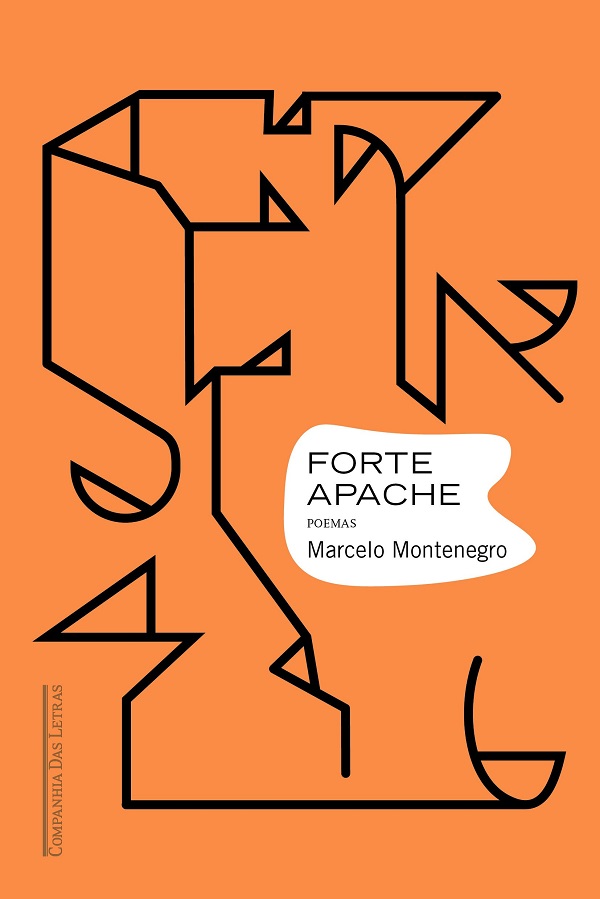Um dos procedimentos mais evidentes na construção de Forte apache, seja de modo explícito ou sugerido, é o atravessamento com outras formas de arte para além da palavra escrita. Tais referências não se dão de modo icônico e idealizador; ao contrário, elas se cruzam com o que há de mais mundano e banal — inclusive no contágio com a cultura de massa. Essa aproximação entre o pop e o erudito — internalizada a partir da contracultura dos anos 1970 e característica, por exemplo, da poesia de Ana Cristina Cesar, que justapunha Drummond e Roberto Carlos — aqui é observada na mescla de citações de músicos, cineastas, pensadores e literatos (que são inúmeros).
Nesse almoxarifado de afetos que são nossas referências fantasmáticas, vemos uma não hierarquização do cânone, uma vez que Marcelo Montenegro aproxima Noel Rosa e Gullar, Eliot e Waly, Tom Zé e Duchamp, Seinfeld e Homero.
A despeito do povoamento de referências com que nos deparamos ao longo das páginas, certa solidão é exposta e aceita, por meio de momentos de silêncio, reparo e contemplação. O eu lírico abraça sua condição de leitor — de letras, gentes e cenas — e faz da página um espaço também do calar. Por vezes parece que não escreve, mas pensa em voz alta.
Por vezes ele é um leitor que grifa e junta os melhores trechos de seus melhores autores. Isso podemos ver no poema-título, Forte apache — escolha sintagmática que não deixa de ser uma sugestão de leitura do livro como um todo —, espécie de reduto, de fortaleza em que se guardam poetas, músicas, filmes, cenas; protegendo-os de algum esquecimento no sítio lúdico da infância — também sugerido pelo título. Em seu início, lemos: “Noel Rosa dizia que era universal sem sair de/ seu quarto”. Na sequência, o eu lírico passa por citações de Elvis Costello, Laura Riding, François Truffaut (todos de certa forma discutindo métodos de lidar com o próprio fazer artístico), para então encerrar o poema: “Como escreveu Ferreira Gullar no Poema sujo,/ ‘que me ensinavam essas aulas de solidão?’/ Aliás, é Pascal quem avisa: todos os males/ derivam do fato de que não somos capazes/ de permanecer tranquilos em nossos quartos”. O poeta parece apenas conectar pensamentos e citações que o marcaram, sendo ele apenas um mecanismo de coesão. O poeta dá sintaxe à sua curadoria do mundo.
Ali, dentro do quarto, sobre a cama, na escrivaninha ou em algum sofá da sala sob alguma lamparina, se dá a condição propícia para o leitor. Apesar da origem comunitária da leitura e da atual vigência do poema como performance, assino com Fernando Pessoa que escrever [e ler, acrescento] é a minha [nossa] maneira de estar sozinho.
Alvenaria efêmera
Os procedimentos de composição de Forte apache também incluem uma espécie de quebra de quadros. Tal qual um roteiro, certos poemas aludem a cenas entrecortadas, às vezes até pela sintaxe composta por frases nominais e por uma estrutura topicalizada, sem coesão usual, feito flashes de memória (como em Auréolas).
Se o poema troca de pele com a música, às vezes se permite o contágio do ensaio — como em Carpintaria revisited, que debate processos de construção literária, ou em Amor de fuga, que se estrutura por meio de premissas vindas de citações até se chegar à conclusão final do eu lírico.
Procedimentos elaborados a partir de uma linguagem que finge uma jam session, pois trabalhada na sensação do improviso.
Não confundir trabalho de fluidez oral com um forçoso e adolescente internetês, afeito à má construção sintática e gírias gratuitas apenas com intuito de soar moderninho e contemporâneo. Ao contrário. Lembremos Clarice Lispector e seu narrador Rodrigo SM: “Só consigo a simplicidade através de muito trabalho”.
Em prol do grifo
Com medo de perder a frase imersa em outras — diante de tantas obras e versos —, o poema Eu costumava grifar meus livros indica essa necessidade inicial de marcar o que assaltou o eu lírico durante suas leituras. Tal procedimento é deixado de lado, uma vez que redirecionaria demais uma segunda (e terceira, e quarta) leitura. Resolve substituir por microdobradinhas nas páginas — e isso resulta no inesperado problema de, ao voltar ao texto, não encontrar o porquê inicial da dobra.
Podemos pensar a dobra como o fabricar de uma orelha na página para talvez aguçar a capacidade auditiva do eu-leitor. Nos curvamos ao verso, ao autor, em reverência ao encantamento sentido ao lê-lo — grifando a passagem ou curvando para dentro a quina da página. Esses momentos de leitura que nos tiram do eixo fazem o mundo mais mundo, deixam-no maior, menos turvo. Valendo mais a pena. Gullar diz que “a arte existe porque a vida não basta”. Sorte daqueles a quem a vida basta e não precisam buscar nas dobras da sintaxe e da existência algum fôlego para nossos dias.
Esses fragmentos do desconserto do contemporâneo podemos ver no poema Institucional, quando o eu lírico leva o filho à escola, de manhã. Pelo horário a lua ainda se encontra no céu; então o pai, brincando com a criança, diz que ela deve estar vendo um filminho para pegar no sono, pois já passou de sua hora de dormir. Eis que o garoto indaga: “Será que o filme somos nós?”. Mais à frente, ainda durante a caminhada, o pai pergunta se o filho acha que a lua está gostando do filme. A criança responde: “Nossa, deve estar uma chatice”.
A simplicidade do cotidiano que o poema nos revela é contraposta ao diálogo inusitado com o menino acerca da lua e do possível papel de entretenimento para o satélite. Estamos acostumados a assistir à lua, a mandar mensagem, foto, chamar pessoas próximas quando ela está dando um espetáculo. Imaginá-la assistindo — tal qual um Big Brother — a rotina que vivemos talvez não fosse tão instigante, enquanto matéria de poesia, senão pela fala da criança — ingênua e honesta — a pontuar o caráter insosso de nossos dias.
É armazenando os instantes de algum encantamento do cotidiano que o poeta de Forte apache sustenta seus poemas. Em Filme, vemos um recorte banal de um casal assistindo TV quando ela pede que ele aperte o pause para ir ao banheiro. Segue-se então uma mistura de sensações entre o tecido quente do travesseiro ao lado e barulhos de pele desgrudando-se do tampo da privada. Em meio ao quase grotesco e à cena amorosa, o eu lírico pensa se “é possível conciliar estruturalismo formal e lirismo na poesia”. O momento de a mulher ir ao banheiro e voltar promove tal reflexão, que será quase respondida ou pacificada no desfecho do poema (“Antes de apertar o play/ chego a esboçar que algumas pessoas/ são incapazes/ de tirar a poesia do sério”) não sem antes o poeta iluminar a fala da moça (“— Está me dando uma fome!”) como recorte daquelas pequenas cenas de extremo conforto que nossos dias propõem, cenas pelas quais por vezes passamos batido, cenas cuja potência só valorizamos em um sábado à noite de extrema solidão.
Encontrada nas anotações de Hilda Hilst, eis a seguinte frase de Borges: “Quem não sentiu alguma vez que perdeu uma coisa infinita?”. São as dobras que não vemos. Que deixamos passar. Forte apache segura essas dobras, grifa e armazena em caixa-poemas esses pequenos takes de sensibilidade; poemas como portabilidade de afetos.
Em dado momento, Marcelo Montenegro evoca a frase de Waly Samolão: “Escrever é se vingar da perda”. Aproveitando os riffs, lembro Amy Winehouse e a forma visceral com que compunha, dilacerando sua dor em versos despudoradamente autobiográficos. Não sei se escrever e cantar (quanto do canto não grifa a ferida?) vinga as perdas, tampouco penso que salve alguém dos dias. A condição da perda é também nos sentirmos perdidos. A gente sublima, mas sabe que dura pouco. A vida se torna, então, buscar alguma trégua nas dobras dos dias.