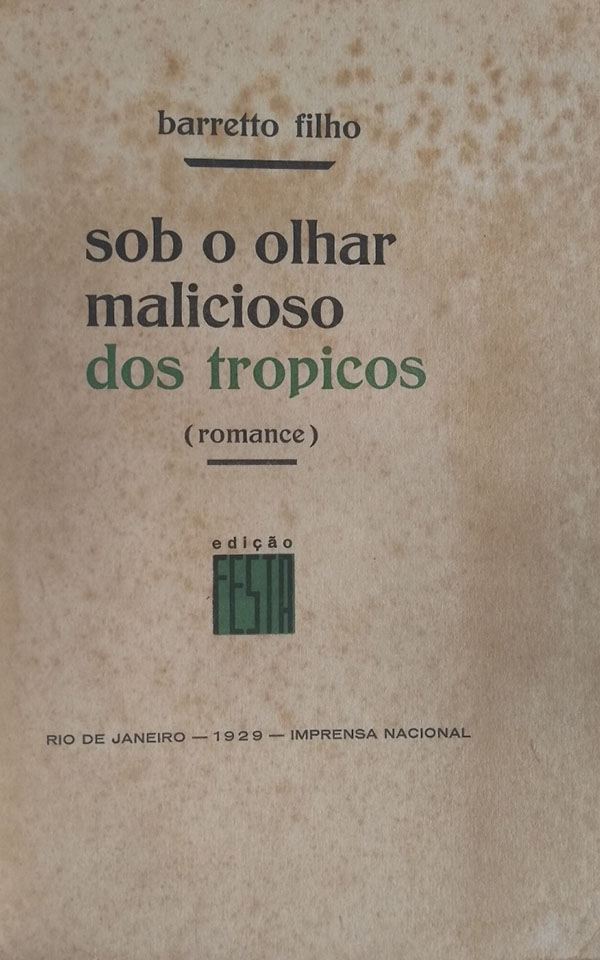Há alguns anos, quando analisei neste Rascunho o romance Madame Bovary, no texto A adúltera e a contradição — reunido, com outros trabalhos, em Crítica, literatura e narratofobia (Vide Editorial, 2015) —, apontei, citando alguns exemplos, a persistente presença de pormenores, a exaltação do detalhe, o contínuo uso de elementos que remetem aos nossos cinco sentidos, semeando no leitor o desejo de, muitas vezes, estender a mão e completar a cena com seu próprio tato. Repito o que afirmei naquela oportunidade: a miríade de pormenores, a volúpia por descrever, por chafurdar num oceano de cores, formas e perfumes, dá a impressão de que Flaubert agoniza para abarcar toda a realidade; a busca do pormenor exato faz com que ele escreva a um passo do esgotamento — mas Flaubert se dispõe a pagar o preço, a fim de que nada escape ao leitor.
A leitura do romance Sob o olhar malicioso dos trópicos, objeto desta análise, fez-me recordar esses trechos. Publicado originalmente em 1929, numa edição restrita de três centenas de exemplares, e cinco anos depois em tiragem comercial, o romance de Barretto Filho — autor de um brilhante ensaio, ainda de leitura imprescindível, a respeito de Machado de Assis, reeditado em 2014 pela TopBooks — é o oposto de Flaubert. Uma imaterialidade aflitiva transpassa a história, condenando os personagens à existência intangível, como se o escritor descrevesse objetos, seres e paisagens etéreos. Encontramos, desde a primeira linha, o narrador que fala incansavelmente, sem jamais permitir que os fatos ocorram, que os personagens ajam diante do leitor. O protagonista, André Lins, permanecerá, até a última página, numa prisão esotérica de sentimentos e sensações — composta, sim, de frases, mas que raramente recriam diante do leitor a experiência concreta:
André Lins não podia dizer que fosse uma surpresa. Aquele rompimento tinha sido previsto, adivinhado por um instinto. Nesse momento, acorridas em rápida desfilada diante de sua memória intensa, todas as imagens dela vinham renovar a dor, como uma teoria de sacerdotisas, que num rito místico evoluíssem em torno da chama sagrada, alimentando-a com o sopro, num desejo de eternizá-la. Aquilo estava dentro dele como um círculo hermético, uma condensação obscura, em torno de que se agitava inutilmente, para penetrá-la e dissolvê-la. Mas aquela presença estava ali, inexplicável, imóvel, estática, detendo o curso de sua vida interior num pasmo semelhante a uma paralisia moral, e resistindo ao seu esforço em diluí-la e volatilizá-la. Certamente que André, numa reação instintiva, já tinha executado os atos e invocado todos os pensamentos que ele supunha adequados à sua conservação: eram como a criação de anticorpos, de elementos imunizadores contra as toxinas pérfidas que vinham tingir a sua substância moral do colorido doloroso (…).
Em vão o leitor se perguntará que “atos” André executou. Terá ciência, no transcorrer da narrativa, de uma sucessão de impressões, jamais transmitidas diretamente pelo comportamento do protagonista, mas filtradas por um narrador não só onipresente, mas despótico e repetitivo. Veja-se, por exemplo, nos dois capítulos iniciais, como a descrição das reações de André, ao examinar o retrato da ex-namorada, vão e voltam, tentando ampliar, sem sucesso, o estranhamento causado pelo descompasso entre fotografia e realidade, como se aquela houvesse antecipado o amadurecimento do corpo adolescente. Inábil em suas tergiversações, o narrador se perde numa psicologia exagerada e confusa, a que não faltam pinceladas de biologismo, no melhor estilo naturalista tupiniquim, como ao recordar a ex-namorada e sua irmã:
(…) esse encanto confuso repousava num lastro de sensações incidentes, de evocações cruzadas, de desejos fragmentários. Nunca surgiu no seu espírito a necessidade de uma preferência. Nelas o que ele amava não eram as suas qualidades individuais, mas uma espécie de permanente matemática, coexistindo, em ambas, aquele caráter de família que as identificava, da mesma forma que os gatos angorás, os cães policiais e todos os organismos raceados se parecem e se equivalem.
Também outras mulheres, que povoam o romance, às vezes como sombras, recebem tratamento semelhante: “(…) Levava sempre Frida como um galgo doméstico estendido ao seu lado”. E seria curioso conhecer de que forma o narrador atualizaria suas impressões, caso estivesse vivo para acompanhar o Carnaval contemporâneo:
Copacabana arde num delírio de cor e de forma, e se sente na multidão palpitante que abraça as ondas; se sente como no Carnaval, que não tem a despreocupação dos sangues puros, a leveza e a virgindade das raças íntegras. As mulheres e os homens se espiam, num desejo de se aproximarem mas contendo cada um os seus ímpetos; e a atração de corpo para corpo, num sentimento de espasmo árido e cáustico (…).
Trata-se da tentativa, infrutífera, de criar um clima de perene sensualismo, ao qual o protagonista se entrega após a decepção amorosa:
Só agora André podia avaliar a repercussão total dos últimos acontecimentos na sua vida. Tinha saído deles com um caráter amoral, uma intenção de puro prazer, que, no fundo, era um desprezo e uma decepção da mulher. Aproximava-as agora para a fruição exclusiva dos seus sentidos, sem tentar interessá-las ao seu modo de ser, aos seus motivos íntimos, às suas secretas tendências para o carinho e para a afeição. E isso se tornava perigoso. André começava a utilizar a sua facilidade em impressionar e atrair com fins muito diretos e definidos. Criara-se na raiz de sua sensibilidade a convicção de que a mulher é apenas um instinto que se disfarça sob todas as folhagens de educação e de finura, e tratava de interessar esse instinto.
Nessa narrativa perdida em circunlóquios, na qual os diálogos são raríssimos, com personagens emudecidos, cingidos por camisas de força, a melhor definição do protagonista cabe a Madame Villar: André “se interessava pelos seres”, segundo afirma essa intuitiva sem função no romance, “pelas suas plumas e variedades, como um ornitólogo maníaco”.
Um psicanalista se divertiria com este romance e seu protagonista doentio, cuja personalidade “comportava um desdobramento infinito de si mesmo”, mas o leitor comum será raptado pelo tédio e pela perplexidade de quem espera acompanhar uma história, mas se depara com sequências e sequências de impressões do narrador palavroso, redundante, inapto para mostrar as atitudes dos personagens e suas consequências. Que alguns tenham comparado esse intimismo maçante a Proust, bem, isso só comprova como é possível ler Proust e nada entender. Na verdade, tal comparação mostra também absoluto desconhecimento do que é a literatura.
No ensaio The nature and aim of fiction, presente em Mystery and manners: occasional prose, Flannery O’Connor mostra como a “natureza da literatura está determinada, em grande medida, pela natureza do nosso aparato perceptivo”. O raciocínio da escritora é imperturbável: se nossa capacidade de conhecer “começa nos sentidos”, então o escritor só pode começar “onde começa a percepção humana”. Ou seja, para transmitir sua mensagem, deve apelar aos sentidos, mas não pode fazê-lo baseando-se apenas em “abstrações”. É o problema, segundo Flannery, de muitos escritores principiantes: preferem “enunciar uma ideia abstrata do que descobrir, e assim recriar, algum objeto que estão vendo de verdade” — preferem se ocupar de “ideias e emoções desencarnadas”, escrevem por estarem “possuídos não por uma história, mas pelo esqueleto de uma ideia abstrata”.
A lucidez de Flannery contagia. Em certo trecho, faz, sem saber, a crítica de Sob o olhar malicioso dos trópicos: Barretto possui indiscutíveis “sensibilidade sutil” e “aguda penetração psicológica”, mas só consegue “enlaçar, uma depois da outra, frases carregadas de emoção, ou de uma perspicácia muito fina, sem outro resultado que a monotonia absoluta”. E o faz porque se esquece de que “se deve mostrar a ficção, mais do que contá-la”, de que “escrever literatura é falar com personagens e ações — e não de personagens e ações”. Utilizando Madame Bovary como exemplo, Flannery insiste na pungente materialidade que as narrativas exigem: “A literatura trata de tudo que é humano e nós somos feitos de pó” — e o escritor que “se recusa a se manchar de pó não deve tentar escrever”.
Barretto Filho foi exímio ensaísta — seu longo ensaio sobre Machado de Assis é, repito, leitura obrigatória —, mas naufragou nesta ficção prolixa, verbosa, da qual poderíamos salvar, com extrema benevolência, alguns trechos do último, dramático, capítulo. E fracassou não apenas por uma questão de estilo, mas por ter menosprezado o que Flaubert sabia e Flannery O’Connor lembra: “A literatura é, em grande parte, uma arte da encarnação”.
NOTA
Desde a edição 122 do Rascunho (junho de 2010), o crítico Rodrigo Gurgel escreve a respeito dos principais prosadores da literatura brasileira. Na próxima edição, José Geraldo Vieira e A mulher que fugiu de Sodoma.