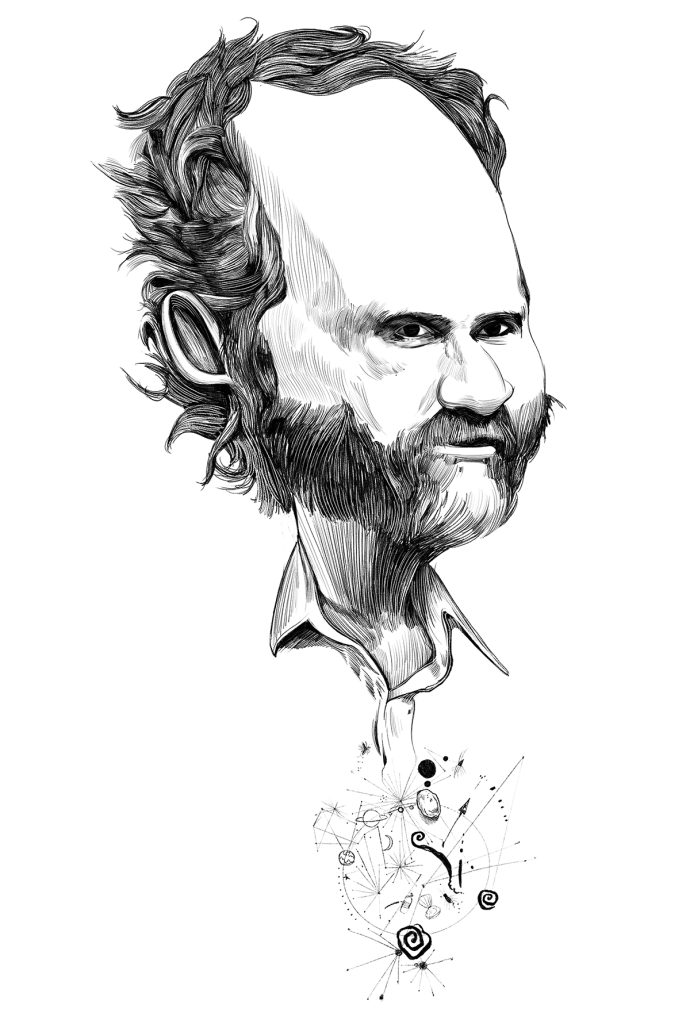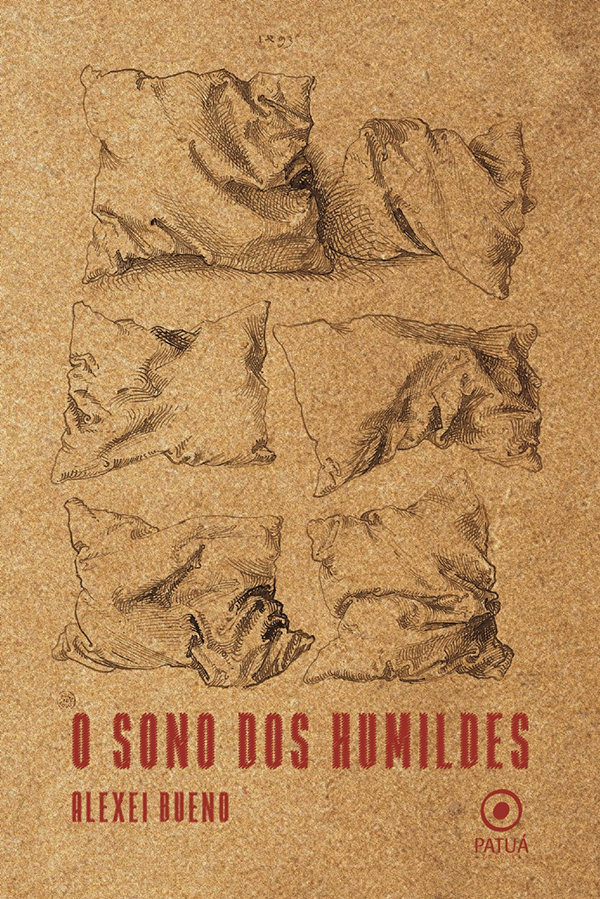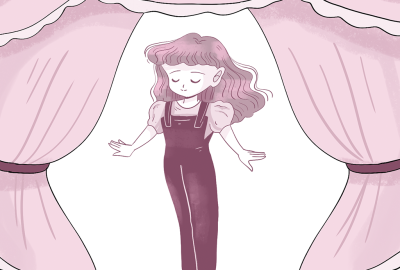O sono dos humildes, de Alexei Bueno, vencedor dos prêmios Biblioteca Nacional e Candango (Brasília), é substancial tanto em seu aspecto material, com 123 poemas, quanto estético, apresentando uma poética rica, formalmente bem construída, utilizando métricas, rimas, rítmicas, com imagens perfeitas e bem-acabadas sem deslizes, e com ideias e conceitos que equilibram com doses afiadas o vinho do lirismo com o cálice do cerebralismo. Sem titubear ou gaguejar literariamente, sua poesia é uma das melhores produzidas atualmente no Brasil.
Na orelha assinada pelo também poeta Iacyr Anderson Freitas, impactaram-me as primeiras frases: “Para um camoniano convicto como Alexei Bueno — responsável, inclusive, por uma das melhores edições comentadas d’Os lusíadas em nosso país, a implacável passagem do tempo e a contínua transformação de tudo serão sempre temas de primeira grandeza”. No prefácio, a cargo de Wagner Schadeck, encontramos o cerne daquilo que compõe mais organicamente a coletânea: “Incorporado aos temas característicos da obra de Alexei Bueno, como a herança helênica ou a contemplação do Rio de Janeiro, em O sono dos humildes, reconhecemos o desenvolvimento, por certo, imposto inconscientemente ao poeta, do tempo da esperança”. E este tempo seria o entrelugar, o espaço entre um tempo e outro, um vazio a ser preenchido ou não, entre a transitoriedade do tempo Cronos e o instante da eternidade de Kairós.
O poema de abertura, Episódio, já nos revela aquele traço simbolista mallarmaico, a estética da sugestão que se desdobra infinitamente a partir de uma antecipação que se esconde nas dobras dos versos:
Um muito pequeno inseto
Pousou no balcão do bar.
Informe, incolor, abjeto,
Um nada, uma nódoa a andar.
Na palavra “pequeno”, no primeiro verso, o moto-contínuo propulsor do poema que desencadeará a reflexão sobre a insignificância frente a temeridade da vida que explode no último verso da primeira estrofe. E continua:
Com um copo sujo esmaguei-o
Ao vê-lo imóvel, extinto,
Que estranha impressão me veio,
Que absurda dor, e ainda a sinto.
Nota-se a artesania do poeta a trabalhar o real, o cotidiano, as cenas da vida sublimemente e com toda a admiração filosófica com reflexões que atingem dimensões do real, descolando-se dele, como as asas de um inseto ferido, tangenciando o inefável, na sua busca pelo absoluto. Mas a abstração, por outro lado, se desmancha, se dissolve, pela sensibilidade da vida, e o sentir e o pensar se adornam com o verbo enigmático da poesia pura. Temos assim, paradoxalmente, uma metafísica do corpo, pois aqui se conjugam, o tempo da ação e o tempo do pensamento, o ato, o fato, se tornam digressões do eu-lírico.
Do pequeno e fragmentário se atinge o todo, disso que se perdeu com o véu do tempo dissonante:
Mas vi que ele se mexia,
Nem sei qual parte. Elas, juntas,
Nada eram. No entanto eu via
Nelas a vida, ex-defuntas.
Nestes versos repousam a máxima humanidade do poeta, as palavras, os versos são imantados pela real Pedra de Bolonha, da energia literária, ou seja, isso que movimenta, que abarca o todo, toda a physis, a vida que pulsa e que retorna por um gesto, que anuncia uma expectativa das horas, de um novo instante, como uma esperança de um sopro de vida, a unidade de tudo que nos circunda. Um ato se transforma, se transubstancia pela hóstia epifânica da iluminação vital, quase um lampejo de um sanyasi, em seu estado de êxtase meditativo ou samadhi, frente à transitoriedade líquida do tempo.
Na penúltima estrofe continua:
Com o mesmo copo animei-o —
Com a borda —, ele se mexeu
Depois andou, com receio,
E, súbito, ei-lo no céu.
Assim, como algo minúsculo em sua poesia adquire uma aspiração à grandiosidade que é uma reflexão sobre o ato de conhecer através do agir e observar o agir. Num dos Upanishads, textos sagrados do hinduísmo, podemos ler a história da árvore que tem dois tipos de pássaro, aquele que saboreia o fruto e aquele que medita e observa sobre este ato. Morte e vida, queda e ascensão, o pouso e o voo, o inseto o absorve e se revela como imago do ser, da entidade chamada homem e tudo que o envolve, nos seus altos e baixos, oscilações de subida e descida, elevação e queda.
Arrematando o poema, Alexei Bueno apresenta versos magistrais:
O ponto morto voava,
E eu, outro átomo esquecido,
Via-o. E ele, do ar, me dava
Um nada, um tudo, um sentido,
O mínimo e o múltiplo, o nada e o tudo como o ponto aparentemente imperceptível se transforma em círculo com sua circunferência a sobrevoar o indizível poético que se significa pelas verves das imagens de intensos voos pela aérea forma do vazio. Parafraseando o grande sábio indiano Krishnamurti, o observador é a coisa observada, o eu lírico é o inseto, porque este lhe dá o sentido de toda a existência com a ambivalência que oscila entre o ínfimo e o totalizante, o efêmero e o eterno, a morte e a vida.
Leiamos na íntegra outro poema: O nascimento de Vênus:
Quando a concha se abriu, enorme e clara,
Na orla imunda da imunda Guanabara,
Entre garrafas PET, entre absorventes,
Preservativos, metades de pentes,
E até uma dentadura,
Cada um olhou lá dentro
Mas só havia, no centro,
Uma espelhada poça de água amara,
Parada, densa, escura,
Que só mostrava, Verônica impura,
A cada um a sua própria cara.
Neste poema, percebemos um processo de inversão, utilizando o tema clássico e sublime com sua perfectibilidade do nascimento de uma deusa antiga, a figura do Amor, que no Rio de Janeiro se torna uma prostituta, afundando-a e precipitando-a no caos urbano de sua cidade natal, uma crítica de cunho social e mordaz, sendo um poeta também de seu tempo, não mais o da eternidade, mas da concretude, materialidade e imundície do natural no indivíduo, no ser humano, que se batiza e abisma na impureza. A metáfora da concha revela a degenerescência entre o dentro e o fora, o lado desumano que se espelhou na imagem da promiscuidade urbana. Aqui, em vez de uma experiência sublime e epifânica, nos deparamos com a constatação, a estupefação diante da obscenidade dos obscuros objetos e seres, que se amalgamam numa dança macabra de ruína e sujeira.
O poema A esperança apresenta a figuração daquela impenetrabilidade de onde só a poesia nasce, no instante do ainda já que ecoará de forma distante em um futuro que se esboroa no presente. O tempo do depois é o agora, o que já passou é memória e o que é o instante se precipita num abismo de uma esperança desesperançada que, dubiamente, vem nos falar de uma poética do momento grávido de luzes natimortas, a oscilação entre a expectação e o que nos acomete como um lampejo, um insight de infinitudes que caem na rede, na teia do tempo, o absoluto do aqui-agora, o fiat lux da criação se presentifica e presenteia a amada ignota, a dama de Cronos, sua consorte, ou seja, a esperança-Pandora se traduz pela utopia da mudança bem-aventurada que se torne eterna, não no sentido de cristalização, “o mar” como imago dei, espelho de Maya, de Maria, da mulher, da ilusão, da ficção, do ato de criação, do Verbo, após a gestação do Vazio, tornada um Duplo do Divino, do tempo da eternidade que derrota o “cais”: “O mar começa onde termina o cais”. Esse limítrofe, o horizonte do impossível se torna imorredouro e o que está tão perto logo se esvai, nos resta a longínqua espiral do infinito, o reflexo do futuro sempre caminhando para frente, um novo poema, um novo livro a ser escrito, o sempre porque nunca se acaba, mesmo com a morte física, porque os livros, as obras permanecerão além de tudo. O sempre que se frutificará em um outro amanhã, um novo sol após uma noite chuvosa ou tempestuosa. Se San Juan de la Cruz subverteu a ordem do dia, colocando a noite como fundadora da iluminação espiritual em A noite escura da alma, Alexei Bueno, com sua “harmonia de contrários” num viés heraclitiano, nos conduz à conciliação dos extremos, a ambivalência que se transforma, se metamorfoseia na palavra “esperança”, com sua extrema e urgente expressividade poética.
Em Invernal, percebemos a potência da natureza frente a fragilidade do homem. O inanimado da natureza ganha o sentido de ânimo poético por suas belas imagens, jogando com os labirintos do que é e do que parece ser. O onirismo aqui com seu lirismo perfeito nada nos acordes da sonoridade, do ritmo, da rímica, que continuam após a leitura com os olhos ou com a boca a ecoarem nos ventos invisíveis da natura. Se Octavio Paz nos fala da dupla chama do amor e erotismo, aqui, Alexei Bueno contraria este fogo embriagante do carnal com a incorporeidade da natureza gélida da pureza, como algo que ultrapassa as impurezas vulcânicas do caos e do absurdo. O duplo sentido do ser e da natureza produz seu sentido a partir da poesia que nos banqueteia com sua comunicabilidade intangível como os astros longínquos que formam o cosmos silencioso. Essa dupla linguagem da ambivalência do ser e da natureza pela análise combinatória da poesia, o que estava separado se reúne e a metáfora do frio nos leva a esta insonora paz do não dito. O poema nos faz lembrar do heterônimo Ricardo Reis, observando o fluxo do tempo, do rio, com sua amada Lídia:
Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio.
Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos
Que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas.
(Enlacemos as mãos).
Alexei Bueno, jogando com os sentidos de rir e rio, quente e frio, dia e noite, eterno e transitório, dialoga com a tradição. Enquanto no heterônimo pessoano ele atravessa o rio com o olhar, o olhar enigmático do poeta carioca revela a cegueira do seu olhar, olhar que circulariza o tempo de uma natureza que se move e se centra no frio, no gélido segredo da natureza, pois o frio arrepia, causa o espanto, como a admiração filosófica em direção aos mistérios arcanos da natureza. A metáfora do “frio” desdiz o amor nascente de um sol que revela, que tudo clarifica, o escondido, o esconderijo, o enigmático e indecifrável, se veste do gélido manto da poesia:
No vento, na alegria
No não ser mais humano,
Mas divindade fria
No espaço, útero e arcano.
Para concluir nossa análise de O sono dos humildes, escolhemos o poema-título, que segue na íntegra:
Um simples seixo, junto a um rio,
Que a água arredonda e um pé desloca
És mais do que essa coisa pouca,
Tu, humano, imenso desafio?
Olha esse seixo, olha-o, ele é.
Porque ele existe a glória e a graça
São suas, mas ninguém que passa
O vê, nem grita aos céus por quê?
Neste texto, o poeta é aquele capaz de olhar, que tem o transbordamento afetivo e reflexivo em que a maioria, em seu estado inconsciente e alienado, não consegue perceber. Aqui, aquilo que estava em aberto no primeiro poema do livro, encontra sua voz, o “humilde” não significa na sua obra apenas o repouso e descanso dos desvalidos, dos proscritos, dos excluídos da sociedade, mas de fazer dos pequenos objetos, das pequenas coisas, da natureza, do que é inanimado, ter sua importância e voz digna com sua significância de um indivíduo, porque aquele que percebe se dignifica na sua percepção em ver o que está além do sono da morte, assim, o sono se veste de sonho, o sono não tem a frieza do mármore ou do mineral carcomido pelo tempo, mas do mineral lavado nas águas da alma do poeta que, de forma magnífica, empresta sua voz, seu lírico, para a natureza, os objetos, as coisas e os outros seres falarem, gritarem seu sentido.
O homem se harmoniza consigo mesmo e com o cosmos dentro e fora de si. Todo o signo da physis é a totalidade que está em cada fragmento, em cada parte, no ínfimo que o poeta encontra em todo momento de sua existência. Esse todo se completa com a chave da poesia. O “seixo” é, ele existe, como nós existimos, ele está presente e nos dá a sensação de no ato de olhar para fora, nos autoconhecer, meditar sobre o que nos circunda, fazendo-nos lançar no imenso desafio: o que somos? Se o “seixo” existe, nós somos, e a frase cartesiana “Penso, logo existo”, no plano do humano, traduz nossa consciência face à inconsciência e tudo o que não está no campo do ser humano. A comparação entre o existir da natureza e das coisas com o nosso existir, daqueles que pensam e estão conscientes do real, contrariando o “pensar é estar doente dos olhos” pessoano, traduz aqui, no seu reverso, o pensar como ver com o máximo de cuidado e delicadeza que o poeta consegue transfigurar pela arte.
O sono dos humildes é uma obra necessária e seminal para pensarmos sobre a relação entre o homem e tudo o que o circunda, tanto internamente, como externamente, desde o ínfimo até atingir a totalidade que se perdeu no mundo contemporâneo, mas que Alexei Bueno almeja alcançar com olhos que pensam de forma corpórea e incorpórea, com sua sensibilidade perspicaz e original.