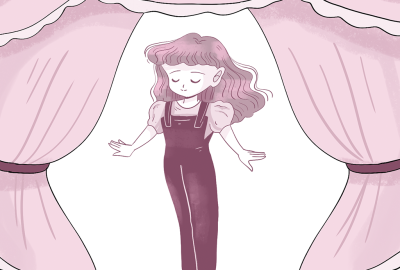You’re not clever, you’re simple. And if you’re not simple you’re complicated. We’re supposed to know what’s going on inside people. That’s why it’s the Ministry of Interior. Are you simple or are you complicated? Have another biscuit.[1]
Como diriam os que adoram usar uma frase feita: Quem tem medo de Tom Stoppard? Obviamente, os que não conseguem captar a ironia que há entre os atos que fazemos e as palavras que falamos. Afinal, é nesta brecha que existe o teatro, esta arte em que a linguagem se transforma em ação e é, por isso mesmo, extremamente arriscada — e que envolve uma liberdade insuspeita tanto para quem cria como para quem usufrui do espetáculo apresentado diante dos seus olhos. Stoppard é um mestre nesse procedimento — e talvez seja esta a razão do público brasileiro conhecer tão pouco o seu trabalho: a liberdade defendida pelas suas peças não é a que queremos acreditar que exista — aquela que nos possibilita comprar o pão e gargalhar com o circo cívico dos nossos dias —, mas a que jamais queremos descobrir em nós mesmos porque envolve um risco que só pode ser suportado se soubermos reconhecer a ironia da nossa pobre existência.
Vamos tomar como exemplo uma cena da peça De verdade (The real thing, 1982), considerada um dos melhores exemplos do estilo Tom Stoppard de ver o mundo. No cenário descrito, vemos Henry, um dramaturgo que tem características muito próximas com as quais a crítica teatral atribuiu ao próprio Stoppard (sofisticação, erudição, senso de humor, etc.), discutindo com sua esposa, Anne, sobre uma peça sofrível escrita por Brody, um desses manifestantes que acreditam que a arte deve ser um mugido contra “a situação do mundo”. Enquanto conversa com Anne, Henry está martelando algum escrito na máquina de escrever (sim, ainda existiam máquinas de escrever nos idos de 1980) e, entre um chiste e outro, diz o seguinte:
As palavras não merecem esse tipo de traquinagem. Elas são inocentes, neutras, precisas, representando isso, descrevendo aquilo, significando uma terceira coisa, então se você cuida delas você consegue construir umas pontes entre a incompreensão e o caos (…). Não acho que os escritores sejam sagrados, mas as palavras são. Elas merecem respeito. Se você coloca as palavras certas, você consegue dar uma pequena desequilibrada no mundo ou fazer um poema que as crianças vão ler para você quando você estiver morto. (Tradução de Caetano W. Galindo).
Um discurso bonito, não é mesmo? Porém, quando estamos devidamente elevados por essas palavras neutras e precisas que nos faz ficar au-dessus de la mêllée (como diriam os franceses), Stoppard nos brinda com uma pequena reviravolta no transcorrer da cena: o escrito que Henry martela na sua máquina é justamente um roteiro de ficção científica feito sob encomenda — uma literatura de segundo escalão para quem ainda quer escrever um poema a ser lembrado por uma criança no futuro. O modo como a ironia atinge o espectador é brilhante: não sabemos se isso é uma piada carinhosa de Stoppard dirigida a si mesmo ou se é uma piscadela agridoce sobre o paradoxo de todos nós, o de que falamos o que queremos, mas não fazemos o que queremos.
Defesa da liberdade
E esta não é a própria definição de liberdade? Ela só pode existir em um mundo que a limita constantemente, que impõe uma moldura em uma janela sempre aberta para o caos e para a incerteza. Não há liberdade plena. Ainda assim, o que parece que as peças de Stoppard sugerem é devemos defender a nossa liberdade com todas as armas disponíveis. O único problema é que elas são limitadas. A lista se restringe a alguns itens: a linguagem, a arte, o amor, talvez alguma moralidade que exista tão somente em alguma partícula biológica que insistimos de chamar de “consciência”. E só. Apesar de Stoppard não ser um pessimista — ao contrário, é bem capaz que ele seja um dos sujeitos mais otimistas neste mundo —, ele tampouco hesita em ser um realista que vê além de todos nós. E isso acontece porque, como todo bom artista, sua vida é um espelho simétrico do enredo rocambolesco de suas peças — e um esboço incompleto de todas as limitações que a verdadeira liberdade lhe impôs.
Stoppard, na verdade, nunca foi Stoppard e sim Tomás Straüssler, nascido em 1937 na cidade de Zlin, antiga Tchecoslováquia, mas como ele foi forçado a fugir por causa dos infatigáveis nazistas com apenas um ano e meio de idade, teve se tornar Tommy Stoppard porque sua mãe, sem nenhum amparo masculino (já que o esposo morrera na fuga), casou com o major Kenneth, um antissemita que depois seria o padrinho da cidadania britânica do futuro dramaturgo. Detalhe: a mãe do pequeno Tomás era judia — e teve que esconder esse fato do major Stoppard durante toda a vida. Quando Tomás já era Sir Tom, um tcheco órfão que se tornou um dos mais renomados artistas da língua inglesa, ele descobriu a sua ascendência judaica ao defender a causa dos russos judeus expulsos da antiga União Soviética — e, numa reviravolta digna do autor de Pastiches (Travesties, 1974), o padrasto que o educou como um filho pediu que não usasse mais o seu sobrenome porque não concordava com a “tribalização” de Tom. O comando, obviamente, não foi atendido.
Desde o início de sua carreira, Stoppard se preocupou com essas brechas que podiam ir tanto para a comédia como para a tragédia. Este é, aliás, o mote de sua primeira grande peça de sucesso, Rosencrantz e Guilderstein morreram (Rosencrantz and Guilderstein are dead, 1966), escrita quando ele tinha apenas 29 anos de idade e fazia questão de andar de taxi em Londres, mesmo em tempos de penúria, porque, segundo o próprio, tinha certeza do seu valor e do seu talento. Misturando William Shakespeare com Samuel Beckett, Stoppard se aproveita de dois personagens literalmente marginais de Hamlet — e que são retirados de cena com apenas uma rubrica no texto — para discutir sobre até que ponto somos ou não joguetes de um contra regra meio temperamental que decidiu, sem motivo nenhum, como deveríamos sair do palco da vida. A metalinguagem teatral é um reflexo do absurdo da existência, mas é ainda possível aproveitar esse mesmo absurdo com algum humor e alegria, de preferência com vários trocadilhos verbais; e o espaço limitado de liberdade surgido na interação desses dois personagens se dá menos porque ambos são reflexos de suas vontades e suas paixões do que propriamente seres autônomos capazes de ver a ironia no que seria ser verdadeiramente livre.
Obsessão pelo duplo
A imagem recorrente dos duplos e dos gêmeos é uma das obsessões de Stoppard. Ele adora uma duplicidade, um dilaceramento psíquico, mesmo que isso seja um mote para o espectador dar aquele risinho que só o humor britânico é capaz de nos proporcionar. Este leitmotiv é o “desenho no tapete” que percorre as peças do início ao fim, desde Rosancrantz e Guilderstein até a última peça escrita por Stoppard, Rock-n’-Roll (2007), passando por Arcadia (1993), A invenção do amor (The invention of love, 1996) e A costa da Utopia (The coast of Utopia, 2004). E não se trata de um malabarismo formal: como o próprio Stoppard disse em entrevistas, a sua preocupação com os duplos, com as personalidades gêmeas que seriam similares, mas que escondem rivalidades profundas que afetam as histórias pessoais e coletivas de todos nós, é a prova cabal que, por mais que goste de “encharcar o rosbife” de suas peças (o tema central, o conteúdo dramático, as ideias que movem o enredo) com uma “maionese muitas vezes excessiva” (o virtuosismo técnico, o experimentalismo na linguagem), ele é um dramaturgo com um profundo senso do problema moral que atormenta os seus personagens.
O problema moral que perpassa a sua obra é, sem dúvida, a do indivíduo que se vê contra forças que não pode controlar ou combater, forças coletivas como as revoluções políticas e estéticas, a avalanche da história e, no caso de Pastiches, os auto-enganos que empregamos em nós mesmos para criarmos uma vida que, na realidade, não tinha sentido algum. A consequência dessa luta desigual é a divisão da vontade individual em pedaços que depois não serão mais unidos em um todo coeso, em uma personalidade íntegra que tenha autonomia sobre suas próprias escolhas — e não há outra maneira de mostrar esse fenômeno que dominou os séculos 19 e 20 (e, quiçá, continuará no 21) exceto pelo recurso dramático dos duplos, dos gêmeos e dos diálogos fragmentados, com clara tendência ao absurdo.
Toda essa ambição intelectual atinge a maturidade com a trilogia A costa da Utopia, um ciclo de peças que narra o início do movimento revolucionário russo. Se antes Stoppard se apropriava da própria literatura para nutrir as suas peças, como o teatro shakespeariano ou os romances labirínticos de James Joyce, agora ele se inspira em fatos históricos e no volume de ensaios do pensador político Isaiah Berlin, Pensadores russos, para dramatizar uma visão muito pessoal do que seria a liberdade do indivíduo diante deste mundo dilacerado por uma voz coletiva que nos devora sem trégua.
Sem dúvida, é o encontro de almas gêmeas: muito antes de usar Berlin, Stoppard já discorria em suas peças sobre o paradoxo de se viver entre a liberdade negativa (o espaço ínfimo permitido ao cidadão para que este aja dentro da sociedade, sem nenhuma interferência do governo ou de quem estiver no poder) e a liberdade positiva (a ação de qualquer um que faça parte de um sistema de poder sem interferir no direito dos outros) — e sabia muito bem que isso era um problema que levaria uma boa alma ao abismo da loucura, se esta não tivesse a capacidade de reconhecer a sutil ironia que separava a ilusão da realidade. Contudo, agora o escopo é outro; se antes o excesso de maionese levava à indigestão, agora Stoppard se preocupa com a qualidade do rosbife, deixando a quantidade do recheio a um mínimo emocional que não seria um exagero chamarmos de “tchecoviano” (não à toa, o dramaturgo inglês adaptou para os palcos londrinos uma versão peculiar de A gaivota). O importante aqui é saber como as emoções de um personagem o dominam ou não, se ele consegue extrair a liberdade necessária para não prejudicar a sua própria vida — e a dos outros.
É neste dilema singelo que Stoppard fundamenta todo o ciclo — e o dramatiza no relacionamento conturbado entre o revolucionário Mikhail Bakunin e o agitador, depois moderado, Alexander Herzen. Eles são os duplos que inspirariam tempos depois a retórica da Revolução Russa — e a evolução sentimental de cada um mostra como Stoppard permite que o espectador descubra dentro de si que ele também seria capaz de praticar as mesmas decisões em circunstâncias históricas similares. E, no caso de Stoppard, a sua preferência pessoal pende para Herzen, não só porque este se converteu à realidade implacável de todos nós, a realidade em que sentimos no corpo a precariedade de sermos livres, mas sobretudo porque, dentro das poucas armas que tinha (entre elas, o jornal chamado O sino que teria influenciado o czar Nicolau a emancipar os servos russos no final do século 19), ele a defendeu daquela maneira encarniçada que só os grandes conseguem fazer. Essa identificação fica evidente no perfil que Isaiah Berlin faz, em Pensadores russos, da visão idiossincrática de Herzen sobre o que seria a liberdade — e é muito similar ao modo como Tom Stoppard expõe essas mesmas inquietações, com uma ironia toda sua. Ambos encontram prazer “na independência, na variedade, no jogo livre do temperamento individual”; valorizam “espontaneidade, a fala direta, a distinção, o orgulho, a paixão, a sinceridade”; detestam “o conformismo, a covardia, a submissão à força bruta da tirania ou à pressão da opinião pública, a violência arbitrária”; odeiam “a adoração pelo poder, a humilhação dos fracos pelos fortes, o ressentimento e a inveja das maiorias, a arrogância brutal das minorias”; querem “a justiça social, a eficiência econômica, a estabilidade política, desde que tudo isso fosse secundário à necessidade de proteger a dignidade humana, a manutenção dos valores civilizados, a proteção dos indivíduos de qualquer espécie de agressão, a preservação da sensibilidade e do engenho de qualquer assédio individual ou institucional”.
Proteção à liberdade
Enfim, tanto Stoppard como Herzen (e, por que não?, Berlin) protegem tudo aquilo que uma pessoa decente, que saiba muito bem onde se encontra a sua força moral, deve defender. Mas como preservar essa moralidade em um mundo que tenta destruir a liberdade a cada instante que passa? As vidas de Herzen e Bakunin terminaram no desespero e na melancolia típicos dos homens que queriam mudar o planeta porque se esqueceram que, antes de tudo, a revolução sempre começa dentro de nós mesmos. Ainda assim, na última peça de A costa da Utopia (intitulada de Salvage, ou seja, aquilo que pode ser salvo do naufrágio das ilusões ideológicas), Stoppard mostra ao espectador que, pelo menos, Herzen teve o vislumbre de uma liberdade que só pode ser conquistada se aceitar que há algo misterioso que anima nossas ações, mesmo quando se perde o filho pequenino em um trágico acidente no mar — e comunica isso ao amargurado Bakunin em um comovente monólogo:
A natureza não despreza aquilo que só vive por um dia. Ela se derrama inteira em cada momento. Não damos menos valor ao lírio porque ele não é de pedra, nem é feito para durar. A riqueza da vida está no durante, depois é tarde demais. Onde está a canção depois que foi cantada? E a dança, depois que foi dançada? Somos só nós, humanos, que ainda por cima queremos ser donos do futuro. Nós achamos que o universo está minimamente preocupado com o desenrolar do nosso destino. Percebemos o caos aleatório da história todos os dias, toda hora, mas alguma coisa parece errada. Onde está a unidade, o sentido, da mais alta criação da natureza? Claro que estas milhões de pequeninas correntes de acidentes e de atos propositais são corrigidas naquele imenso rio subterrâneo que, sem a menor dúvida, está nos levando ao lugar onde somos esperados! Mas esse lugar não existe, por isso é que se chama utopia. (Tradução de Pedro Sette Câmara).
Essa força que não ousa ser articulada naquelas “palavras inocentes, neutras, precisas” é justamente a incerteza que as utopias querem eliminar, mas que o real faz questão de comprovar dolorosamente em cada decisão que tomamos. Para Stoppard, a liberdade só pode existir plenamente no caos e no risco — e a sua ironia está na constatação de que, como vivemos dentro de limitações inescapáveis, o desejo de ser livre é uma batalha contínua entre as ruínas que herdamos e os escombros que deixaremos como legado para as gerações futuras.
Stoppard é um antiutópico por excelência porque ele sabe que os sonhos sempre levam ao pesadelo da razão totalitária, mas também não devemos confundi-lo como um cético que acredita no caos como a regra geral da existência. Esta busca por uma ordem secreta que flui como um “rio subterrâneo” é a preocupação central de Arcadia, uma peça que já antecipava certos temas de A costa da Utopia — e, numa obra que dialoga o tempo todo com a aspereza do humano, não seria diferente perceber que nem sempre a cronologia das peças segue a evolução espiritual de seu autor, já que esta é uma das nuances de uma ironia que precisa se movimentar com a liberdade necessária. Sobrepondo dois tempos distintos — um triangulo amoroso no início do século 19, tendo Lord Byron como um dos personagens centrais, e uma intriga intelectual no final do 20, envolvendo a descoberta de uma revolução na matemática e de uma carta que pode ser ou não do bardo romântico — Stoppard usa o que aprendeu na mistura correta entre a maionese adequada e o rosbife suculento para meditar sobre o que verdadeiramente importa nas nossas vidas.
Trata-se de sua peça mais delicada em termos de exposição dramática dos sentimentos e a mais sutil em jogos conceituais. As ideias se transformam em conflitos internos — e estes são ditos em diálogos irônicos, cortantes e, em alguns momentos, de uma clareza assustadora. Em uma cena com Thomasina, a menina prodígio inspirada em Ada Lovelace, filha de Lord Byron, e a provável descobridora da teoria do caos e da matemática dos fractais (muito antes delas serem divulgadas na nossa “era dos extremos”), o seu tutor, o esnobe Septimus Hodge, começa a explicá-la quais são as vantagens de termos apenas poucas obras que permaneceram da “Idade de Ouro” grega. Ela pergunta como a humanidade, esta abstração tão sedutora, pode suportar a perda de todas as peças dos atenienses — como conseguiríamos dormir com essa dor de não ter em mãos essas obras de arte que ajudariam muito o nosso futuro? Então Hodge responde atacando aquilo que depois Graham Greene chamaria de the heart of the matter (o cerne da questão):
Contando o nosso estoque. Sete peças de Ésquilo, sete de Sófocles, dezenove de Eurípedes, minha senhorita! A senhorita não deve se lamentar mais a perda das outras que a de uma fivela perdida de seu primeiro par de sapatos, ou seu caderno de escola que se perderá quando a senhorita ficar mais velha. Nós perdemos pelos enquanto apanhamos coisas pelo caminho, como viajantes que têm de carregar tudo nos braços, e o que deixamos cair será apanhado pelos que vêm atrás. A procissão é longuíssima e a vida, muito curta. Morremos no caminho. Mas nada existe fora do caminho, então nada pode ser perdido nele. (Tradução de Caetano W. Galindo)
Assim como o monólogo de Herzen a Bakunin, a resposta de Septimus Hodge comprova que há uma visão integral que se comunica nas peças de Tom Stoppard, independentemente do correr dos anos e das peripécias entre os países. Mas a liberdade que surge da triste constatação de que o caminho a ser percorrido é repleto da “arte da perda” não é a liberdade plena que seria dominada se esquecermos que há alguma ordem nela. Para seremos verdadeiramente livres, não basta ter a liberdade em abstrato; temos que colocá-la em uma determinada hierarquia de princípios e interesses concretos e reconhecer que, muitas vezes, esta mesma hierarquia a limita porque ser livre não é a prioridade em um mundo que já não sabe mais qual é o valor de qualquer escolha verdadeiramente indeterminada. E onde podemos encontrar essa ordem, essa hierarquia, para então começarmos a trilhar o caminho que nos levará enfim ao “rio subterrâneo” que alimenta a natureza dos nossos sonhos — e que só serão descritos conforme uma suposta neutralidade da linguagem?
A resposta, se há alguma, será encontrada apenas de acordo com as regras do Ministério do Interior — ou, pelo menos, é o que acredita o personagem O Interrogador, da peça Rock-n’-Roll (2007). E essas regras serão resumidas em uma única norma — que depois será imitada pelos governos democráticos, pelas grandes corporações capitalistas, pelos sistemas totalitários, sejam de direita ou de esquerda: todos nós temos que saber o que acontece dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua alma. Não há como escapar disso, parece nos dizer O Interrogador a Jan, um jovem tcheco que, nos idos de 1968, volta de uma viagem da Inglaterra e se depara com uma Tchecoslováquia comunista que, se não torturava ou matava como a Mãe Russa, colocava qualquer dissidente em um ostracismo similar a um desterro no Gulag.
Absurdo retratado
O diálogo estabelecido entre esses dois personagens é uma das provas que Stoppard ainda é um mestre no modo como o absurdo deve ser retratado: com um humor amargo, lembrando sempre ao espectador a sua lógica irrisória. Para O Interrogador, as pessoas são divididas nada mais nada menos em simples e complicadas. Algo que saia dessas duas categorias não há qualquer chance de ser absorvido por uma sociedade que é regida por planos quinquenais e que minam qualquer possibilidade de liberdade dentro do caos que é a própria vida. O Ministério do Interior observa cuidadosamente cada um de nós porque, por mais que os tiranos não consigam admitir que temos a esperança de sermos livres, eles sabem como poucos que a verdadeira liberdade se encontra no interior de nosso corpo, do nosso coração, da nossa mente — e por isso mesmo deve ser aniquilada a qualquer custo.
Agora, o que fazer quando, no lado ocidental, a liberdade também pode ser tolhida por alguém que lhe é muito próximo, alguém com quem você dividiu uma vida inteira? Apesar de Rock-n’-Roll ser uma peça em que Stoppard ensaia um retorno às suas raízes tchecas — inclusive fazendo referências a seu amigo, também dramaturgo e depois presidente da República Tcheca, Václav Havel —, ele em nenhum momento ameniza para quem acredita que Londres ou Oxford são baluartes de uma liberdade que os regimes totalitários insistem em destruir como exemplos a serem sacrificados em função de um futuro dourado. Ao retratar o relacionamento entre Max, o professor de Jan que defende o socialismo no agradável ambiente burguês de Cambridge, e sua esposa Eleanor, também uma intelectual especialista em poesia erótica grega e que sofre de câncer, Stoppard mostra um lado insuspeito para quem, nas peças anteriores, era acusado de se preocupar apenas com o equilíbrio entre a maionese e o rosbife. Em uma cena dilacerante do ponto de vista emocional, para qualquer espectador que tenha uma vida razoável, ele dramatiza como o câncer da ideologia política retirou a liberdade de Max, um crente na materialidade do corpo humano, e destruiu seu casamento com Eleanor, que luta com todas as forças não só contra a doença espiritual do marido, mas também contra a doença que mina a sua identidade interior conforme corrói o próprio corpo, antes tão belo e tão inspirador para quem acreditava no ideal da política socialista:
ELEANOR — […] O meu corpo está me dizendo que eu não sou nada sem ele, e você está me dizendo a mesma coisa.
MAX — Não… Não.
E — Está sim, Max! É como se vocês estivessem mancomunados, você e o meu câncer.
M — Ah, meu Deus…
[…]
E — Eles cortaram, cauterizaram e incineraram os meus seios, os meus ovários, o meu útero, metade do meu intestino e um pedacinho do meu cérebro, e eu não estou diminuída, eu sou exatamente quem eu sempre fui. Eu não sou o meu corpo. O meu corpo não é nada sem mim, essa é que é a verdade . (ela rasga a frente do vestido) Olha isso, o que sobrou. Isso aqui lida com os clássicos. Com um feminismozinho meia-boca, com amor, desejo, ciúme e medo — meu Deus do céu, e como lida com o medo! Então quem é a Eleanor que ainda está inteira?
M — Eu sei disso — eu sei que a sua mente é tudo.
E (furiosa) — Nem ouse, Max — não ouse recorrer a essa palavra agora. Eu não quero essa sua “mente”, que você consegue fazer com latinhas de cerveja. Não vá com ela no meu enterro. Eu quero a sua alma enlutada ou nada. Não quero o seu impressionante maquinário biológico — quero a coisa em você que me ama.
M — Mas é com isso que eu te amo. E só. Não tem mais nada.
E — Ah, Max. Ah, Max. Que coragem que você precisou ter agora. (Tradução de Caetano W. Galindo)
O que este diálogo mostra é que Tom Stoppard não quer mais saber nem da maionese, nem do rosbife — agora a sua única preocupação é dramatizar a medula que protege fragilmente o osso nu, aquilo que, definitivamente, prova que nós não somos somente o nosso corpo, que nós temos algo a mais, algo que existe dentro de nossos corações, de nossas mentes e das nossas almas — e que nenhum interrogador demente ou um intelectual esnobe podem classificar tudo isso conforme os planos quinquenais que matam a incerteza e a liberdade. Essas pessoas se esquecem que a ironia de ser livre em um mundo que não compreende (ou, pior, não quer entender) essa qualidade intangível do espírito humano depende, sobretudo, de abraçar o caos com um carinho insuspeito.
Uma vez, quando perguntaram a Stoppard se acreditava em alguma força superior, em algum Deus, em alguma ordem que dê sentido a esta marmita que somos obrigados a comer aqui embaixo, sua resposta foi concisa — e bem humorada, como não deixaria com alguém que escreve como um filósofo matemático, mas que, no fundo, deseja ser um palhaço: “Bem, eu sempre olho por cima do meu ombro” (Well, I keep looking over my shoulder). É uma atitude que mostra a ironia da liberdade defendida em sua obra: a capacidade de perceber que, não importa o caminho de destruição a ser percorrido, olhar por cima do ombro só comprova que nem as palavras neutras, precisas e inocentes que criamos são suficientes para proteger o que sobrou das nossas consciências — mas, ao mesmo tempo, isso é tudo que possuímos e devemos ser gratos por elas. Trata-se de uma conclusão que é simples de se entender e complicada de se viver. Quem não gostou dela sempre é livre para recusar o rosbife e a maionese e preferir roer o osso duro da servidão.
[1] “O senhor não é esperto; o senhor é simples. E se o senhor não é simples o senhor é complicado. O nosso trabalho é saber o que acontece dentro das pessoas. Por isso é que o nome é Ministério do Interior. O senhor é simples ou complicado? Pegue outro biscoito.” (Tradução de Caetano W. Galindo)