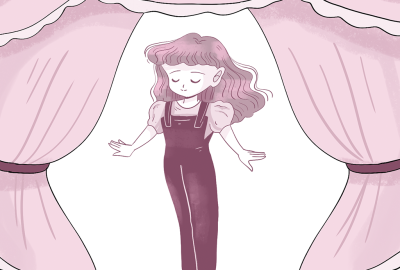Tolo, disse-me a minha Musa, olha teu coração e escreve.
P. Sidney (1554-1586)
Quando tenho a oportunidade e o privilégio de conversar com leitores de meus livros, quase sempre surge uma pergunta: “como você se inspirou para fazer tal texto?”. Trabalho há quase trinta anos com livros e se há perguntas recorrentes, esta é uma delas.
Por trás deste “como você se inspirou”, estão escondidos alguns mitos largamente disseminados e naturalizados, comumente relacionados ao ato de criação artística e considerados “verdades”. Vou enumerar alguns deles:
1) a crença na “inspiração”, algo visto como uma iluminação que surge do nada, de repente, sem mais nem menos, espontânea e involuntariamente, na cabeça de certas pessoas especiais e “inspiradas”. Segundo tal princípio, algo meio místico, num instante mágico, uma força estranha surge no ar, vinda das musas ou sei lá de onde, e entra na cabeça desses seres predestinados, trazendo trabalhos prontos;
2) a crença de que pessoas criativas são, de alguma forma, diferentes dos outros, “geniais”, “meio loucas”, gente “diferente”. No ambiente individualista que nos cerca, essa ideia ganha contornos que precisam ser melhor discutidos;
3) a crença de que artistas costumam ser mais criativos do que, por exemplo, engenheiros, médicos, economistas etc.
A meu ver, tais crenças são desumanas, equivocadas e nefastas.
Desumanas porque encobrem determinadas características e potencialidades humanas. A “criatividade”, por exemplo, nunca foi um conceito unívoco. Há criatividades, criatividades e criatividades. Por essa razão, de diferentes formas, todos nós podemos ser considerados criativos. Além disso, como ensinou Hannah Arendt, seres humanos são inesperados por princípio. Em Entre o passado e o futuro, ela afirma:
A (…) ação humana (…) está estreitamente ligada à pluralidade (…), uma das condições fundamentais de vida humana, na medida em que repousa no fato da natalidade, por meio do qual o mundo (…) é constantemente invadido por estrangeiros, recém-chegados cujas ações e reações não podem ser previstas por aqueles que neles já se encontram e que dentro em breve irão deixá-lo.
Para a filósofa, em suma, o ser humano é “impredizível” por definição.
Se isso for verdade — creio que é —, significa que todas as pessoas são capazes, num dado momento, de inovar, improvisar e sair dos padrões previamente estabelecidos. Ou seja, são capazes de ser criativas.
A idéia de “inspiração” é oposta a tudo isso. Sua origem, como sabemos, remete aos gregos e suas Musas. Herbert Read, em seu excelente estudo As origens da forma na arte (Zahar, 1981), explica assim o conceito clássico de Musa: “uma divindade que ocasionalmente priva o ser humano de seus sentidos e o utiliza como porta-voz involuntário de uma manifestação divina”. Em outras palavras, neste caso, o artista deixaria de ser sujeito de suas próprias ações e passaria a ser mero objeto de forças desconhecidas exteriores. Suas obras nasceriam, portanto, de forma involuntária. Como levar a sério uma noção assim nos dias de hoje?
Equívocos nefastos
Continuo. Além de desumanas, creio também que essas crenças são equivocadas. Por não levarem em conta as reais potencialidades humanas, não nos ajudam a compreender nem a vida, nem a nós mesmos, nem os outros.
E são nefastas porque, ao distorcer os fatos, podem, por exemplo, levar um jovem a dizer: “não sou criativo”, “não tenho inspiração”, “sou comum” e coisas do tipo. Ideias que talvez marquem e limitem esse jovem pelo resto da vida.
Não estou sugerindo que qualquer um possa se igualar a Carlos Drummond de Andrade ou, noutro âmbito, a Antonio Carlos Jobim, mas, sim, ressalto que, ao valorizar em demasia a “inspiração”, algo bastante vago e relativo, costuma-se menosprezar o trabalho, algo nítido e palpável.
Acontece que, infelizmente, a associação entre criação e trabalho nem sempre tem sido colocada em pauta. E ela é essencial.
Como sabemos, mas muito mais gente deveria saber, Drummond não criou seus poemas por meio de surtos inspirados, mas, sim, com trabalho árduo. Ele mesmo conta isso no poema O lutador:
Lutar com as palavras
é a luta mais vã.
Entanto lutamos
mal rompe a manhã.
São muitas, eu pouco.
Algumas, tão fortes
como um javali.
(…)
Luto corpo a corpo,
luto todo o tempo,
sem maior proveito
que o da caça ao vento.
Jobim, por outro lado, associou, não poucas vezes, a criação de alguns clássicos da música popular brasileira à luta, todo fim do mês, para pagar o aluguel.
Sim, certamente existem pessoas mais e pessoas menos “criativas”.
Na minha visão, porém, uma pessoa “menos criativa” que acredite em si mesma e trabalhe duro tende a conseguir melhores resultados do que uma pessoa “mais criativa” que não esteja disposta a trabalhar.
Isso sem entrar no mérito de que dividir pessoas, simploriamente, entre “criativas” e “não criativas” é um engano e uma inutilidade.
Sei que o leitor pode argumentar: “mas entre duas pessoas que trabalham muito, pode haver uma que se destaca e outra que não!”.
É verdade, mas, e daí?
Se o ser humano é “impredizível”, como disse Hannah Arendt, é claro que sempre existirá todo tipo de diferença entre as pessoas. Assim como vai existir todo tipo de semelhança. Este é o ponto. Enquanto as diferenças são singulares e relativas a cada indivíduo, portanto difíceis de avaliar, as semelhanças são concretas e compartilháveis. Por serem capazes de gerar identificação entre todos nós, elas nos ajudam a compreender melhor a ação e as potencialidades humanas. O trabalho é um ponto em comum, um ponto de afinidade e compreensão entre todos os homens. Todos nós sabemos que, em geral, para realizá-lo a contento, é preciso vontade, dedicação, paciência, capacitação, métodos, técnicas e esforço concentrado. Embora importantes, essas características do trabalho nem sempre são lembradas e valorizadas, principalmente entre os jovens. Refiro-me particularmente aos jovens urbanos habituados, cada vez mais, a conviver com trabalhos burocráticos, abstratos e menos visualizáveis (não braçais).
Em outras palavras, creio que uma criança filha de um lenhador ou de alguém que trabalha na roça pode ter uma noção mais exata do trabalho do que a filha de um burocrata.
Naturalmente, as crendices a respeito de “criatividades’, “genialidades” e “inspirações” são alimentadas por certos discursos.
Antes de mais nada, convenhamos, é preciso relativizar a noção de “criação”. Nem sempre lembramos, como o faz Herbert Read, que na verdade “não há nada de novo sob o sol e que nenhum artista (…) tem a faculdade divina de fazer do caos uma nova ordem”. Trata-se, portanto, de pensar em “criação” dentro de muito bem determinadas e restritas circunstâncias culturais.
Considerando isso, vale a pena lembrar certas figuras emblemáticas como Leonardo da Vinci e Albert Einstein, sempre descritos como “gênios” e raramente como pessoas que trabalharam duro e sistematicamente.
Por vezes, tais crenças são reforçadas pelos próprios artistas. Refiro-me, por exemplo, às figuras histriônicas de Salvador Dali e Andy Warhol, bons artistas e, sabidamente, grandes comerciantes. Ou então à figura de alguns “popstars” com seus comportamentos e imagens idiossincráticos, minuciosamente planejados por departamentos de marketing.
Tal modelo, porém, não é acompanhado por boa parte dos artistas. Para ficar no Brasil, vamos pensar em Portinari, João Câmara, Oscar Niemayer, Gilvan Samico, João Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, os citados Drummond e Antonio Carlos Jobim, Nelson Freire, Ferreira Gullar, Augusto de Campos, Edu Lobo, Egberto Gismonti e Chico Buarque, entre tantos e tantos outros, de diferentes áreas, todos artistas maiores, todos de alguma forma extraordinariamente “criativos” e, entretanto, figuras humanas com vidas privadas e aparências mais ou menos convencionais.
O diferencial deles sempre foi a arte construída por meio do trabalho concreto. Nada de “aparências”, “poses”, “caras”, “imagens” e “atitudes”. Pensando bem, muita “pose” pode até ser sinal de pouca criatividade.
A criatividade em todo o caso, tirando o marketing e a propaganda, nunca foi algo fácil de definir.
Há séculos, falando de arte, o poeta Schiller (1750-1805) já dizia que: “a criação de algo novo não é realizada pelo intelecto, mas pelo jogo do instinto, partindo de alguma necessidade interior”.
Herbert Read cita Michelangelo e Goethe para concluir: “esses grandes homens são artistas apesar de sua inteligência e não devido a ela”.
Mais uma vez, preciso citar Hannah Arendt. Para ela, nada indica que os mais dotados sejam os melhores. Ditadores sanguinários, políticos e empresários corruptos, juízes desviadores de dinheiro público, banqueiros corruptores, chefes de quadrilhas de todos os tipos e tamanhos estão aí para prová-lo. Esses “talentosos” e “criativos” têm um ponto em comum: o individualismo extremado e irresponsável que coloca de forma agressiva interesses pessoais acima de interesses coletivos.
Lugar ao sol
Peço ao leitor/a que pense no ambiente que nos rodeia.
Lembro a enxurrada de super-heróis que, vira e mexe, aparece no cinema de entretenimento, “diferentes” de todos nós, graças a seus extraordinários poderes mágicos.
Lembro dos personagens do cinema comercial que fazem justiça com as próprias mãos, transgredindo as leis, colocando a vida dos outros em risco ou mesmo ferindo e matando gente. Penso aqui, para ficar num exemplo, na cena recorrente da perseguição de automóveis em pleno espaço urbano, desfecho de boa parte dos filmes de ação norte-americanos e similares. Somos levados a acompanhá-la e acabamos nos acostumando com heróis que, diferentemente da maioria das pessoas, dão-se o direito de andar na contra mão a mil por hora, esquecendo-se de que nas calçadas e ruas estão pessoas “normais” — gente como a gente — que não têm nada a ver com o assunto e estão sendo expostas a todo tipo de risco. Abro parênteses: Joseph Campbell, estudioso do mito, define o herói como alguém capaz de colocar os interesses coletivos acima de seus próprios interesses.
Lembro do discurso publicitário, com seus modelos solitários e elegantérrimos, paradigmas de pessoas especiais, diferentes, ricas, descoladas e modernas, entrando em automóveis caríssimos acompanhados de mulheres lindíssimas e partindo em alta velocidade para sabe-se lá onde, diante do olhar pasmado dos “comuns”, em outras palavras, nós.
E as fotos de divulgação de grupos de rock, rap e similares, com artistas fazendo caras de “atitude” e poses “agressivas”, “diferentes”, “descoladas”?
Muitos adultos dão risada diante de tais poses “agressivas”, mas que efeito tudo isso pode ter na formação de crianças e jovens?
Noto que a mídia costuma apresentar todo tipo de “celebridade” em poses, caras e festas mas raramente as vemos trabalhando, de mangas arregaçadas, ensaiando, ralando, dando duro para conquistar seu “lugar ao sol” (para o filósofo Emmanuel Lévinas, vale lembrar, a busca do “lugar ao sol” é “o princípio de toda a iniquidade”).
E o que falar de certas obras de arte (ou produtos comerciais, dá na mesma) apresentadas como “inovações”, de “vanguarda”, a “última palavra”, “diferentes de tudo o que se fez até hoje” quando, na verdade, não passam de simples simulacro?
Separar inovações concretas, algo importante e sempre difícil de realizar, de simulacros de inovação, fica cada vez mais difícil num ambiente onde tudo parece ter se transformado em mero produto de marketing e discurso publicitário.
Fato é que temos sido bombardeados diuturnamente por uma avalanche de gente e produtos que se apresentam e posam como “únicos”, “diferentes” e “melhores”.
Neste contexto, versos como “prefiro ser uma metamorfose ambulante/ do que ter aquelas velha opinião formada sobre tudo” viraram uma espécie de lema.
Em suma, ser “diferente” parece ser uma instituição nos dias atuais. Nem sempre, porém, lembramos o que está na cara.
Vivemos numa cultura essencialmente individualista que valoriza justamente alguém que seja “fantástico”, “super” ou “diferente” (ou que faça justiça com as próprias mãos!). Em outros termos, que valoriza a ação singular, o único, o especial, o novo. Ser diferente, neste modelo, é quase uma ordem, um dever e uma obrigação. Mesmo que a diferença ou inovação sejam mecânica e supérflua, simples simulacro descartável, desprovido de qualquer interesse que não seja o lucro.
Ora, é preciso separar “inovações” que, na verdade, pretendem reforçar o status quo, problemático como sabemos, de inovações de fato, de ideias e conceitos que possam contribuir para alterar o modelo cultural e social que aí está e que, entretanto, por vezes, correm o risco de ser considerados “comuns”, “normais”, “fora de moda” ou “tradicionais”.
Vale lembrar a frase atribuída a T. S. Elliot: “Numa terra de fugitivos, aquele que anda na direção contrária parece estar fugindo”.
Sociólogos, como Christopher Lasch (em A cultura do narcisismo: A vida americana numa era de esperanças em declínio. Imago, 1983), descrevem algumas características do chamado homem “moderno”: o “isolamento do eu”; a “crença de que a sociedade não tem futuro”, devido a “uma incapacidade narcisista de identificar-se com a posteridade ou de sentir-se parte do fluxo da história”; o “viver para si, não para os que virão a seguir ou para a posteridade”; a valorização da “popularidade do modo confessional”, que mistura de forma interessada, o público e o privado; a “tentativa de vender a própria imagem” como mercadoria e com valor de mercado e, mais, o “culto da celebridade”. Nas palavras de Lasch “a mídia dá substância e (…) intensifica os sonhos narcisistas de fama e glória, encoraja o homem comum a identificar-se com as estrelas e a odiar ‘o rebanho’ e torna cada vez mais difícil (…) aceitar a banalidade da existência cotidiana”.
Lasch lembra ainda que, essa autonomia toda, com relação a tudo: o Outro, a sociedade, a família etc., não é tão autônoma assim. Na verdade, ela é funcional. Trata-se de um dos instrumentos da sociedade de consumo. Precisamos ser “livres” e “autônomos”, não tanto para tornar mais civilizada a sociedade em que vivemos (lutando, por exemplo, por uma melhor distribuição de conhecimento entre os cidadãos), mas, principalmente, para escolher os produtos oferecidos pelas indústrias e anunciados diariamente pelas mídias.
Tal modelo tem muitos efeitos. Por exemplo, pode levar uma criança de sete anos a dizer: “Pai, você nunca vai entender por que eu quero tanto um tênis que acende luzinha. Você está por fora!”.
Não à toa, psicólogos têm relatado a crescente dificuldade de pais que não conseguem fazer seus filhos compreenderem a noção de limite. Como alguém que “está por fora” terá credibilidade para aconselhar, educar ou colocar limites em pessoas que se julgam “descoladas”, “singulares” e “diferentes”?
Aliás, para Lasch, este aspecto da cultura “moderna” tem contribuído diretamente para minar a autoridade paterna e desestruturar as famílias.
Formada em tal ambiente, a criança, na idade adulta, agora uma pessoa individualista descolada e cheia de autonomia, talvez seja capaz de dizer: “e daí que a natureza vai ser devastada pela poluição? Até lá eu já morri!” ou “tanto faz se o produto que fabrico pode dar câncer. Não é problema meu!”.
Vamos torcer para que certas crianças, às vezes estudantes de escolas caras, não tenham acesso, no futuro, a posições de poder.
O assunto é grande e demanda reflexão, pelo menos quando pensamos em educação.
Creio que a associação da noção de “inspiração” e a valorização das pessoas “descoladas” e “diferentes das outras” (em detrimento dos pontos de identificação entre todas as pessoas), e o modelo individualista, largamente disseminado e naturalizado como valor social, mereceriam muita discussão, tanto no âmbito escolar como no familiar. Na verdade, mereceriam ser discutido por toda a sociedade.

Formação de indivíduos
Obviamente não pretendo ser contra o desenvolvimento de individualidades ou contra a inovação e a criatividade. Mas, sim, discutir a formação de indivíduos tão autocentrados, tão idiossincráticos e exclusivistas, tão “diferentes” que se tornam incapazes de perceber que, não só têm pontos em comum com o Outro, como pertencem e dependem de uma sociedade e, mais, têm deveres e responsabilidades para com ela.
Ressalto um paradoxo: vivemos numa sociedade formada por indivíduos que se sentem “livres” para “fazer o que querem” quando, na verdade, são muitas vezes manipulados, são mera massa de manobra, submetidos aos interesses que governam a sociedade de consumo.
Mas voltemos à famigerada “inspiração”.
Vejamos o que William Faulkner (1897-1962), Prêmio Nobel de Literatura em 1949, autor de O som e a fúria, Luz de agosto e Absalão, Absalão entre outras obras consagradas, sem dúvida uma pessoa “criativa”, disse sobre o assunto numa famosa entrevista, reunida em Os escritores: As históricas entrevistas da Paris Review (Companhia das Letras, 2011):
“Pergunta: O senhor se referiu à experiência, observação e imaginação como sendo importantes para o escritor. Não incluiria a inspiração?
Faulkner: Não sei nada a respeito da inspiração, porque não sei o que é. Ouvi falar a respeito dela, mas nunca a vi.”
Certamente existem pessoas altamente capazes, criativas e talentosas.
É preciso lembrar, porém, que em geral elas se tornaram conhecidas porque uniram seus dotes à sua grande capacidade de trabalho. A frase “10% de inspiração e 90% de transpiração”, atribuída a um sem número de pessoas, tem tantos autores porque é óbvia e verdadeira. Infelizmente é conhecida, mas pouco levada em conta, principalmente pelos jovens, condicionados por n razões a lutar o tempo todo para ser, mecânica e gratuitamente “diferentes”, “únicos” ou “descolados”, e a acreditar que a “inspiração” é algo próprio a poucas pessoas e funciona como uma iluminação que surge de repente, sem maiores esforços.
Tais crenças, repito, alienam e camuflam tanto o trabalho como a vontade consciente, objetiva, organizada, sistemática e vital de fazer, pensar e criar. Seus resultados têm sido, não poucas vezes, a formação de jovens egocêntricos alienados, incapazes de acessar suas ricas potencialidades.
Quando mencionei a crença de que artistas são mais criativos que outros profissionais, quis dizer que tal mito não faz sentido. Primeiro porque a criatividade é marca presente em todas as atividades desenvolvidas pelo homem e, segundo, porque há os mais variados tipos e graus de criatividade.
Talvez os artistas sejam considerados mais criativos do que, por exemplo, advogados, engenheiros e médicos, por terem suas obras ligadas a expressões marcadamente subjetivas. Num ambiente impregnado de individualismo, é bem possível que seja isso.
Pois bem, vale a pena recordar as palavras do filósofo e educador John Dewey. Dizia ele, faz tempo, no princípio do século 20, que a humanidade dispõe de um método, “o da ciência experimental e cooperativa, o qual constitui o método da inteligência” (em Liberalismo, liberdade e cultura. Companhia Editora Nacional, 1970).
Dewey, um democrata, em suma, dava muito mais valor ao modelo de inteligência participativa empregado pela ciência, por meio do qual a criação é feita por muitos pesquisadores, do que ao modelo de inteligência individualista e suas criações realizadas por uma única pessoa.
Além disso, dizia ele, as preocupações e conclusões derivadas da ciência tendem a ser essencialmente democráticas, pois visam problemas amplos que dizem respeito a todos e nada têm a ver com benefício pessoal ou de classe.
Não se trata, repito, de desvalorizar criações individuais mas, sim, de lembrar que a criatividade é uma potencialidade humana, adquire diversas formas e graus e, portanto, a noção de “criação” não necessariamente tem a ver com indivíduos únicos, singulares e iluminados.
Para um jovem inexperiente em fase de formação, essa informação pode ser valiosa. Digo mais: como todos nós de alguma forma estamos em permanente formação, ela pode ser útil para qualquer um. Muitos adultos até hoje acreditam em “inspiração” e, não poucos, talvez justamente por esta razão, sintam-se pouco “inspirados”.
Sim, é possível que alguém um dia tenha uma grande ideia. É preciso lembrar, porém, que, na maioria das vezes, isso não basta. Vai ser preciso trabalho para torná-la algo concreto, relevante e produtivo.
Como o assunto é amplo e dá margem a muita discussão, acho importante reafirmar: sei que no campo das artes podem existir pessoas extraordinariamente criativas. Sei que certos artistas podem, com suas obras, representar vozes fundamentais das culturas humanas. Sei que seus trabalhos, como dizem os estudiosos, podem ser capazes de “alargar nossa percepção” ou “expandir nossa consciência”.
É preciso lembrar, porém, que: 1) tudo isso envolve noções e avaliações bastante imprecisas e inseparáveis da subjetividade; 2) existem as mais variadas formas e graus de “criatividade”; 3) não dá para afirmar que físicos, filósofos, biólogos ou antropólogos, por exemplo, não sejam também capazes, com suas obras, de nos surpreender e “alargar nossa percepção” ou “expandir nossa consciência”. Os fatos dizem o contrário: basta lembrar Aristóteles, Descartes, Hegel, Kant, Marx, Darwin, Freud, Weber, Einstein, Lévi-Strauss e tantos outros, entre eles os citados Hannah Arendt e John Dewey, que, com suas especulações, acabaram por “expandir nossa consciência” a respeito de assuntos importantes como liberdade, autoridade, educação, tradição, modernidade, cultura de massas e democracia.
Em todo caso, sejam poetas, pintores, biólogos, antropólogos ou o que seja, para serem vozes das culturas humanas e conseguirem alterar percepções e consciências, creio, todos tiveram, têm e terão que trabalhar e trabalhar muito. É humano que seja assim. As eventuais exceções são apenas uma praxe sem qualquer relevância.
Insisto: creio que seria muito importante se as crianças e jovens soubessem disso. Na minha visão, a sociedade tem apresentado a eles, cada vez mais, um mundo sem sentido onde tudo se transforma em simulacro e solipsismo.
Minha sensação, em suma, é a de que as escolas, tirando as exceções de praxe, não têm sido ambientes capazes de contribuir para o desenvolvimento da criatividade efetiva e vital de seus alunos.
Acervo humano
Peço licença ao leitor/a para concluir esse artigo dando um depoimento pessoal.
Lá pela década de 70, antes de publicar meu primeiro livro, decidi começar a recortar notícias de jornal e colar num caderno. Passei também a anotar, no mesmo caderno, ideias, nomes, frases feitas, cenas etc. Achei que fazer isso poderia me ajudar em futuros trabalhos.
Passados mais de 40 anos, as anotações migraram para os arquivos do computador.
Mas continuo, até hoje, a cortar e colar notícias de jornal. Tenho vários cadernos cheios delas. Por causa do espaço, vou dar exemplos apenas de títulos de alguns desses recortes: “Estou vivo, berra o homem dentro do caixão” (O Estado de S. Paulo, 8 de setembro de 2004); “Produtor rural vive pelado há 35 anos” (Folha de S. Paulo, 21 de agosto de 1994); “Vampiro foge e leva sua namorada” (Folha de S. Paulo, sem data); “Menino de 9 diz que matou menina de 8” (Folha de S. Paulo, 22 de março de 2000); “Homem é preso por comer pássaros de gaiolas na PB” (acho que O Estado de S. Paulo, sem data); “Cachorro é enterrado com honras em MG (Folha de S. Paulo, sem data); “Troquei a virgindade por vodka” (Folha de S. Paulo, sem data); “Taturana assassina faz 3ª vitima (Folha de S. Paulo, sem data); “Mendigo vai para hospital depois de comer cachorro” (O Estado de S.Paulo, 2 de agosto de 2005); “Aposentada guarda seu caixão na sala de casa” (Folha de S. Paulo, 17 de junho de 1995); “Mulher entala em janela ao tentar roubar vizinho” (O Estado de S.Paulo, 30 de maio de 1998); “Evangélico corta o pênis para não pecar” (Folha de S. Paulo, sem data); “Escola tem quatro professoras e dois burros” (Folha de S. Paulo, sem data); “Após beber, diretor solta presos na PB” (Folha de S. Paulo, sem data); “Após 16 anos, chipanzé larga o vício de fumar” (O Estado de S. Paulo, 4 de outubro de 2005); “Igreja receita urina para tratar câncer e até aids” (Folha de S. Paulo, 11 de novembro de 1995); “A primeira do dia é a mais salgada, diz balconista” (reportagem na mesma matéria); “Jardinópolis aposenta cavalo” (O Estado de S. Paulo, 22 de fevereiro de 1999); “Menino que furtou ônibus quer achar o pai” (Folha de S. Paulo, 12 de agosto de 2001); “Leilão vende vírus de McCartney” (acho que O Estado de S. Paulo, sem data); “Na Bahia agricultor enterra filho e o reencontra em casa” (O Estado de S. Paulo, 11 de outubro de 2003); “Aposentada se irrita e tira a roupa em banco” (O Estado de S. Paulo, 27 de abril de 2005); “Mulher tem útero operado em vez do tornozelo” (O Estado de S. Paulo, 22 de setembro de 2006); “Famílias tomam sopa de barro em MG” (Folha de S. Paulo, 15 de novembro de 1992); “Policial diz fazer ‘bico’ como dançarina” (O Estado de S. Paulo, sem data); “Ladrão invade casas em Osasco só para ‘assaltar’ geladeiras” (Folha de S. Paulo, 8 de fevereiro de 2008); “Mulher deixa o marido e freira paga o pato” (O Estado de S. Paulo, 9 de agosto de 2004); “Esquecimento: mulher está há 25 anos com tesoura no corpo” (Folha de S. Paulo, 9 de maio de 2008); “Papagaio grita e é salvo de ladrões” (acho que O Estado de S. Paulo, sem data.).
O leitor há de concordar: a vida comum, banal e cotidiana pode ser vista como um acervo humano acessível e, ao mesmo tempo, extraordinariamente rico e criativo.
Preciso dizer que embora continue cortando e colando notícias, nunca utilizei nenhuma delas em meus textos. Aproveito esses cadernos de outra forma: quando estou trabalhando e me dá um branco, não consigo entender para onde a história vai ou algo assim, pego um dos meus cadernos de recortes e dou uma folheada. Eles sempre me surpreendem. Parecem ter o dom de me fazer tirar os olhos do meu próprio umbigo e me mostrar a riqueza da vida e do mundo a minha volta. Saber que o homem é, de fato, “impredizível” tem algo de utópico e me enche de energia e de esperança. Desta maneira, esses recortes me abrem para a vida e têm ajudado a construir meu trabalho [preciso dizer que Hannah Arendt de ingênua não tinha nada. Sabia claramente do perigo representado por governos individualistas, sem Educação, sem Cultura, toscos, autoritários e impredizíveis, com armas de destruição em massa nas mãos.]
NOTA
Este texto foi publicado originalmente na revista Leitura: Teoria e Prática, da Associação de Leitura do Brasil, ano 27, novembro de 2009, número 53. E reescrito para publicação no Rascunho.