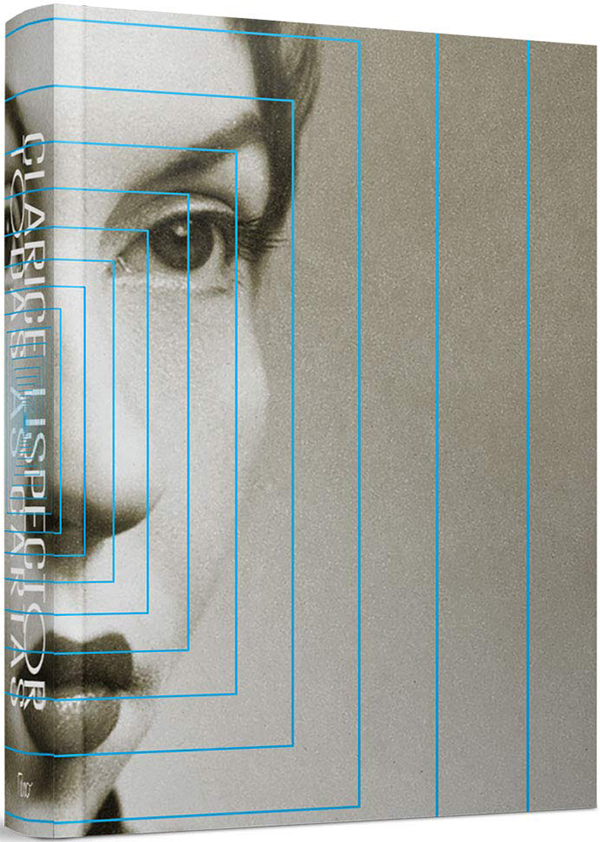Ela era uma pessoa terna, ao mesmo tempo forte, dura, mas se dissolvia toda em amor.
Lygia Fagundes Telles
Durante um seminário de literatura em 1975, na PUC-Rio, Clarice Lispector subitamente se irrita com o hermetismo dos conferencistas e arrasta sua amiga Nélida Piñon para fora do auditório. Sorvendo um café, encostada em algum balcão do campus, Clarice externa sua não compreensão — o que a irrita profundamente — e pede à amiga (mais em tom performático do que de fato em solicitação) que transmita o seguinte recado aos palestrantes: “Se eu tivesse entendido uma só palavra de tudo que os senhores disseram, não teria escrito uma única linha dos meus livros”. Depois, diz que precisa ir para casa comer um frango que sobrou do almoço.
Outro episódio, relatado por Marina Colasanti em Com Clarice (Editora Unesp), inicia-se com a escritora magoada por nunca ter sido convidada pelo jovem casal de amigos (Marina e Affonso Romano de Sant’Anna) para um jantar. Até que o encontro é marcado. O horário (18h30) e os convidados, tudo é elaborado segundo os desejos de Clarice que, assim que a refeição está quase para ser servida, se aproxima da anfitriã e diz que precisa ir para casa, pois está com uma tremenda dor de cabeça. Affonso tenta dissuadi-la com argumentos e aspirinas, mas não há jeito. Ele a leva para casa de carro e o jantar acontece sem a estrela da noite.
Marina Colasanti, sobre o ocorrido, explica:
Ser como os demais não era fácil para Clarice, na maioria das vezes não era sequer possível. E talvez aquela tenha sido uma dessas vezes. A sentir-se uma estranha no ninho, melhor voltar para o ninho onde não se sentia uma estranha.
O sentimento de estranheza se caracteriza por uma visão do outro — um indivíduo, uma cena, uma situação, um ambiente — que o torna, em alguma medida, ameaçador. Essa sensação de ameaça inexplicável (o que de fato está em risco?) se desdobra na interioridade do eu que sempre se vê deslocado, não pertencente, desencaixado.
No primeiro episódio, fica mais evidente, dada a reclamação de Clarice, que o discurso pomposo ou excessivamente técnico-conceitual presente na academia a afastou da fruição do debate. No episódio do jantar, mais complexo, por tudo que o envolve, vê-se que a própria máscara social necessária para as situações de cordialidade nesse tipo de evento fez as vezes de repulsa.
Tais cenas sociais foram muito comuns na vida de Clarice Lispector, cujo centenário de nascimento se comemora em 10 de dezembro, quando acompanhava seu marido, o diplomata Maury Gurgel Valente, na Europa e nos Estados Unidos. Quando estava em Berna, na Suíça, com apenas 26 anos, Clarice, em carta às suas irmãs, pontua algumas dificuldades de se encaixar (ou de continuar se encaixando) naquela função: “mulher de diplomata”. Em certa visita a um ministro, Clarice expõe sua necessidade de contensão para não desagradar, já que à esposa dele tudo soa original. “Mas eu vivo me contendo para não abrir a boca porque tudo o que eu digo soa ‘original’ e espanta.”
Em outra cena social com a família do ministro e um casal de amigos, Clarice demonstra irritação consigo mesma, por ter que fazer a sociabilidade necessária, com conversas comezinhas e opiniões rasas, a fim de não desagradar ninguém, não soar profunda demais ou, deus-a-livre, “original”. Acontece que ela se sentiu burra. Ali Clarice se viu fazendo concessões que a mutilaram no que, provavelmente, era sua maior fonte de orgulho: o intelecto. “Burrice pega mesmo”, diz.
Então passa a se referir a eles como “pessoas best-sellers”. Entendo best-seller aqui como a superficialidade do small talk digno de happy hour e de situações em que as opiniões precisam ser óbvias para serem aceitas, em que só a concórdia se admite e não há troca mais intensa de visões, por vezes controversas, sobre os filmes que vemos, os livros que lemos, a vida que levamos. “Na verdade, o que eles são mesmo é: best-sellers… As opiniões deles são best-sellers, as ideias deles são best-sellers… Acrescente-se a isso a falsa modéstia dela, uma vontade de ser mártir, e uma vontade best-seller de ser vítima e ter angústias.”
Clarice sempre declarou que escrevia muito simples, que era uma amadora (o que, na visão dela, significava ter total liberdade para escrever o que quisesse, no tempo que quisesse), guiada inicialmente por rompantes de inspiração.
Alguns anos depois, também em carta às irmãs, Clarice diz que se sente como um touro castrado, resignada, sem vivacidade e interesse pelas coisas. Cortou tanto, fez tantas concessões pensando nos outros, que sente ter cortado seu nó vital, sua força, agora desfibrada. É dessa carta, de 6 de janeiro de 1948, o famigerado trecho: “Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso — nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro”.
Assim é como se sente Clarice Lispector antes dos 30 anos. Sabe que uma vida morna, pior do que merecer o inferno, é paga com a mesma mornidão.
Em uma entrevista dos anos 70, ela admite o papel exercido na Europa e nos EUA quando jovem adulta, não sem pontuar o quanto aquilo a desagradava: “Eu detestava, mas eu cumpria com minhas obrigações para auxiliar meu ex-marido. Eu dava jantares, fazia todas as coisas que se deve fazer, mas com um enjoo…”.
A ruptura que representa o divórcio e sua ida para morar no Leme, no Rio de Janeiro, à rua Gustavo Sampaio, também se desdobra nesse desencaixe cada vez mais evidente, comparando a sociabilidade da mulher do diplomata com os episódios de evasão da escritora já consagrada.
A essa altura, já tinha publicado Perto do coração selvagem (1943), O lustre (1946), A cidade sitiada (1949) e A maçã no escuro (1961).
Solidão
A solidão de Clarice Lispector foi abordada constantemente em perfis literários e matérias jornalísticas quando a escritora ainda era viva. Em uma carta a Fernando Sabino (de 1946), ela diz que a solidão de que sempre precisou (“Sim, minha força está na solidão”, diz) é, ao mesmo tempo, insuportável. Apesar de sempre se declarar feliz à companhia dos amigos, o fato de não ter se casado novamente e o estado solitário que é condição inerente à escrita contribuíram para o isolamento — e até para a irritabilidade — de Clarice.
A princípio, o viés peculiar com que a obra clariceana foi encarada pela crítica, a partir de Perto do coração selvagem, de 1943, colocou-a sob o espectro de um hermetismo que, entendo, só poder advir de uma dificuldade de associação da sua literatura com as demais produções brasileiras da época.
Clarice nunca quis pertencer “a literatura brasileira nenhuma” (como sempre dizia), e seu fluxo de linguagem, somado à temática intimista — mal lidos por uma crítica predominantemente masculina —, deixou-a isolada no meio literário, sempre sendo refratária a pompas e solenidades.
Ao contrário, ela sempre declarou que escrevia muito simples, que era uma amadora (o que, na visão dela, significava ter total liberdade para escrever o que quisesse, no tempo que quisesse), guiada inicialmente por rompantes de inspiração. Por isso, passou a dizer que sua obra era uma questão de “sentir ou não sentir”; justificando a dificuldade de alguns (mesmo especialistas, como um professor do Colégio Pedro II) em compreender A paixão segundo G. H. e a facilidade de outros (uma jovem de 17 anos) em se apropriar do mesmo material, tornando-o seu livro de cabeceira.
Quando se tornou escritora popular, Clarice manteve uma postura de não comentar suas obras. Dizia jamais relê-las e justificava os não comentários com o fato de não ser uma intelectual. Em suas conversas informais ou em entrevistas, raramente entregava pensamentos sobre seus processos de escrita, temas e afins — a despeito das perguntas constantes.
Ao terminar de ler A paixão segundo G. H. (publicado em 1964), Olga Borelli — à época funcionária de uma instituição para menores abandonados — resolveu tentar conhecer a autora a fim de conseguir livros infantis autografados para as crianças do abrigo. Ligou para Clarice, que concordou em recebê-la — prática comum exercida pela autora com pessoas que admiravam sua obra, convidando para um café em sua casa. Clarice conversava sobre sua vida, seus gostos, mas sempre tergiversava quando o tema era sua própria obra. Mais à frente, ela vai à Fundação Romão de Mattos Duarte assinar as obras e, dois dias depois, liga para Olga solicitando que vá à sua casa. Lá, pede, “por escrito”, para que ela seja sua amiga.
Amizade não se lavra em cartório, mas o peso da escrita é o suficiente para quem se sente morta quando não escreve. O laço é a pena, e a formalidade esquisita do convite à sua afetividade se dá fazendo uso daquilo em que se é melhor: por meio da palavra escrita.
Não romantizemos — ainda que possamos nos identificar com a dificuldade de se dar ao outro. O “por escrito” revela a dificuldade social que levantamos no início e aponta para a solidão que, se constante, tira a prática dos hábitos comuns com desconhecidos. “Sua solidão foi consequência da liberdade maior a que sempre aspirou”, diz Olga Borelli.
A amiga, com quem Clarice passou a maior parte dos seus domingos nos últimos anos de vida, também comenta o seguinte: “Contra a noção de mito, de intelectual, coloco aqui a minha visão dela: era uma dona de casa que escrevia romances e contos”.
Alguns autores, como a historiografia de nossa literatura revela, adquirem certo aspecto mítico, devido a mortes precoces, atitudes libertárias ou idiossincrasias ao longo da vida. E, após seu falecimento, um véu santificador sobre eles se instaura, fazendo com que cada leitor se sinta um pouco dono de determinado autor. Todo mundo tem a sua Clarice. Todo mundo se sente um pouco dono do que se lê, do que se fala, do que se sabe sobre ela — do leitor não especializado ao biógrafo norte-americano. Ratificar a posição de mito (ou elevar ao misticismo a condição de captura de sua obra) parece estratégia individual para valorizar o seu olhar para a sua Clarice.
Desencaixe dos personagens
Que mistério tem Clarice, que escrevia tão simples, que não fazia concessões?
O mistério, cantado por Caetano Veloso, diferente da elevação ao mito, aborda as pequenas epifanias, os microencantamentos que surgem nas personagens da autora, elevando o banal à condição de espanto. De reverberação. Entrevistando Tom Jobim para a revista Manchete, Clarice em dado momento comenta que não tem mais paciência para ler ficção, para então emendar que seus livros “felizmente não estão superlotados de fatos, e sim da repercussão dos fatos no indivíduo”. A repercussão, o impacto, é seu modus operandi ao construir Lóris e Joanas, Anas e G. H.’s.
Tal relação de mistério e espanto com elementos banais, aliada ao desencaixe que faz as personagens verem na cidade e na sua população um ambiente inóspito, hostil, relaciona-se à condição estrangeira com que Clarice parece se sentir no mundo. Sabe-se que o pai, a mãe doente e as duas irmãs abandonaram o Império Russo, tendo Clarice Lispector nascido na pequena cidade de Tchetchelnik, em 10 dezembro de 1920. Os cinco aportam em Maceió, estando Clarice com um ano e três meses, segundo a biógrafa Nádia Batella Gotlib.
Quando questionada sobre sua origem, Clarice diz: “Nasci na Ucrânia, mas já em fuga”. A estrutura da frase e a escolha vocabular demonstram a pressa para se desvincular da geografia que casualmente foi local de nascimento, além de apresentar sua condição de alguém que evade desde os momentos iniciais da vida.
Quando atinge a maioridade, em 1941, escreve duas cartas ao então presidente Getúlio Vargas, pleiteando sua naturalização, solicitando a assinatura do chefe máximo da nação para que o processo fosse encerrado. Na primeira carta, Clarice apresenta suas contribuições como jornalista e afirma já ser brasileira. Afirma ainda que, se fosse obrigada a voltar à Rússia, lá se sentiria “irremediavelmente estrangeira, sem amigos, sem profissão, sem esperanças”.
Ressalta que a sua situação de estrangeira era um mero acaso. Ainda assim, a própria necessidade de escrever a Getúlio pedindo dispensa do prazo de um ano (obrigatório para a regularização do processo) demonstra uma urgência que seria desnecessária à jovem se não fosse devido a um extremo desconforto por sua situação.
Precisar escrever as cartas — e ainda abrir a primeira dizendo “quem lhe escreve é uma russa de 21 anos de idade” — demonstra que a linguagem tenta dar conta da inquietação advinda de um não pertencimento, ainda que meramente formal. A própria contradição entre se afirmar russa e, ao mesmo tempo, afirmar sua natureza brasileira independente de formalidades burocráticas, atesta sua sensação de não-lugar.
Direito ao grito
A relação entre vida e obra em Clarice Lispector é objeto de estudo por muitos pesquisadores desde as últimas décadas. Alguns pontos biográficos da infância da escritora no Recife, por exemplo, aparecem ficcionalizados no livro Felicidade clandestina, de 1971, conforme mostra Lícia Manzo, em seu Era uma vez eu — A não ficção na obra de Clarice Lispector.
Esse aproveitamento das condições biográficas também pode ser visto na novela A hora da estrela. Último livro da autora publicado em vida, ele trata da história (que é composta quase mais de descrições do que de sucessões de acontecimentos) de uma moça nordestina que só comia cachorro-quente (às vezes sanduíche de mortadela) e que nunca se viu nua.
A última entrevista concedida (e também a única em audiovisual), em fevereiro de 1977, aconteceu logo após Clarice escrever A hora da estrela. Ela comenta que, para criar a personagem, foi certa vez à feira de São Cristóvão e pegou “o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro”. Em A hora da estrela, a proximidade está posta ao lermos o narrador Rodrigo S. M. dizer que “numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina”.
Quanto à protagonista, é dito que “faltava-lhe o jeito de se ajeitar”, revelando claro desencaixe e inaptidão social. Não basta essa aproximação com a biografia da autora, que também é nordestina, mas também o enredo da narrativa e a relação da protagonista com o corpo são pontos de semelhança.
Diz-se que a moça nordestina (que nunca vomitou, que era capim e cujo sonho era ter um poço só para ela) foi a uma cartomante, que previu coisas lindas para seu futuro — que incluía se casar com um alemão. Clarice, na referida entrevista, comenta que, certa vez, quando foi à sua cartomante no Méier, achou que seria muito engraçado se fosse atropelada ali na rua logo depois de ouvir todas aquelas coisas maravilhosas. O destino cruel, imaginado para si mesma, Clarice despeja em Macabéa, a protagonista de A hora da estrela, que morre sob a chuva, atropelada por um Benz, sangrando no meio-fio daquela cidade toda feita contra ela.
Essa moça, datilógrafa em demissão suspensa (mais um não-estar), nunca se viu nua e mal tinha corpo para vender. Tampouco teve floração. O aspecto erótico é rasteiro. O desconforto com o próprio corpo e o afastamento do tema sexual também são próprios de sua criadora, que, comentando sobre a vida amorosa, diz que não pode dormir com ninguém porque tem o corpo queimado (referindo-se ao incêndio, em 1966, ocorrido quando dormiu fumando, após tomar tranquilizantes).
Se a combustão interna fez-se exterior, é impossível afirmar. Já o sertão interior de Macabéa (expressão e ideia desenvolvidas pelo crítico e professor da UFRJ Nonato Gurgel, a quem este texto, in memoriam, dedico) permeia todo o deserto interior dessa moça nordestina mais feita de vazios que presenças.
Desse sentimento de inabilidade social e turbulência quanto ao estar no mundo, talvez tenha surgido uma legião de asas feridas. Seres que se intitulam “clariceanos”, que formam esse baile dos desencaixados, que se veem mais aceitos pelas páginas que pelas rodas de chope e risos fáceis. De dentro dessa tábua de aceitação, observam lá fora o mundo social seguir seu fluxo simples e previsível, boiando no rio do supérfluo. Da espuma.
>>> LEIA “A Clarice essencial de todos nós”
>>> LEIA “Dos velhos e oprimidos”, de Claudia Nina.