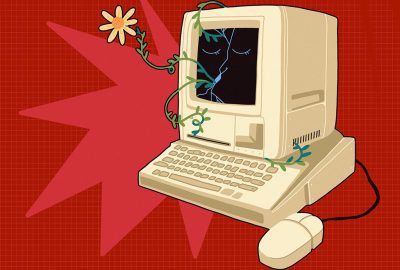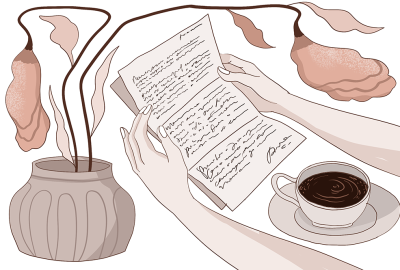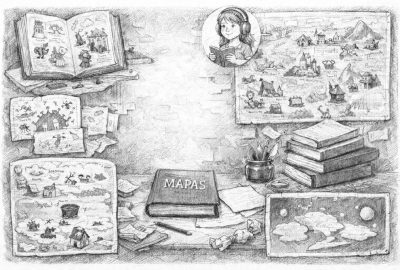Em coluna anterior, anos atrás, discorri sobre a importância, na tradução, de observar a dinâmica de silêncios e lacunas na construção do original — e, em seguida, de buscar reproduzi-la na língua de chegada. Repito aqui uma ideia central que explorei então: o que se chama de “literário”, e o que se chamará de “boa tradução”, se encontra justo nas brechas abertas, nos claros do tecido esgarçado do texto.
Uso essa ideia para lançar breve mergulho à obra de Dalton Trevisan. De livro de DT que li recentemente — Antologia pessoal —, trago citação do americano Michael Wood, registrada no prefácio por Augusto Massi: “Se quisermos estudar o silêncio na literatura, ouvir o silêncio que há entre e além das palavras, o melhor a fazer é ler Dalton Trevisan”.
Uma das principais características que o autor curitibano desenvolveu ao longo de sua carreira — a concisão — caminha de braços dados com esta outra: o uso intensivo de lacunas e silêncios. São elementos que desafiam o tradutor e o forçam a adotar latitude mais ampla de recriação.
Já tive ocasião de comentar neste espaço uma tradução de seleção de contos de Trevisan para o francês: Le Vampire de Curitiba (Paris, 1985). Nela notei a dificuldade — senão certa languidez diante de um desafio grandioso — de transcrever a concisão e, justamente, as lacunas e os silêncios. Não que a tradução parecesse ruim — especialmente para quem desconheça o original —, mas comentei que a conjunção de características do português (em particular, seu caráter sintético) com aquelas do texto daltoniano (laconismo, lacunosidade) parecia impelir as tradutoras — Geneviève Leibrich e Nicole Biros — a trabalhar em sentido inverso, a estender o texto, a tentar preencher vazios, tornando-o mais explicado e menos sugestivo.
Mas antes de carregar na crítica, parece importante ponderar se, de um ângulo positivo, não seria esse um movimento de reinvenção do original; ou se, de fato, de um ponto de vista negativo, não passaria de mera postura de indiferença e acomodação perante um obstáculo imponente. Encaramos o dilema de considerar ou não a tradução como meio de parafrasear o original; e de aceitar ou não graus diversos de liberdade de reinvenção.
Vejo, nesse contexto, duas possíveis estratégias alternativas, que naturalmente assediam o tradutor: despejar no novo texto todo o entendimento produzido por uma leitura marcadamente pessoal, ainda que guiada por consensos e convenções que escapam à individualização; ou nele tentar deliberadamente manter um halo de mistério, um elemento de incompreensão que o leitor deverá buscar deslindar por si mesmo. Essa segunda alternativa parece ao mesmo tempo mais difícil e mais literária, além de talvez também mais literal.
Voltando à reflexão de Michael Wood, penso que os silêncios expressos na obra de Dalton Trevisan, ainda que trasladados à língua de chegada na tradução, podem não despertar no leitor estrangeiro os mesmos sentidos e sensações que produziriam em português. Isso porque as lacunas e ausências propostas numa dada língua podem remeter a idiossincrasias difíceis de transmudar; ou podem conter em si mesmas referências que só o falante nativo do português brasileiro saberá identificar integralmente. É grande o desafio que se impõe ao tradutor; e grande o risco que incorre nessa empreitada, embora não se deva, de nenhuma forma, deixar de empreendê-la — por respeito tanto ao autor quanto aos leitores da tradução.
Tão lida, tão estudada, a literatura de Dalton Trevisan sempre oferece novas janelas de interpretação. Reinventa-se constantemente, mesmo que agora não mais pelo autor, mas por leitores e estudiosos.