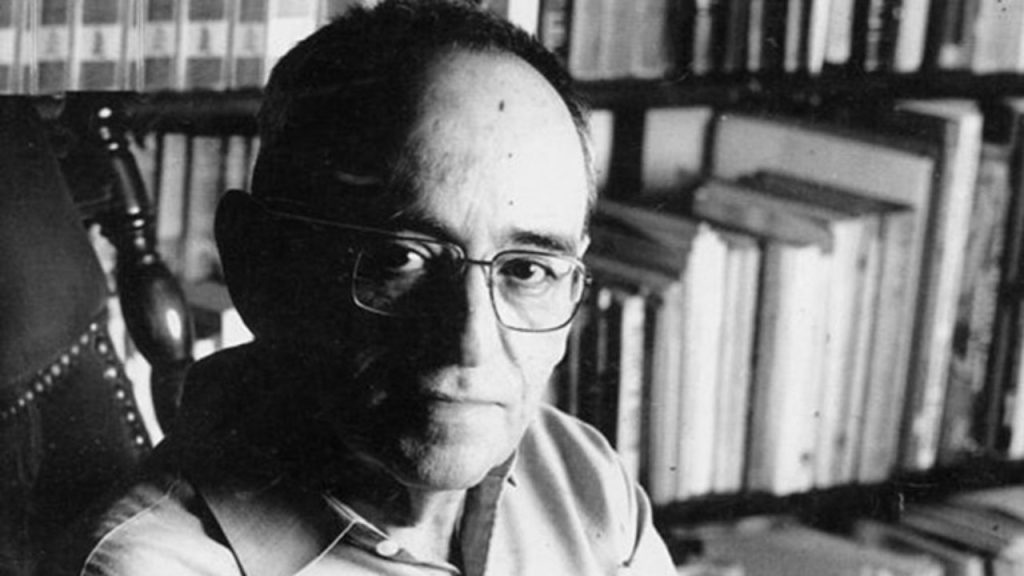Relembro aqui, com clara distorção, o título do célebre livro de José Paulo Paes: Tradução — a ponte necessária. Ponte sobre o rio, ponte sobre o abismo entre as línguas. Ponte, caminho seguro entre as duas margens, entre as duas faces íngremes do precipício. Dispensa o salto. Mas e se a tradução é justamente o salto? E se só pudermos entender a tradução como salto, não como ponte? Pulo sobre abismos que medeiam línguas. Salto com esperança de chegar vivo ao outro lado.
Não quero repetir-me, repisar o mito de Babel. Babel, o conceito, a raiz da confusão. Babel, a palavra que parece igual em qualquer língua — que perpassa as diferentes línguas. Tanto já se escreveu sobre o velho mito que qualquer novo texto pareceria prescindível. Mas confundamos, confundamos todos eles.
Babel como imagem mais vívida: a explosão suave — sutil confusão de línguas — das pontes que tornavam possível comunicação fiel entre povos diferentes. Depois de Babel, nunca mais clareza na comunicação. Sempre resta a dúvida de alguma traição, inocente ou voluntária.
Dinamitadas as pontes, todas elas. Só ficaram as águas profundas e os abismos. E o desejo do salto, e a vertigem-iara que te olha e te chama lá de baixo. A tentação do que nunca deixa de ser necessário: arriscar mais uma tradução.
Babel trouxe como conseqüência a inevitabilidade do salto, o que também transforma a tradução em ato de coragem. Não se trata de saltar para dentro do abismo, mas sobre ele. O objetivo é a outra margem, a segurança do outro lado, onde se possa pousar são e salvo. Nas mãos, seguro, o texto novo e inteligível aos olhos do público novo: tradução. Não o mesmo texto, mas texto novo. As delícias e os defeitos de toda novidade.
A unicidade da linguagem era um poder que Deus — e isso, ao que parece, só percebeu com o passar do tempo — não podia deixar ao alcance do homem. A torre que chegaria ao céu seria apenas o começo. Já não haveria limites — além da própria imaginação, talvez — para tudo o que quisessem fazer. Nenhum desígnio irrealizável. O enorme poder da linguagem única, da linguagem clara, da compreensão imediata, da comunicação perfeita.
A língua única. Mais que a mesma língua, as mesmas palavras: todos os benefícios da máxima uniformidade. Tudo isso criava no homem a plena sensação da prepotência. Doce ilusão. A torre — símbolo dessa prepotência — precisava ser derrubada. Mas nem foi preciso derrubá-la. Inteligência em lugar da força. Sutileza. Não foi preciso tirar um só tijolo do lugar. Bastou a confusão das línguas e sua conseqüência mais imediata — não mais se entendiam uns aos outros — para que o projeto fosse abandonado.
Desçamos, confundamos. Confundir era preciso, e o remédio ideal só viria muito tempo depois — o dom das línguas —, mas com curta vigência e efeito limitado. Afinal, quem hoje tem esse dom?
Restou a eterna confusão e, para ela, um remédio imperfeito, necessariamente imperfeito, mas eficaz. A tradução nada tem de ideal, decerto, mas ninguém lhe pode negar a eficácia. Se não tem exatidão, tem aplicação universal — para toda e qualquer língua, em qualquer situação, para qualquer texto, fácil ou difícil.
Restou a chance do salto. Uns chegam ao outro lado, outros conhecem o fundo do abismo. A tradução é o salto, o ato de coragem — e de certa rebeldia — que nos leva a um ou outro fim. Mesmo os textos que chegam ao outro lado não ficam ilesos. Restos, faltas: o resumo de todos os defeitos em duas palavras. E a tradução como síntese maior.