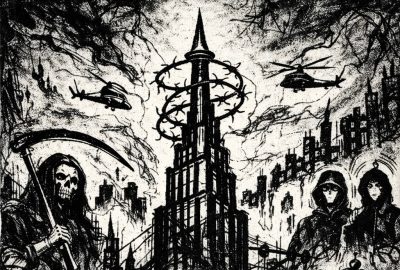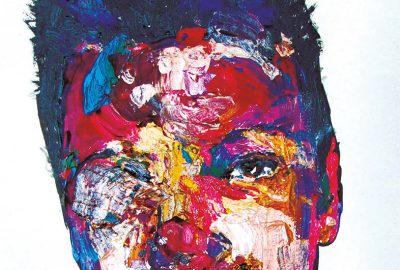Platão não teria nada dito especificamente sobre a tradução. Mas, em seus Diálogos, registrou alguns apontamentos importantes sobre características da linguagem, das palavras, da escrita. Encontramos em Platão algo que já tive ocasião de mencionar aqui diversas vezes: a tese da superioridade da fala sobre a escrita, que tem implicações relevantes para a tradução.
Em Fedro, por exemplo, Sócrates narra a lenda da transmissão da escrita ao rei egípcio Tamos pelo deus Tot. Esse deus — o “pai das letras” — havia presenteado o rei com uma série de artes e invenções, inclusive a forma de registrar a linguagem por meio de símbolos gráficos.
A reação de Tamos surpreende pela crítica que faz à escrita, que, na sua opinião, tenderia a reduzir a capacidade humana de memorização e, pior, representaria dispositivo não de apresentação da verdade, mas de um simulacro de verdade. O rei acrescenta que os homens, com a escrita, poderão ler muitas coisas, mas sem apreendê-las; e parecerão oniscientes, sem na realidade nada saber. Teriam apenas a sombra da sabedoria.
Esse é um exemplo do que poderá ter sido a reação de parte da elite intelectual, em diversas épocas e locais, à invenção da escrita. Uma reação negativa a um instrumento de vulgarização do conhecimento. Uma tradução inferior da verdadeira sabedoria, que se guarda na memória e na oralidade. Redução, enfim, da verdade a sua sombra. O Verbo feito letra morta.
Isso nos faz refletir sobre os tempos em que vivemos, marcados por outra invenção transformadora, a inteligência artificial. Se a escrita teria representado a transferência de capacidades de tradução e memorização para o papel, que efeitos poderá ter a IA sobre a tradução e a memória humanas? Parte relevante dos textos técnicos — considerados aqui quaisquer que não tenham valor literário, artístico — já é traduzida por máquina, com o uso de ferramentas de inteligência artificial. A tradução literária parece ser ainda um bastião sólido de ação humana, mas por quanto tempo?
Voltando a Platão, ainda em Fedro, lemos Sócrates comentar que a escrita, como a pintura, tem apenas aparência de realidade viva. Quando interpeladas, nada dizem sobre si próprias — dependem inteiramente da interpretação que se lhes dá. Uma vez escritas — traduzidas da oralidade ou do pensamento —, as palavras são atiradas à própria sorte, sem controle próprio, sem sentido próprio, e sem pai nem mãe, autor ou criador, que as proteja, defenda ou explique.
Sócrates concorda com Fedro quanto à diferenciação entre a palavra falada e viva da sabedoria, que “tem alma”, e a palavra escrita, que daquela nada mais seria que uma imagem. Tradução imperfeita, talvez.
Em outro diálogo, Crátilo, encontramos análise sobre aspecto distinto da linguagem. Se em Fedro tratava-se da relação fala-escrita, hierarquizando-a em favor da fala, Platão agora se debruça sobre a relação realidade-palavra. A questão é decidir se há algum vínculo concreto e natural entre uma coisa e outra, ou se esse liame é puramente convencional e arbitrário.
Sócrates se distancia desses dois extremos e propõe uma espécie de solução intermediária, não descartando um certo eixo “natural” que ligue realidade e nome, em certos casos, mas tampouco eliminando o papel da convenção no processo de nomeação. Solução que o faz defender a apreensão direta da realidade, sem interferência da palavra.
Ainda que se possa fazê-lo — conhecer a verdade dispensando a palavra —, a transmissão da verdade apreendida depende de um sistema simbólico. A tradução para os outros continua necessária, e é aí que voltamos a afundar irremediavelmente no “âmbito movediço do discurso que as palavras formam”, no dizer do filósofo e crítico literário Benedito Nunes. É nesse âmbito, enfim, que existimos e traduzimos.