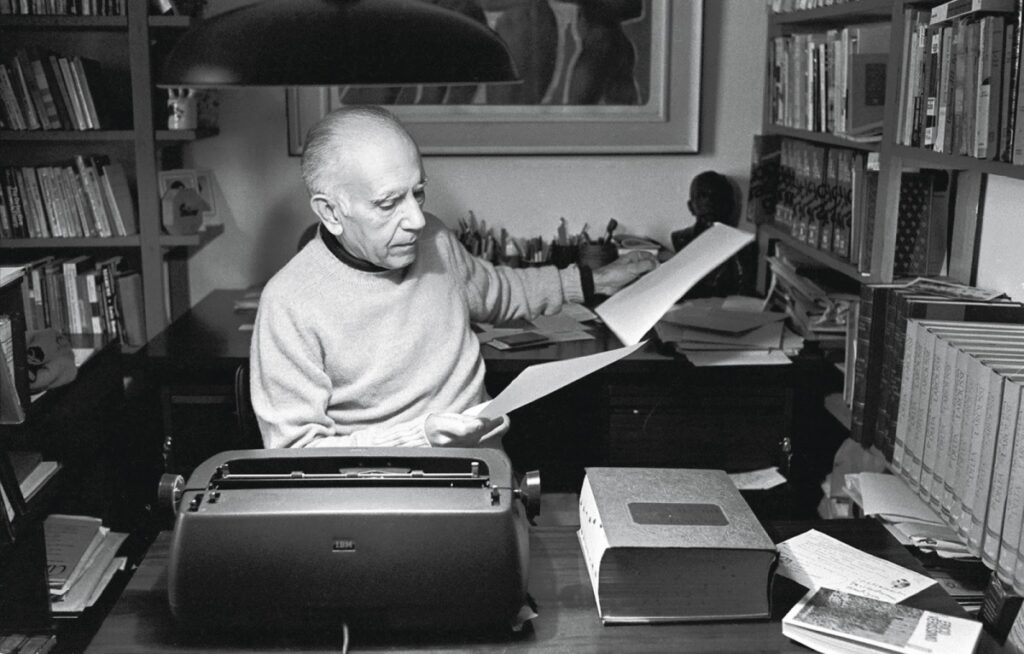Confesso que pequei — pequena falha moral: estive relendo antigas colunas minhas. Vaidade das vaidades: gostei da maior parte. Certamente a autocrítica não anda funcionando bem. Leio como se não tivesse sido eu mesmo o autor. Acho mesmo que não fui. Muitos trechos me são totalmente estranhos. Nada me lembram. Temas não parecem enquadrados naquilo que sou. E o estilo, então? Como mudou! Não pode ser o mesmo autor. Não podia ter sido eu.
Lembra-me a maneira de esquecer do Erico Verissimo. Revisitar o texto meu como se de outrem — texto não de ontem, mas de décadas. Foi sincero, não tenho dúvida. Algo que talvez agora me falte — sinceridade. Faço força para esquecer o que só agora há pouco me deixou a memória. Rastros ainda frescos como pista fácil.
Traduzir é também visitar, ou revisitar, o texto de outrem — texto que podia ter sido seu, originalmente, se tivesse tido mais tempo ou talento. Se tivesse tido tempo de burilar aquela idéia bruta que agora salta brilhosa — escândalo! — do branco do papel. Texto que agora, indefeso em suas mãos, se presta plástico à mais vil vilipendiação, mas também à lapidação que suas mãos hábeis fazem facetar. Tudo depende de você: a virtude da primorosa reconstrução chamada tradução ou o vício vil de violar a letra morta para dar-lhe nova vida, mas torta e de rumos errantes.
Texto descansado de anos, décadas, eras. Letras há tanto tempo não lidas, que olho mais nenhum fixou. Nenhum outro olho daqueles que sabiam lê-las como nativos. Texto prenhe de sentidos à espera de quem possa decifrá-los e trazê-los à tona — à vista do leitor que tudo lê e aceita e longe do crítico que, frio, avalia severo. Mas ainda há crítica? Certamente não da tradução, que é dupla crítica e duplo trabalho — tarefa para poucos, dentre os quais me excluo.
A vida é curta demais para tanta tradução. Já não há tempo para revisitar tantos textos já lidos e relidos. Os querem? Pois que os leiam em sua própria língua, a língua do original. Há pressa de escrever o novo, o não dito e o não lido. Aquilo que não foi ainda composto com essas peças tantas — palavras de sobra para montar e desmontar nesse lento processo de estudo que chamamos tradução.
Ler, li. Traduzir, traduzi. Não sei se atingi o bom senso. Talvez — com ele bem na mira, me lembro bem — o tenha ferido de morte. Não fiquei para ver o estrago. Saí e deixei ali os restos que chamam tradução: a tradução daquilo que penso ser a tradução. Mas é algo pessoal demais para ser transferível, transladado de um a outro, de uma língua a outra. Melhor ficar mesmo nesta, que é mais minha.
Andei relendo colunas antigas. Em torno delas, enrodilhadas, enredadas no engano, inscrições hoje ininteligíveis. Nem mesmo eu que supostamente as fiz as entendo mais. Quem as entenderá? Aquele que se der o trabalho de tirar sentido de letras tortas — tretas, diriam. Quem sabe o leitor rapace, ladrão de todos os sentidos ávido por subtrair mesmo daquele que não tem. Subtrair como nova forma de trair na tradução — vício velho como o tempo, mas que remédio?
Não sou pessimista. Traduzir ainda é preciso, mesmo que a malha fina de todas as redes capturem o sentido mais fino — clímax da sofisticação cibernética na forma da máquina de pensar. Também é preciso refletir — forma de persistir — sobre a tradução. E repensar o que se escreveu sobre tradução. Não refazer, mas repensar: como poderia ter sido melhor, se apenas soubesse o que sei hoje! (Como se hoje soubesse grande coisa.) Não custa mesmo nada sonhar, e o papel inerte e irresponsável tem o velho vício de aceitar tudo. Que os editores nos salvem de erros maiores!