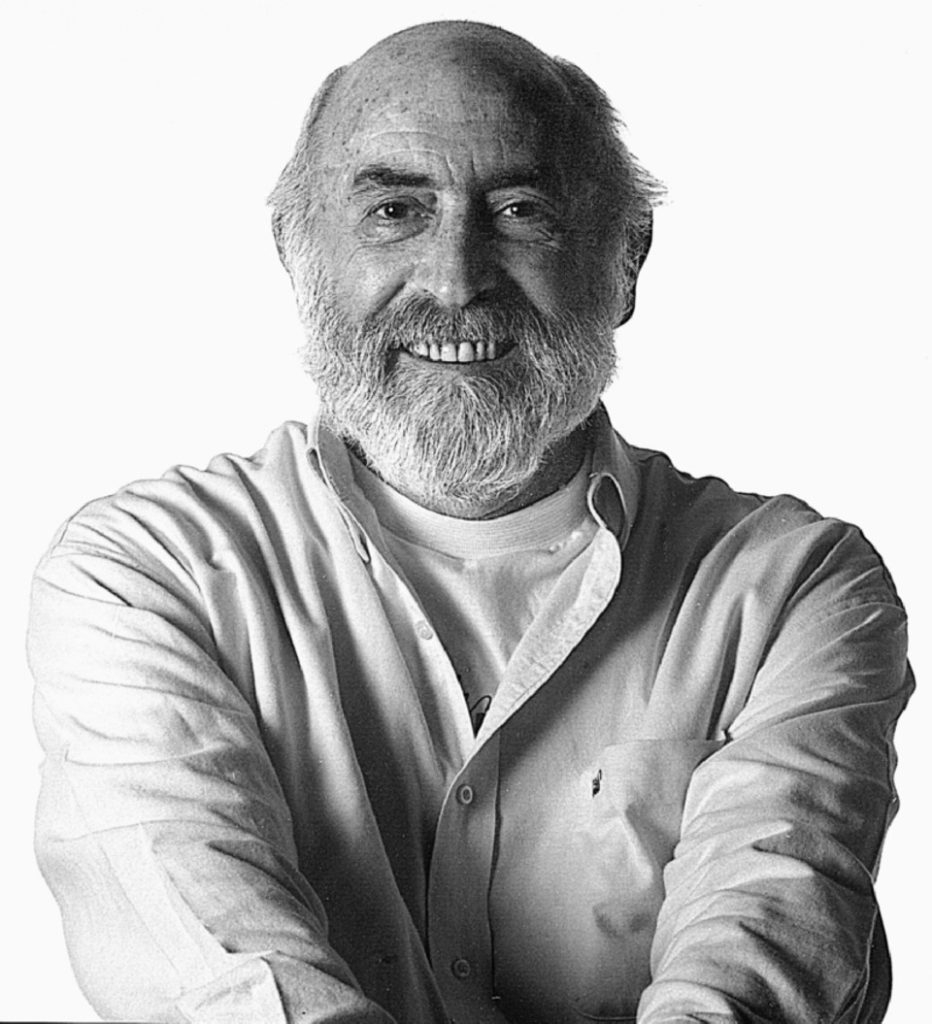Viver é prejudicial à saúde é um livro peculiar, como intensa e positivamente peculiar é a literatura de Jamil Snege. Não vou me ater aqui ao livro em si — cuja leitura, penso, é todavia necessária. Como costumo fazer, dele retiro pensamentos, lampejos que remetem à construção da linguagem e da tradução.
Já perto do final da curta obra, o protagonista reflete sobre a vida e a carreira profissional, encetando um monólogo sobre linguagem e criatividade: “Hoje percebo nitidamente que me falta é talento, fervor, febre criadora. Aquela centelha a que chamam gênio, capaz de embaralhar as verdades aceitas e propor o novo aos olhos pasmos da realidade”.
Na arquitetura, na publicidade ou na tradução, como em qualquer atividade criadora de significado, esse fervor inventivo é sempre bem-vindo. Na tradução, a apresentação do novo sempre é cercada de polêmica, talvez ainda mais do que em outras áreas profissionais. A capacidade de dosar inventividade e fidelidade é um talento valioso.
Ocorre que, na tradução, o novo deveria ser tido como natural, praticamente uma exigência do ofício. A fricção entre idiomas gera inevitavelmente a fundação de palavras, significados, estruturas gramaticais estranhas à língua de chegada. O novo se insinua. Sempre se agrega algo ao idioma para o qual se traduz.
E a tradução ainda tem que ter a veia da verdade, no sentido de sua comparação com o original. É sempre um cotejo difícil, porque entre dois elementos esquivos. O que abre muito espaço — nesses largos intervalos entre original e tradução, entre criação e reprodução — para instilar um arranjo singular de verdades.
O protagonista segue em suas lamentações: “Eis o que me falta: a capacidade de exprimir isso de maneira original, sem o já feito e o já pronto, o vulgar lugar-comum, a inércia da linguagem que transforma o dito numa dublagem do que deveria ser dito”.
Assombra o tradutor, naturalmente, o sentimento de impotência ante esse desafio. Não basta, então, claro, interpretar mecanicamente o original; importa fazê-lo de maneira autônoma e original, procurando evitar o trilho cômodo do mero, insosso decalque. Seria isso traição? Seria verdadeira tradução?
O fato é que a tradução exige algum grau de desvio para, paradoxalmente, colocar-se à altura de um verdadeiro original — pois este busca individualizar-se, distinguir-se do que já foi escrito.
Não pode o tradutor contentar-se com “dublar” o que foi dito no original. Não que a dublagem seja necessariamente algo mecânico: a tradução e a interpretação dos diálogos de filmes, por exemplo, têm singular complexidade. Mas o protagonista de Snege usa o termo em sentido claramente pejorativo: mero simulacro de um texto. Espera-se muito mais de uma tradução.
No final desse breve excerto, o protagonista de Snege lança um clamor desesperado em sua luta para amplificar e aperfeiçoar sua expressão: “se eu pudesse rasgar com as unhas a pele das palavras, romper seu invólucro acústico, liberar o feto coaxante que habita em seu bojo, ouvir suas imprecações de cartilagem e muco — um som que fosse a extrusão de membranas malformadas sobrenaturando o mundo…”.
Esse talvez seja o grande desafio do tradutor, também do tradutor. Quebrar a casca do ovo, liberar seu conteúdo. Agarrar cada palavra e dela arrancar seus sentidos mais plenos, expressivos, brilhantes, para então interpretá-las, trasladá-las, traduzi-las e fixá-las num novo texto, com a mesma força primeva. Será ainda pouco?