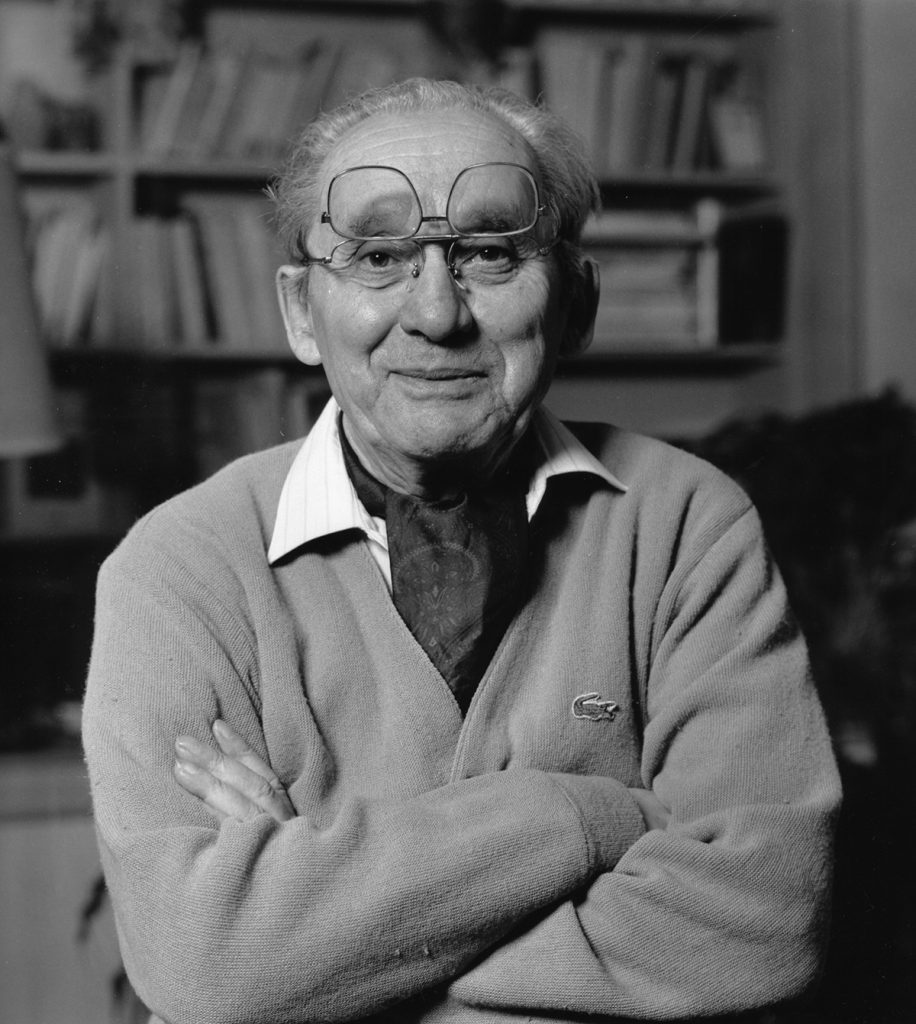Não é nova a imbricação entre filosofia e tradução. E entre filósofos e tradutores. Paul Ricoeur é mais um exemplo dessa íntima relação. Um breve livro — Sur la traduction (Bayard, 2004) —, com três reflexões de Ricoeur sobre a tradução, dá uma idéia de seu pensamento sobre esse que é um dos ofícios mais antigos do mundo. Reflexões incitam reflexões. Ricoeur provoca, tenta o leitor a tomar-lhe conceitos para criar outras divagações. Instiga a proliferação de novas idéias.
O leitor resiste à tradução. Prefere o original, despreza o texto secundário. Resiste não só ao texto subordinado, mas à própria idéia do texto estrangeiro. Se não há escape, inclina-se para a tradução domesticadora, que apague ao máximo a marca do estrangeiro. É preciso apropriar-se do texto do outro, da literatura alheia, para torná-lo “nacional”.
O tradutor teme o original, e principalmente o texto que o sucederá — novo texto que será seu, com assinatura alheia. A suposição de intraduzibilidade — conceito de Ricoeur — faz que a tradução já nasça com o estigma da inferioridade. Qualquer tradução será tradução ruim. Não parece haver escape.
A suposição de intraduzibilidade é real e devidamente motivada. Como traduzir literaturas forjadas em línguas cujas sintaxes não se ajustam, cujos vocabulários não se encaixam, cujos ritmos pulsam em cadências assíncronas, cujos signos remetem a imagens que parecem desencontrar-se? Pior: como traduzir se o humor que flutua sobre o texto, nos entremeios do texto — lubrificando com frouxos sentidos o espaço entre as palavras — não encontra eco na língua de chegada?
Como traduzir, questiona Ricoeur, como medir a adequação de uma tradução, se não há um terceiro texto que medeie entre os dois extremos (original e sua imagem-tradução). A tradução padece de uma falta original. Não há pedra de toque que a afira. O texto traduzido é uma imagem solta no ar, pendente de outro texto, do qual se origina, mas que não lhe serve de padrão de aferimento, de critério absoluto.
Não havendo essa pedra de toque, resta ao tradutor “construir o comparável”. Houve um tempo em que essa construção era artesanal. Hoje, dispõe-se de instrumentos sofisticados, de pré-fabricados que possibilitam quase “montar” (e não propriamente “construir”) o comparável. Como se parte do trabalho houvesse sido feito. Mas há sempre risco na tradução: risco de traição. Há que fazer desse risco fator criador, para criar o comparável. E rezar para que o comparável, assim nascido, seja aceitável ao leitor. Apostar, otimista, na “compreensão” do leitor.
Compreender é traduzir, mas não é o suficiente para produzir uma boa tradução. A compreensão, se não é pelo menos provisoriamente solidificada no texto, não gera tradução. Compreender é traduzir, mas não no sentido que queremos significar: traduzir um texto de uma língua para outra. A compreensão envolve uma tradução, mas traduzir vai além de compreender meramente. Por outro lado, o traduzir, se bem trabalhado, não deixa de ser prova cabal da compreensão: “Provar que compreende, só traduzindo”, dizia Cartesius em Catatau.
Contudo, compreender não é fácil. A língua é um instrumento de comunicação, mas pode também servir para esconder sentidos. Serve tanto para revelar como para ocultar. Diz Ricoeur que a língua tem propensão ao “enigma, ao artifício, ao hermetismo, ao secreto”. De certa forma, tem de fato. É um vício da linguagem, um vício de origem, nascido em Babel. A indeterminação é uma das características principais da linguagem — é o que ajuda a construir a beleza e o fascínio da literatura.