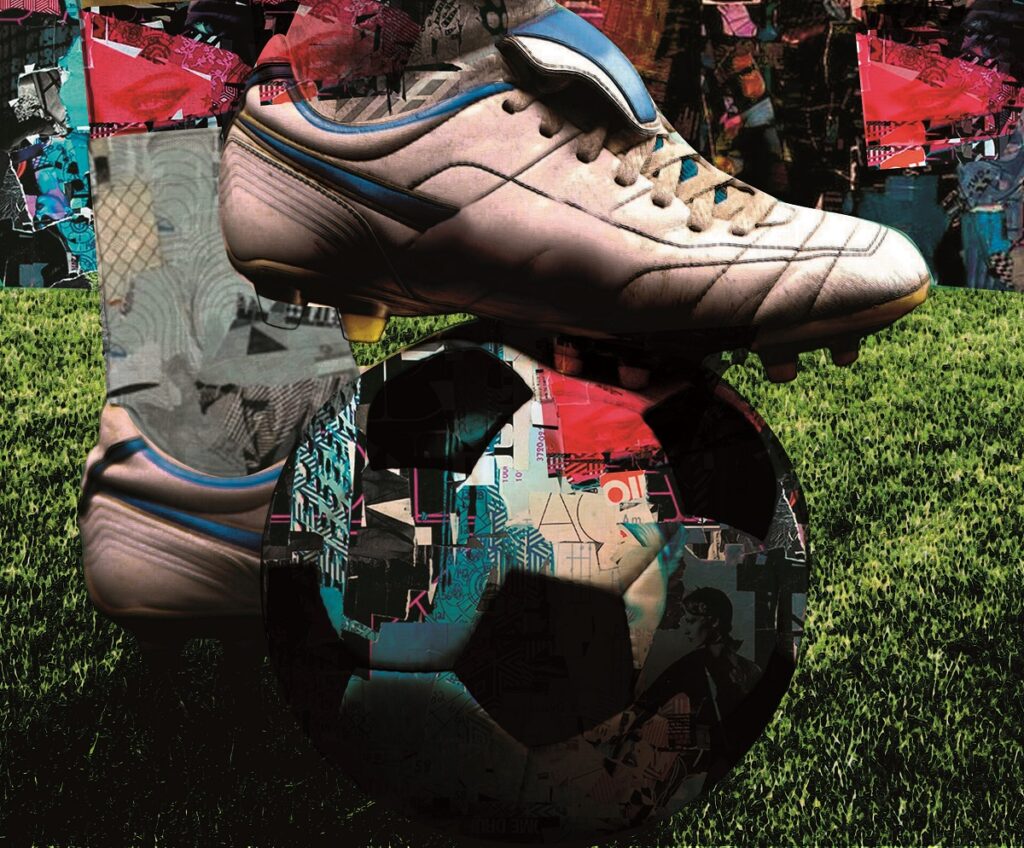Nosso Pelé era uma fraude. Gordo e desajeitado, chutava com a perna esquerda. Não sabia cabecear. Seus gols, raridades num antiquário de mentira. E, cansado, enveredava de goleiro — um rei maltrapilho cujos servos o ironizavam. Nossas casas roçavam o telhado. Nossas mães arrastaram da roça uma amizade silenciosa e a prole esfomeada. Eu e meu irmão chutávamos pedras sob o olhar indiferente da irmã. Do outro lado da fileira de cedros, Pelé reinava com os três irmãos. Juntos, formávamos um time inteiro no reduzido campinho de chão batido e traves de madeira. Sempre depois da escola, encontrávamo-nos em direção ao estádio imaginário atrás de casa. A bola dente de leite estrangulada no sovado. O futebol era nossa obsessão num tempo em que ser criança parecia a eternidade.
Eu lançava a bola no pé. O passe certeiro o encontrava. A bola, um animal a ser domado, tropicava pelo gramado de pedregulhos e, irônica, rumava para a valeta ou para a rua de nenhum carro. Nossas jogadas acabavam em fracasso. Não desistíamos. Éramos um time. A cumplicidade da infância não nos trouxe entrosamento. Continuamos a jogar um futebol em que Pelé não fazia diferença. Meu irmão se chama Roberto Rivelino. Mas também era uma fraude. Jogava no gol. E carregava o apelido de Preto. Nossa dupla de craques ensaiava jogadas que nunca existiram. Pelé sorria com facilidade. Jogava com a displicência de um vassalo a caminho da guilhotina. Nada disso tinha importância. A amizade nos impulsionava. Onde iremos chegar ainda não descobrimos.
Diante da fresta da casa de tábuas, amontoávamo-nos. Num fiapo de luz, víamos Pelé. Estava diferente. Quieto na cadeira, a mãe cuidava das feridas. Uma faixa de pano envolvia seu tronco. Estrada branca no chão de terra escura. Durante muitos dias, não apareceu no futebol. Sentíamos a sua falta. Futebol sem risada perdia a graça. No fogão a lenha, a frigideira com azeite borbulhante. Um deslize e a gordura esparramou-se pelas costas de Pelé. Um vulcão cuja lava consumia uma terra inexplorada. Foi ao hospital. Depois, ficou em casa cuidando das chagas. Não tínhamos coragem de olhar nosso amigo que derretera um pedaço das costas. Logo, uma crosta de ferida deixaria marcas que, a nós, pareciam repugnantes. Com o tempo, sumiram. Continuamos a jogar futebol até o dia em que o calção não mais nos servia, a bola parecia pequena e o campinho de terra deixara de ser o Maracanã.
Tínhamos de trabalhar. Aos doze, treze anos, o futebol nos esperava apenas no fim de semana. Eu, na fábrica de móveis de bambu. Pelé, em algum lugar cuja lembrança se apagou. Um dia nos encontramos. Numa das curvas da avenida que a cada ano se alargava e ganhava mais carros, a fabriqueta de móveis coloniais seria nossa última parada. Entramos juntos no novo emprego. Já estávamos calejados. Eu tinha quase quatorze anos. Pelé, alguns meses mais velho. Éramos homens num corpo de criança. Eu sempre magricela feito um Visconde de Sabugosa. Ele, reforçado, meio gordo, com as cicatrizes borbulhando nas costas.
A experiência com os bambus e juncos na fábrica anterior de nada servira. Tudo dava errado. Minhas mãos eram analfabetas para os móveis pesados e robustos do novo emprego. Pelé se virava bem. Tínhamos de lixar, cortar, pintar o dia todo. No meio da tarde, a folga para o café. Nosso café era uma garrafa de chá frio e duas fatias de pão caseiro. Antes de sair de casa, a mãe me entregava a garrafa de gasosa com o chá. Lembro-me da tampa preta de plástico. O pão com margarina ou chimia. Enfiava tudo na mochila de plástico, ao lado da marmita do almoço. Na fábrica, até escurecer. Depois, a escola.
O apito nos avisava que podíamos respirar sentados. Íamos a um canto. Eu abria a mochila e retirava nosso café da tarde: chá frio e duas fatias de pão. Dividíamos tudo em partes iguais e conversávamos envoltos pela serragem. Eu reclamava do trabalho. Ele tentava me animar. Dizia que eu logo aprenderia tudo. Sabíamos que era mentira. Aquele trabalho nunca me pertenceria. Voltávamos ao batente. Pelé sempre no meu encalço, cuidando para tornar invisíveis os meus erros. A minha cola não pegava; o meu verniz não pintava; a minha lixa não alisava. A profissão de marceneiro seria apenas uma lembrança sentada numa cadeira de pernas tortas.
O caminhão estacionou na porta da fábrica. Duas semanas se passaram desde o primeiro dia de trabalho. O salário ainda demoraria. Todos os funcionários — homens e crianças — tinham de descarregar as madeiras que logo se transformariam em algum móvel (de mau gosto) à venda nas lojas de Santa Felicidade — o bairro de Curitiba que sobrevive de enganar turistas desavisados. A fileira de formigas recebia o torrão de açúcar nas costas. Caminhava em linha reta até o depósito. Ali, descarregávamos as tábuas. A primeira carga me doeu um pouco nos ombros de sabugosa. Firme, percorri os poucos metros que me separavam da tortura. Pelé parecia ignorar o peso às costas. Sorria ao caminhar. O gol é logo ali, passa a bola. A torcida urrava no Maracanã lotado. A bola dente de leite deslizava pelos pedregulhos. Vai, Pelé. Mais uma carga e meu lombo começou a fraquejar. Na terceira montanha de madeira e ódio, caminhei feito um bêbado no pântano. Mirei o fundo da fábrica, respirei com raiva, finquei as patas no chão e trambalhei. Poucos passos me separaram da desgraça. Antes de chegar à metade do caminho, toda a carga desabou. O estrondo encontrou cadeiras e armários recém-envernizados.
O estádio vazio era silêncio e desespero. Não havia adversário. O gol sem rede. A bola furada ao lado da valeta. Pelé me olhava com um serro de tábuas nos ombros. Passa a bola, Pelé. Vou fazer o gol. Não havia gol possível. Nosso time, às vezes, perdia. Ou sempre perdia. Quando o chefe me chamou à sua sala — um quartinho poeirento e frio —, descobri que minha vida de marceneiro durara poucos dias. Logo, estaria em outro emprego: entregador de medicamentos dentários. Pelé continuou na fábrica por mais um tempo.
Ainda hoje eu o encontro no campinho de terra atrás de casa. A bola dente de leite debaixo do braço. Os pés descalços. Um jogo que já dura quase quarenta anos. Passa a bola, Pelé. O gol não sai. A risada percorre o Maracanã. Segue entre cadeiras, mesas e armários. E nunca vai embora.