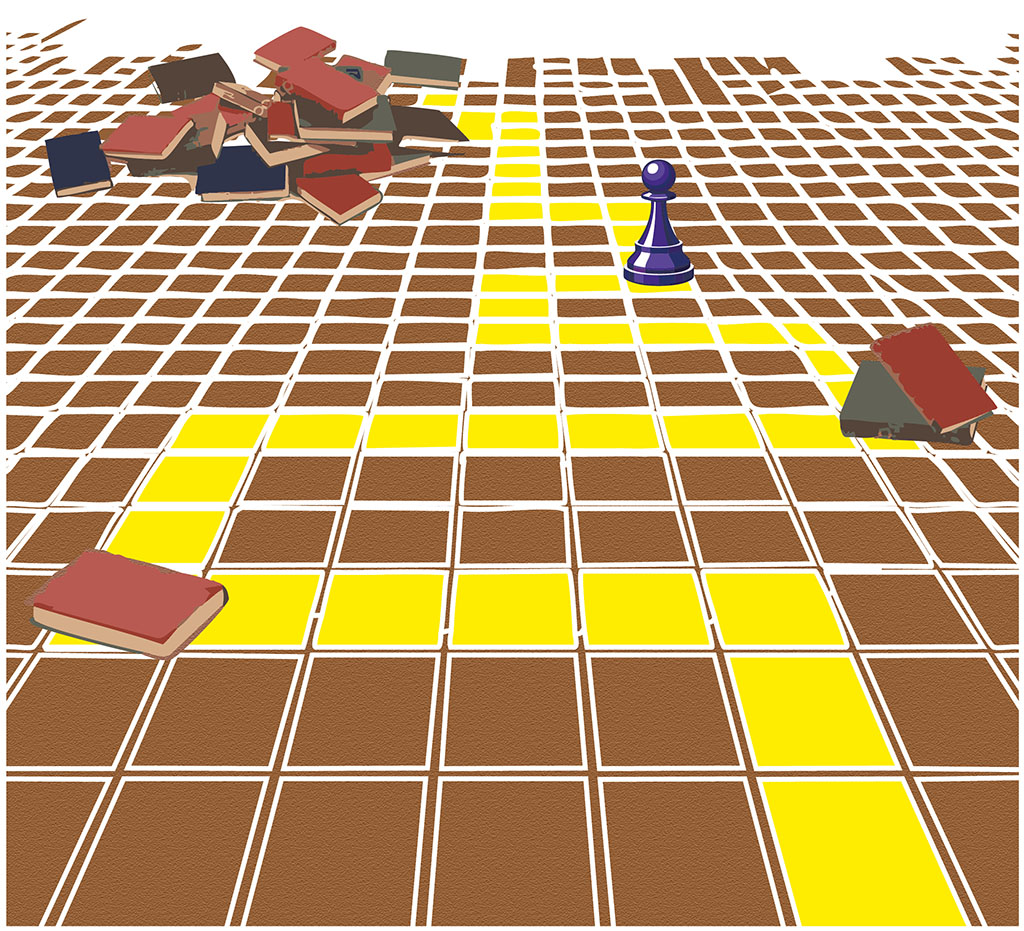Tornei-me leitor por acaso. Nada há nada de especial ou heroico nisso. Uma trajetória prosaica — talvez amparada em doses generosas de sorte — levou-me à leitura. Não havia livros em casa (a não ser uma esfarrapada Bíblia, que a mãe, na sua ignorância ancestral, insistia em ler com a ponta dos dedos, a contar letras, a somar palavras, uma espécie de carinho na face indiferente de Deus; sempre olhei a mãe ali diante do fogão a lenha com certa pena e incredulidade; a Bíblia era a única arma para se defender daquele mundo bárbaro: o marido alcoólatra e violento, o emprego miserável, os filhos famélicos; era muito pouco o que tinha em mãos: um amontoado de folhas de papel com palavras indecifráveis), não havia livros na escola. Não havia livros em lugar nenhum. O livro era um animal excêntrico, selvagem, nunca domesticado. A aridez dos dias nos entregava uma ausência de coisas que desconhecíamos. Tínhamos apenas uma obrigação: sobreviver. O resto era, no máximo, um incômodo silêncio.
Quando fui à escola pela primeira vez, aos sete anos, munido de um lápis, um caderno, um apontador e uma borracha, tudo dentro de um pacote plástico de arroz, encontrei uma professora. Uma mulher de cuja silhueta nenhuma lembrança restou. Estava mais interessado na cantina, onde a comida quase sempre gosmenta fumegava numa panela imensa. Os maldosos diziam que era o tacho da bruxa. Mas a cantineira — uma mulher de sorriso afável, corpo roliço e mãos imensas — não me parecia nada com uma bruxa. A única bruxa que eu conhecia era a avó paterna. Aquela mulher diabólica e magra feito um espeto de bambu, sim, era uma verdadeira bruxa. Ali, na cantina, eu era uma criança feliz: diante da merenda que o governo nos entregava tal o rico oferece um pão mofado ao pedinte no semáforo. Eu não tinha qualquer ilusão. Havia poucas ilusões naquela infância brutal, de ausência total de brinquedos, repleta de violências e de trabalho infantil. Queria apenas fugir do trabalho forçado, dos murros do pai e, agora tenho certeza, da tristeza da mãe. Ela, uma mulher calada e sempre pronta para enfrentar o mundo a tapas e lágrimas, era tristíssima. Talvez tenha sido a pessoa mais triste que conheci e vi morrer. Quando ela morreu, além da tristeza, senti certo alívio — o peso de uma vida miserável ganharia a leveza do vazio. E, na ausência de palavras, a mãe relegou-me o inadequado silêncio que carrego comigo. Luto bestialmente contra a tristeza da mãe e a fúria do pai: as únicas heranças possíveis.
Sentava na primeira carteira. A escola era de madeira e me parecia frágil. Caso o lobo mau aparecesse, teria pouquíssimo trabalho para arrasá-la e devorar minhas carnes ainda macias e suculentas, apesar do corpo esquelético e delicado. Ali, diante daquela mulher, aprendi a ler e a escrever. Isso sempre me pareceu uma espécie de milagre — ler e escrever —, apesar de acreditar que milagres e Deus sempre estiveram do outro lado da trincheira nesta batalha sagrada. Não lembro se eu lia com desenvoltura. Mas lembro de que um dia ganhei um bonequinho da professora por ter sido o melhor em leitura. Era um ridículo bonequinho de papel colocado sobre a carteira, espécie de troféu pelas minhas habilidades. Uma outra aluna também ganhou. E, diante da turma, ficamos lado a lado na sala. Eu, magro e quieto. Ela, gorda e expansiva. Por onde andará aquela menina, hoje uma mulher de pouco mais de cinquenta anos? E por onde andará aquele menino magricelo que estava ao seu lado?
Na escola, havia uma caixa de papelão, onde alguns livros ficavam à espera do interesse dos alunos: uma espécie de cão abandonado na expectativa de um dono. Quase ninguém se interessava por aquilo. Um dia, a professora, aquela bondosa mulher que me alfabetizara, deu a ordem: na próxima semana, era preciso levar dinheiro para irmos a uma feira do livro. Uma ordem meio enigmática: dinheiro, livro, feira. Anotamos a mensagem no caderno para mostrar a nossos pais. Eu apenas informava a mãe sobre as obrigações escolares, sem lhe mostrar qualquer bilhete ou informe da escola. Inclusive, durante muito tempo, falsifiquei o seu nome no boletim escolar — começava com um Z todo retorcido e terminava com um anêmico A. Desde os sete anos, encontrei meios de burlar a nossa ínfima história familiar. Ao pai, eu não relegava nada mais que a indiferença. Ele não se interessava por mim; eu não me interessava por ele. A completa falta de afeto sempre nos uniu num abraço inexistente.
Era uma estranha missão: comprar um livro. Chegamos cedo à praça de chafariz imundo, no centro de C., onde crianças chapinhavam os corpos sujos e magrelos. Descemos do ônibus em alvoroço. Logo, contidos pelo rigor professoral. Imagine o desespero de se perder alguma daquelas crianças? Em fila — formigas curiosas em direção ao abismo —, iniciamos nossa odisseia sem ao menos desconfiar de que Homero jamais velaria nosso sono, amparados pela professora que tentava, literalmente, nos colocar na linha. Um a um, fomos forçados a agarrar a mão de um colega. Na insônia infantil, eu sonhava com a delicadeza da pele de M. — a loirinha que insistia em cavoucar o nariz e levar o dedo à boca com um charme aterrador. Restou-me, no entanto, o menino magro de andar torto, que invariavelmente dormitava em sala de aula e nunca aprendeu a ler frases inteiras.
“Então, leia, meu filho.” A mãe não sabia colocar vírgulas. Eu as coloco agora na ilusão de pagar uma dívida imaginária. Mas vírgulas não nos salvam de nada. Ela, a mãe, me esperava na porta de casa. Passava do meio-dia. O sol lá no alto, no centro do mundo. A cena da mãe esperando o filho diante de casa não pertencia àquele roteiro. Não tínhamos roteiro. Éramos guiados pela incerteza. A mão de Deus não nos dirigia, apesar da ferrenha e inabalável crença da mãe. Já nascemos extraviados. Eu acreditava mais na sorte. A curta frase (“Então, leia, meu filho.”) saíra da boca já em ruínas. Aos poucos, a boca da mãe começou a murchar, a perder o viço. A queda de um dente após o outro transformou a gengiva em terra devastada, improdutiva. É fácil ser triste quando se é banguela.
Voltei para casa com um insignificante livro de poucas páginas, pequeno, desgastado nas bordas. O único possível encontrado no cesto no final da feira. Quase sem querer, deparei com a ridícula placa “Tantos livros por tão pouco”. Mergulhei feito um desesperado em busca de salvação. Enfiei todas as unhas disponíveis por entre aqueles seres estranhos. Voltei à tona com um livro e uma ordem “Então, leia, meu filho”.
A exígua frase de apenas quatro palavras escondia alguns mistérios. Por que deveria ler aquele livro? Por obrigação, possivelmente. Por que eu deveria ler um livro, se ela nunca lera nenhum? Talvez para evitar que eu fosse tão triste quanto ela. Por que eu deveria ler, se ninguém lá em casa lia absolutamente nada? As possibilidades beiram o absurdo.
Depois daquele mísero livro, centenas, milhares de outros surgiram no meio do caminho um tanto tortuoso e pavimentado por acasos impensáveis. Agora, olho as paredes da casa-biblioteca forradas de livros — a mesma casa em que um dia encontrei a mãe morta — e escuto pelos vãos das lombadas “Então, leia”. Não é a voz de um fantasma; não é a voz da professora; não é voz de uma bruxa. É uma voz triste, tristíssima, que me acompanha a cada entrelinha, a cada página, a cada novo silêncio.