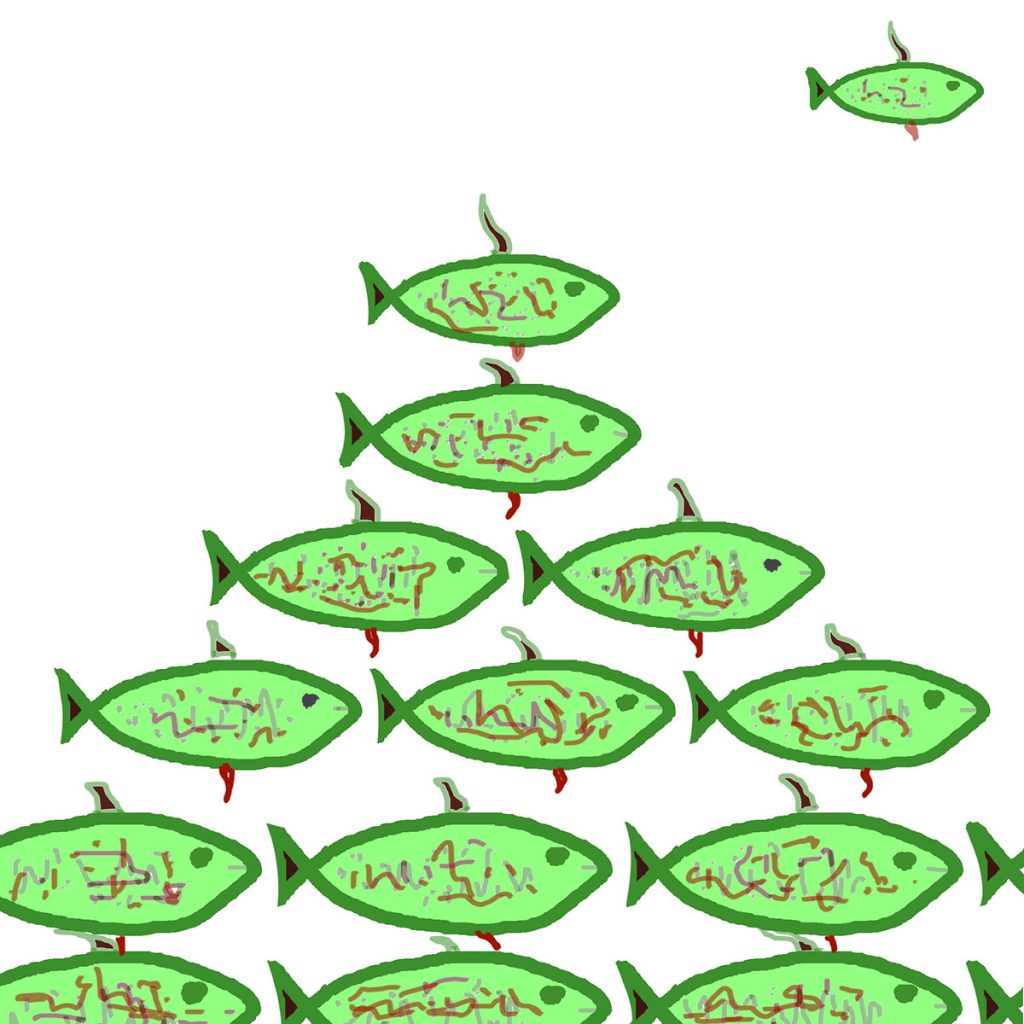Bailam na água suja sob a ponte centenária. Na extremidade oposta nos observa o busto do príncipe dos poetas remelado pela astúcia certeira de pombos vadios. Os olhos de M. arregalam-se diante do colorido dos peixes gordos em busca frenética por pipocas atiradas pelas crianças. M. remexe-se no cangote. Sinto os ossos impúberes pressionando meu corpo magro. O pés a beliscar meu peito. Formamos um estranho espantalho urbano de duas cabeças, quatro braços e alguma graça.
Quando chegamos para assistir ao auto de Natal já havia muita gente circulando pelo Passeio Público. A noite cobria as árvores e um barulhento carrossel girava a iluminar a escuridão. Nas ruas laterais, prostitutas tentavam fisgar clientes indiferentes ao fim de ano que tenta arrastar fugazes alegrias e esperanças corroídas. No pórtico de entrada, M. ganha um balão iluminado e sorri feliz por carregar também a luz do Natal — agora abandonada no canto do sofá da sala.
Quando a pequena ilha se ilumina, Cristo passa sobre a barca anunciando tempos de bonança e amor. Um coro de vozes (não sei se afinadas) canta a história do seu nascimento. Entremeio a uma fumaça rala, camelos com rodinhas e anjos suspensos nos galhos completam o cenário. O espetáculo é rápido, bonito e, para alguns, emocionante. Uma enorme árvore natalina brilha ao redor de carrinhos de pipoca. Sinto a impaciência de M. sobre meus ombros doloridos. Outros pais também amparam suas crias e espantalhos passeiam e sorriem na escuridão do Passeio Público. Já podemos ir para casa.
M. está encantada com as carpas coloridas. A saída fica a poucos metros. Noto que ela resiste a abandonar os peixes à solidão da noite e de insossas pipocas. Deixo-a admirar o atabalhoado balé ciprinídeo. E aguardo meu pai que vem ao meu encontro do outro lado da rua. Agora, o dia e a luz do sol guiam nossos passos.
Carrega-me pela mão, num gesto meio indolente, desprovido de cuidado e afeto. Temos de tirar a foto para a minha identidade. Logo, começaria a trabalhar com carteira assinada. Afinal, já tinha 13 anos, estudava à noite, fumava escondido e espelhava o pai em porres de cachaça ordinária. Era um pequeno, magro e angustiado homem. Havia no Passeio Público, no centro de C., naquele início dos anos 80, casinhas de fotógrafos — quase um pombal — especializadas em fotos 3 x 4. Sentava-se numa cadeira puída, colocava-se um simulacro de paletó e gravata (não entendo por que o ridículo traje) e era proibido sorrir em caso de foto para algum documento. Naquela época não era uma preocupação: não tínhamos quase motivos para sorrir. Depois, esperavam-se alguns minutos pela revelação — uma palavra que nos dizia muito pouco em todos os sentidos.
Sentamos num banco de madeira, o pai comprou um pacote de pipocas, com uns pedaços esturricados de bacon. O pacote de papel cinza logo impregnou-se de volumosas gotas de gordura. O sal na ponta dos dedos tentava disfarçar o ranço dos grãos. Ao final, terminei por atirar o restolho aos pombos que bicavam o piso de cimento. Um banquete em meio a macacos e araras presos em jaulas ao nosso redor. O Passeio Público abrigava uma selva tristonha de animais na região central de C., por onde os ônibus passavam enfurecidos feito jiboias famintas.
Tenho até hoje aquela estranha fotografia que durante muito tempo estampou a identidade, com informações sobre a minha equivocada ancestralidade. Sobrenome trocado, cidade de nascimento errada. Talvez dia e ano de nascimento estejam corretos. Mas não posso confiar nos trôpegos passos do pai nos confins do mundo até o cartório para registrar o segundo filho. Enfim, sou um equívoco documentado e carimbado.
O cabelo está repartido ao meio. Uma orelha parece muito maior que a outra, como se a qualquer momento a cabeça fosse tombar à esquerda. Estou sério e concentrado, nenhuma nesga de sorriso escapa dos lábios. Logo abaixo do pescoço, camisa, gravata e paletó desenham um homem de brincadeira — uma espécie de playmobil executivo. Mas o que mais me chama a atenção é o olhar. Não sei por que olho para cima, sem mirar de frente a câmara do lambe-lambe. É um olhar meio perdido, talvez sonhador a vislumbrar algo na copa das árvores ou na jaula dos macacos. Jamais comentei com o pai a estranha sensação causada por aquela simples fotografia.
Também nunca mais voltei com ele ao Passeio Público. Não tínhamos motivos para passear pela cidade. Sempre fomos apenas uma espécie de acidente genético. Um encontro ocasional no meio da jornada. Aprendemos que nossos caminhos se bifurcariam ao infinito, mesmo agora quando ele está ao meu lado com o corpo definhando em direção a um final previsível.
M. lamenta não ter pipocas para atirar às carpas. Balança o corpo magro e serelepe como se a gravidade não a atirasse de encontro aos meus ossos. Sinto certo desconforto, mas não reclamo. M. está feliz no Passeio Público. O carrossel segue girando lotado de crianças. Outros espantalhos zanzam alegres na multidão, que aos poucos se dispersa. A árvore de Natal ficará ali a iluminar a rua das prostitutas. Uma certa mansidão espraia-se quando boa parte das pessoas toma o caminho da saída. Consigo convencer M. a também ir para casa.
Olho para cima e a vejo agarrada ao meu cangote. Somos um amoroso espantalho.