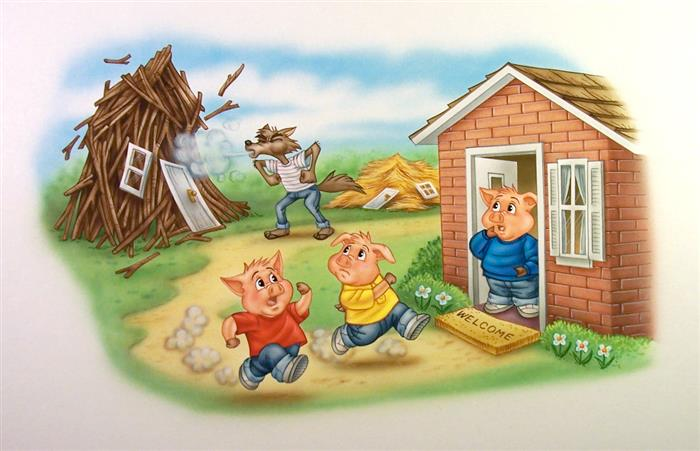A mãe sempre sorri quando me encontra. Não sei se de felicidade por constatar que ainda estou vivo. Ou de alívio por saber que ela ainda não morreu. Na quinta-feira, quando cheguei a sua casa, a mãe segurava uma lata de leite em pó na mão direita. Depois de velha, voltou a se alimentar somente de leite. Pela sonda. É um bebê sem berço. Com o dedo indicador esquerdo, tapa o buraco da traqueostomia e diz num miado quase inaudível: “Estou cansada”. Informação desnecessária. Sabemos que anda muito cansada nos últimos dois anos, desde que o câncer resolveu degustar a escuridão do seu pescoço. Todos estamos muito cansados. O câncer mastiga a carne alheia, mas consegue destruir quase tudo a sua volta. O esforço físico de encaixotar coisas lhe tira a pouca vitalidade que o corpo ainda armazena. É por um bom motivo — está de mudança para a nova casa. A derradeira antes que se mude em definitivo para o cemitério da Orleans.
O cemitério da Orleans localiza-se no caminho até Campo Largo — cidade que abrigará o novo endereço da mãe. No cemitério já a esperam a filha, um cunhado e um sobrinho. Os demais mortos não importam. Todos morreram jovens. A mãe morrerá com aquela idade em que não se é jovem nem velha. Hoje, tem sessenta e oito anos. Ainda não sei quantos anos terá no dia do seu velório. Quando for a Campo Largo — e irei todos os dias —, passarei pelo cemitério da Orleans. A pedra no meio do nosso caminho será sempre um cemitério.
Ao chegarmos a Curitiba (no final da década de setenta), não imaginávamos nada. Apenas que tínhamos abandonado definitivamente a roça. A mãe mandou os três filhos para a escola. Nós fomos. O meu irmão desistiu cedo de encarar as aborrecidas aulas de português. A minha irmã morreu aos vinte e sete anos. Eu estou aqui acompanhando o epílogo de uma história escrita por alguém que desconheço, mas, tenho certeza, não simpatiza nada comigo. A mãe não imaginava que o câncer escavaria sem dó uma cratera em sua garganta; que a filha mais nova a abandonaria numa manhã que nunca mais termina; que ganharia vários netos; que os netos a ignorariam; que o marido, num acesso etílico, tentaria matar seus filhos e atear fogo a casa; que terminaria seus dias respirando por um buraco no pescoço e se alimentando por outro na barriga. Sabia apenas que estava em Curitiba — uma cidade grande. A cidade grande não fez bem à mãe.
As caixas de papelão estão espalhadas pela cozinha. Contêm apenas o essencial: comida, panelas, pratos. A casa em Campo Largo está toda mobiliada com móveis sob medida, bonitos, modernos e caros. Algumas pessoas não entendem por que gastei tanto dinheiro numa casa para uma mulher velha à beira da morte passar seus últimos dias. Só eu sei os motivos. Não tenho tempo de ajudá-la na tarefa de embalar a exígua mudança. Preciso ir limpar a nova casa. Há tempos não faço faxinas domésticas. Agora, tenho empregada doméstica. A mãe trabalhou a vida inteira de doméstica. Poderia contratar alguém para dar uma geral na casa que a receberá. Mas resolvi enfiar balde, vassouras, panos, material de limpeza no carro e colocar mãos à obra. Não sei muito bem por que tomei a decisão de imitar o trabalho da mãe. Talvez pelo simples fato de que ela já não consegue mais fazê-lo. No caminho até Campo Largo, deixei o cemitério da Orleans para trás. Na volta, dei de cara com ele. O cemitério da Orleans estará sempre lá a nossa espera.
Varri todo o pó. A casa é nova, mas passou por alguns ajustes para receber a mãe. A obra na cozinha deixou um rastro de poeira por todos os cômodos. O pó toma conta de tudo. É difícil acabar com ele. Quando morrer, quero ser cremado. Virar pó. Minha mãe odeia a idéia de o filho ser cremado. Acha que não entrarei no céu, não serei recebido por São Pedro. Tem de ser enterrado, comido pelos vermes, apodrecer dentro de um caixão. Só assim Deus dará valor a sua morte e o receberá de braços abertos. Pelo menos é nisso em que a mãe acredita. Talvez tenha razão. Desisti de ir para o céu há algum tempo.
Os jazigos do cemitério da Orleans são todos de concreto. Feios, malcuidados. A minha irmã está numa gaveta, enfiada numa parede cinza. O cemitério Iguaçu é mais bonito. Os mortos são enterrados num aprazível gramado. Alguns estão embaixo de árvores, sob a sombra. Não sofrem com o sol forte do verão. É até agradável passear entre os túmulos. Lembram um parque. Um tanto mórbido, mas um parque. O nome cemitério Parque Iguaçu lhe cai bem. É simpático. O pai trabalhou um tempo lá: motorista do caminhão que transportava a terra dos buracos dos túmulos. Um trabalho bem estranho. Na escola, quando me perguntavam o que meu pai fazia, eu respondia com certo receio: motorista do caminhão do cemitério. E todos imaginavam que ele transportava os mortos. Todos ríamos. Eu, para não admitir o incômodo com aquela profissão do pai. A mãe lavava pratos, cuecas e calcinhas na casa dos outros. O pai cavava buracos para defuntos. Profissões de pouco futuro. Mas não dá para enterrar a mãe no cemitério Iguaçu. É muito caro. O da Orleans é bem mais barato. Quando não se tem muito dinheiro em vida, recomenda-se economizar na hora da morte.
Quando terminei a limpeza, olhei a casa com mais carinho. É ali que ficaremos. É pequena, bem pequena, mas muito agradável. E o mais importante: é de tijolos. A última casa da mãe será a primeira de concreto. O túmulo não conta. Quando casou, morou numa tapera de chão batido no meio do mato. Depois, já com os filhos, mudou-se para uma casa de madeira que o vento sempre ameaçava derrubar com a maior facilidade. Em Curitiba, mais duas casas de madeira, pequenas, acanhadas, malfeitas. A atual está prestes a ser devorada pelos cupins, que se fartam na madeira vagabunda. Os cupins são o câncer da casa da mãe. Não há quimioterapia que dê jeito. Agora, enfim, uma casa de concreto. A mãe está temporariamente protegida do lobo mau e dos cupins.
Pena que seja tarde demais.
NOTA
Crônica publicada originalmente no site Vida Breve.