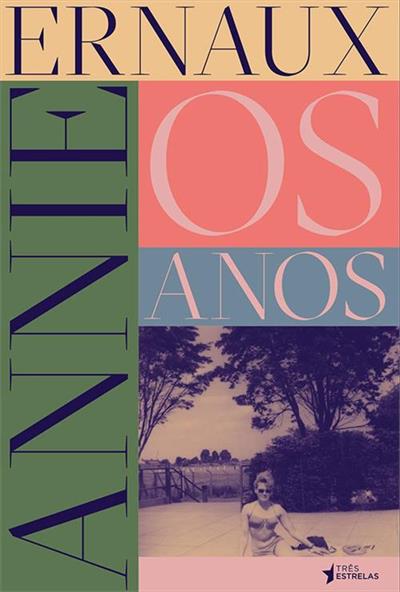Tudo é ficção. Vou melhorar isso: tudo que cai no papel é literatura, é ficção. O termo “autoficção”, criado pelo escritor e teórico francês Serge Doubrovsky, não passa de um neologismo. E o pior, Serge é um suposto autor, logo a criação do neologismo também é uma ficção. Repare, desconfiado leitor: a criação desse termo é geralmente creditada ao ensaísta e escritor Serge Doubrovsky, quando da publicação do romance Fils, em 1977 — título que seguia todas as regras que definem uma obra de autoficção.
Em 1965, no entanto, Jerzy Kosinski publica nos Estados Unidos The painted bird, no qual narra, em primeira pessoa, os acontecimentos na vida de um jovem judeu em suas andanças pela Europa oriental em guerra. O livro logo foi aclamado como legítimo representante de um testemunho autobiográfico. O autor não demoraria a desmentir, embora tivesse sofrido perseguições antissemitas. A história não passava de imaginação. Perceba, pois, a porosidade do gênero e a possibilidade das interpretações e consequentes definições.
A discussão acerca dos limites da ficção e do real em literatura remete a Paul Valéry: “Em literatura, o verdadeiro não é concebível e qualquer tipo de confidência visa à glória, ao escândalo, à desculpa, à propaganda”. Vide Rodrigo Janot, estupefato leitor. Cabe acrescentar que a aproximação do real com o ficcional, em qualquer instância, traz consigo um perigo bastante considerável, abalando uma das principais categorias literárias, o autor. Sobre isso, reflete Roland Barthes:
Apesar de o império do Autor ser ainda muito poderoso (a nova crítica muitas vezes não fez mais do que consolidá-lo), é sabido que há muito certos escritores vêm tentando abalá-lo. Na França, Mallarmé, sem dúvida o primeiro, viu e previu em toda a sua amplitude a necessidade de colocar a própria linguagem no lugar daquele que era até então considerado seu proprietário; para ele, como para nós, é a linguagem que fala, não o autor; escrever é, através de uma impessoalidade prévia — que não se deve em momento algum confundir com a objetividade castradora do romancista realista —, atingir esse ponto em que só a linguagem age, “performa”, e não “eu”: toda poética de Mallarmé consiste em suprimir o autor em proveito da escritura (o que vem a ser, como se verá, devolver ao leitor o seu lugar).
Dito isso, vamos ao que interessa e é urgente: o romance Os anos, da francesa Annie Ernaux, escrito a partir de fotografias — reais ou imaginárias. Isso me obriga, caro leitor, a avisá-lo de que a incerteza é a única certeza desse gênero literário. A autora descreve minuciosamente as fotos, supostamente escolhidas em seus arquivos. Deduzo que a seleção tem como justificativa as questões políticas e sociais do longo período analisado, 1941 a 2006. São mais de 60 anos compactados em 228 páginas.
No período analisado, a autora usa suas lembranças, seu acervo fotográfico, mas tem a intenção de ser a memória de uma coletividade. É uma opção que me parece bastante controversa, tanto quanto se permite a autoficção, a autobiografia, as ditas escritas de si. Alguém dirá que é a evolução da autobiografia, o aperfeiçoamento da autoficção. Cabe a mim desconfiar.
Lembranças
A narrativa de Annie Ernaux é singular. Recomendo a antologia Écrire la vie, editada pela Gallimard, que reúne 12 obras da autora, entre elas Les années. Na abertura, o leitor encontrará uma bela seção destinada às fotografias, diferente do que acontece em Os anos, no qual sua ausência é bastante sentida. Permite o vazio. O vazio que as lembranças perpetuam, pois não existe lembrança boa.
Toda lembrança é cruel — acentua algo que foi muito bom e não se repetirá ou realça uma frustração. Falo todos os dias sobre meus entes queridos mortos, assim os faço presentes, não vivo a dor. Ao dizer “conforme minha mãe dizia”, sinto-a muito próxima. Quando digo que meu avô confundia os jogadores Valdomiro e Claudiomiro, consigo vê-lo ao meu lado. Isso não é lembrar, é sentir. As lembranças não são confiáveis. Annie Ernaux trabalha com as lembranças.
A publicação citada acima, que compila títulos de Annie, infelizmente, não inclui L’autre fille — imprescindível a quem quer conhecer a produção desta autora. Trata-se de uma carta de amor que ela escreve à irmã que não conheceu e ficou sabendo da existência quando, ainda criança, ouviu a mãe dizer que “a outra era mais gentil que ela”. É um livro autobiográfico e extremamente sensível.
Imaginação
Sabemos que os romances resultam da liberdade de imaginar. As autobiografias são regidas pelo “pacto autobiográfico”, em conluio com a promessa de veracidade. Por sua vez, as autoficções são textos nos quais a incerteza e a ambiguidade são consideradas como paradigma criativo por seus autores e, ao mesmo tempo, estabelecem um verdadeiro desafio de interpretação aos leitores.
Penso que a autoficção permite a recriação, tendo como ferramentas a memória e a imaginação. A arte permitindo uma nova identidade. A arte, a memória, o tempo, a imaginação. A capacidade de imaginar, de criar, fazendo parte da realidade. A arte, qualquer forma de arte, é o apogeu da imaginação, da criatividade; é estranheza pronta para subverter padrões. A arte não deve se submeter a regras.
Conforme diz Ferdinand Bardamu, narrador de Viagem ao fim da noite, do escritor francês Louis-Ferdinand Céline:
Quando não se tem imaginação, morrer não é nada; quando se tem, morrer é demais. É essa minha opinião. Nunca eu compreendera tantas coisas ao mesmo tempo. Ele, o coronel, jamais teve imaginação. Toda a desgraça desse homem veio daí, sobretudo a nossa. Era eu portanto o único a ter a imaginação da morte naquele regimento?
Literatura e fotografia, a imagem e o imaginário. Imaginar é fotografar, imaginar para fotografar. Mas, na maioria das vezes, a fotografia documenta, e poucas coisas são tão desprovidas de imaginação quanto um documento. Annie Ernaux documenta mais de seis décadas, com supostas fotos e marcantes textos. Textos tristes.
A tradução de Marília Garcia me faz perguntar a razão de traduzir certos títulos e outros não, por exemplo: Líamos escondidos, Bonjour tristesse e os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Detalhe que pode ser respondido simplesmente como “uma opção estética”. O que não deixa de ser estranho.