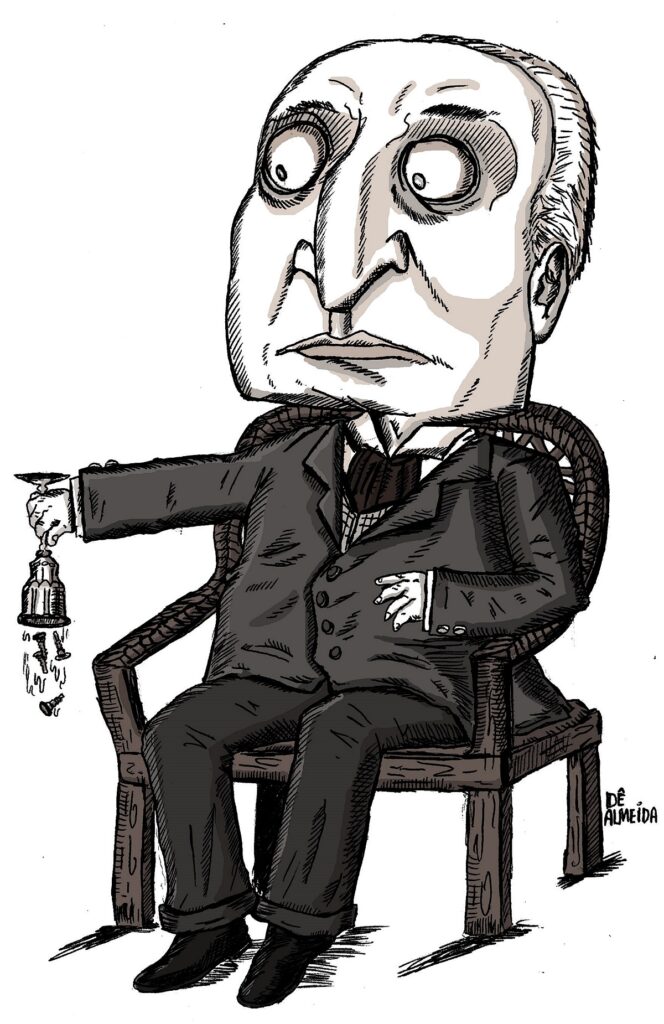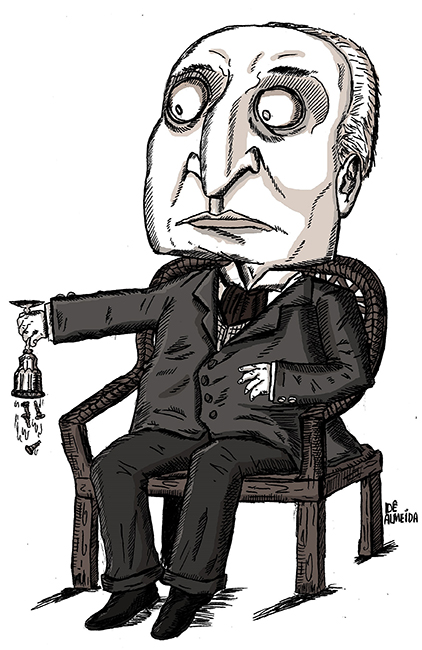Henry James por Dê AlmeidaFear of Darkness, and Ghosts,
is greater than other fears.
Thomas Hobbes
1.
No início do século 20, após trinta e três anos vivendo na Inglaterra, Spencer Brydon volta ao seu país natal, os Estados Unidos, para negociar a venda de uma das propriedades da família, uma casa que fica em uma esquina muito bem localizada no mapa da cidade de Nova York. Lá se reencontra com uma velha amiga do passado, Alice Staverton, com quem sempre teve um relacionamento ambíguo, repleto de insinuações sentimentais. Os dois relembram os momentos que viveram juntos, reclamam um pouco das mudanças que a História os pregou graças ao famoso progresso tecnológico — e também começam a imaginar o que teria acontecido com suas vidas se Brydon continuasse a viver na América. Ele fica intrigado com essa possibilidade — e Alice o incita a ir fundo na especulação. Ao verificar todas as noites como está o seu imóvel, antes da venda a uma grande empresa que deseja construir um desses “arranha-céus” que começavam a invadir o horizonte de Manhattan, tem a impressão de que há ali alguém que também viveu a sua vida. Quem seria? Possuído pela idéia de que talvez exista um desconhecido que se assemelha à sua pessoa, Spencer Brydon resolve ficar vigília na casa abandonada, à espera de um encontro com esse sujeito, que pode ou não ser igual a ele.
Eis um resumo de A bela esquina (The jolly corner), o último conto publicado em vida por Henry James, em meados de 1908. Mas poderia ser também um evento que teria ocorrido com o próprio James — como de fato foi. Quatro anos antes, ele também fez o seu retorno aos Estados Unidos para visitar o que restou da sua família — entre alguns membros, o seu irmão William, famoso psicólogo e filósofo, conhecido por Princípios de psicologia (1890) e As variedades das experiências religiosas (1902). A viagem o impressionou — e não necessariamente para melhor. Nesta época, Henry já era o que os seus futuros críticos chamariam de “The Old Pretender” [“O velho fingidor”, ou, em trocadilho irônico, “o velho pretensioso”], em oposição aos períodos quando era apelidado de “James I” e “James II”, e seus romances mais famosos — As asas da pomba (1902), Os embaixadores (1903) e A taça de ouro (1904) — já tinham sido publicados e desconcertavam os leitores. Acostumados com as histórias dos anos anteriores, como Daisy Miller (1878), Retrato de uma senhora (1881) e A princesa Cassamassina (1886), cheias de intrigas sociais e descrições psicológicas de mulheres indefesas, eles não sabiam o que fazer com esses livros recentes, que levavam a percepção humana das coisas que os rodeavam ao ponto da minúcia detalhista e da ambigüidade do impenetrável. É claro que para Henry James isso não era novidade: ele sempre soube que sua oeuvre — como gostava de chamá-la, emulando os seus queridos Balzac, Flaubert e Turguiniev (que era russo, mas adorava parecer francês) — chegaria nesse impasse que muitos chamariam de extremo, mas que para ele era apenas um rumo natural daquilo que sempre desejou buscar como artista: compreender as nuances da realidade.
Eram justamente esses nuances que se perderam quando James voltou à América — ou, pelo menos, foi o que julgou ter percebido ao ver uma sociedade intoxicada pela técnica que matava a individualidade e por uma democracia que aumentava o poder da massa popular, algo que ele abominava como poucos. Afinal, foi disto que fugiu ao partir para a Europa aos trinta e quatro anos — a mesma idade de Spencer Brydon quando este tomou a mesma decisão; James não lutou na Guerra da Secessão porque tinha dores excruciantes nas costas devido a um ferimento sofrido em um incêndio em Newport e, além disso, pressentia que seu país rumava para uma barbárie cultural que ninguém poderia curar. Assim, ficou vagando entre Londres, Paris e Roma por vinte anos, construindo a arquitetura minuciosa dos seus romances, sempre tendo em vista que a realidade que procurava não acontecia nos fatos extravagantes ou nas peripécias românticas que o mundo lhe apresentava, mas sim no interior de cada um, em especial do artista que deveria reconhecer em si mesmo quais eram os seus maiores temores.
2.
Nascido em 1843, Henry James tinha certa obsessão com aquilo que, em conjunto com o irmão William, chamaria de “aparições sobrenaturais”. A preocupação dos dois vinha do berço: o pai deles, Henry Sr., era um proprietário de terras abastado que teve o vislumbre de uma “presença fantasmagórica” e, a partir daí, resolveu pesquisar exaustivamente o que originaria esses eventos, convertendo-se em seguida a uma religião muito particular influenciada pelas visões místicas do teólogo Emanuel Swedenborg — e depois tornando-se o autor de um tratado intitulado A natureza do mal (1855). Se o pai elaborava o tema por meio de racionalizações entremeadas com espasmos de fé, o filho William tentava controlar o assunto transformando-o em um fenômeno psicológico, enquanto Henry tentou lidar com essa preocupação com o único meio que dispunha — a literatura que devia captar as relações da vida em uma forma muito precisa que só poderia ser elaborada por uma consciência capaz de ser igual a “uma teia de aranha que estendia seus fios” aos recantos mais ocultos da existência.
Em sua vasta obra literária, Henry dava atenção especial ao que depois resolveram chamar de “contos de fantasmas” — categoria da qual A bela esquina seria um dos exemplos mais bem sucedidos. Para ele, o gênero se aproximava do clássico “conto-de-fadas”, mas também lhe dava a oportunidade de trabalhar a forma da narrativa curta com uma intensidade tão concentrada que o assunto deixava de ser o extraordinário para ser depois o sobrenatural que invadia a vida do personagem como se fosse a manifestação das trevas interiores que ele não conseguia mais controlar. Poucas vezes essa reviravolta da consciência é feita com tal habilidade como no conto que James publicou nove anos antes de A bela esquina — nas palavras de Graham Greene, o estranho e sublime O altar dos mortos (The altar of the dead, 1895). Assim como Spencer Brydon, George Stransom é um homem que se esconde das paixões soterradas pela vida: perdeu a esposa muito cedo e, atormentado por uma perda que ainda não conseguiu entender, resolveu honrar os mortos criando um altar pessoal em uma igreja pouco freqüentada. Lá, deparou-se com uma mulher misteriosa que parecia fazer a mesma homenagem para os seus próprios mortos. Os dois começam um estranho relacionamento que, pela própria natureza de como ambos se conheceram, mal pode se chamar de amoroso — até porque Stranson descobrirá que a sua companheira de devoção faz o mesmo ritual em função de um antigo desafeto seu, um amigo transformado em rival chamado Acton Hague. Este jamais aparecerá de forma ativa na trama, mas a permeia igual a um fantasma, espantando qualquer possibilidade de que Stransom possa perdoá-lo, seja na vida ou na morte, a despeito dos insistentes pedidos de sua parceira. No fim, ocorre o que sempre ocorre nas histórias de Henry James: Stransom acaba morrendo de uma constipação grave, tenta perdoar o morto, mas a única coisa que consegue neste mundo é o breve alento de ter a sua vela acendida ao lado da do rival no mesmo altar que consagrou durante a sua breve existência.
O conto é também outra amostra de um dos temas que mais perturbavam a natureza meticulosa de James e, talvez devido ao fato de que essa perturbação poderia provocar abalos sísmicos em uma rotina de disciplina dedicada à arte, ele fazia de tudo para escamoteá-lo em um estilo sinuoso que poucos conseguiam decifrar: o tema da traição. Não sabemos qual é a razão da mágoa de Stransom por Hague, mas não deve ter sido pouca coisa; afinal, ele praticamente anula qualquer espécie de relacionamento com qualquer um que possa lhe oferecer uma forma de esquecer ou perdoar tal fato — chegando ao ponto de evitar uma chance se envolver emocionalmente até mesmo com alguém que tem afinidades eletivas. Apesar da postura aparentemente serena dos personagens, há uma vida interior que nem eles mesmos conseguem ignorar — e a aparição dos mortos que os assombram não se dá de maneira fantasmagórica ou fantástica e sim por meio do recurso oblíquo do duplo, do dopplegänger que, ao contrário das regras estipuladas por Edgar Allan Poe em seu clássico William Wilson, não se trata de uma mera projeção invertida da consciência atormentada da pessoa, mas de uma possibilidade real que não foi vivida de forma plena, the self who could do more, o ser que poderia ter feito mais se este não tivesse medo de encarar os espectros que infestam o seu coração.
Nesse sentido, há uma ironia em acreditar que James foi “o esnobe dos esnobes”, o esteta por excelência, o ermitão sofisticado trancado por gosto em uma torre de marfim. Eis um erro gravíssimo: a paixão que ele tinha pela literatura não era o fascínio de alguém que via a existência como um palco de teatro em que as ações dos personagens não o afetavam em nada — mas sobretudo a visão de um homem de carne e osso que tinha a imaginação moral necessária para saber que, antes de tudo, a vida é uma batalha na qual “o mal é insolente e forte, a beleza é encantadora, mas rara, a bondade está apta a ser bastante fraca, a loucura bem apta a ser desafiadora, a maldade a dominar o dia-a-dia, os imbecis parecem dominar todos os lugares”, como escreveu em um ensaio sobre a ficção de Turguiniev, a quem admirava mais do que Flaubert, Zola ou Maupassant. James sabia como poucos que o mundo tal como se apresentava diante dos seus olhos não era uma ilusão passageira — e que era a tarefa do artista descobrir, no meio dessa “dor adormecida com o regozijo”, que há uma regra, uma norma que nos impele a querer e a procurar algum entendimento.
Para alcançar tal intento, James mostra que, antes de tudo, é necessário enterrar os seus próprios mortos — como ele sutilmente nos ensina na sua singela história sobre George Stransom. De nada adianta cultivar a traição se ela não nos impulsiona a encontrar essa misteriosa regra que nos facilita na compreensão deste mundo onde a inocência paga um preço extremo para se manter minimamente íntegra — muitas vezes às custas de alguém que quer protegê-la a qualquer custo. Em uma série de ensaios notáveis sobre James, Graham Greene comentava que o autor de O altar dos mortos sabia muito sobre as variações da traição e da maldade porque as havia descoberto em seus próprios atos e pensamentos. Não seria exagero dizer que ele se via um pouco em George Stransom — e, dez anos depois, muito em Spencer Brydon. O que seria outra ironia nos estudos literários já estabelecidos no cânone: Henry James, o escritor capaz de se distanciar da sua obra graças a seu estilo impecável, se escondia nas máscaras de personagens que não faziam outra coisa senão se ocultar por atos que pareciam ser bondosos ou insípidos. Por outro lado, para quem buscava por uma lei em um mundo onde nada podia se fazer exceto “acordar e acordar dia após dia”, não seria a estratégia necessária para dramatizar e encontrar enfim a palavra exata para expressar a confusão que é viver entre os vivos e os mortos?
3.
Três anos depois de O altar dos mortos, James publicava aquilo que ele classificaria como um pot-boiler, um singelo “conto-de-fadas” — e que seria, junto com Daisy Miller e Retrato de uma senhora, um de seus maiores sucessos literários: a nouvelette A volta do parafuso (The turn of the screw, 1898). Mas era uma definição enganosa, como tudo o que vinha da pena do “velho fingidor”. Não havia nada de singelo, muito menos de infantil na história contada por uma governanta que trabalha para uma família com dois órfãos inquietos, um tio por quem ela se apaixona e que não quer ser incomodado em hipótese nenhuma, uma empregada que se excede no seu senso comum — e, de quebra, tem de lidar com a aparição de dois fantasmas que podem ou não ser manifestações de um casal de empregados que foram amantes e morreram de forma trágica, cujo desejo maior, de acordo com a narradora, é tomar a alma das crianças.
A nouvelette [pequena novela] era um formato literário pelo o qual James afirmava ser uma benção para o escritor devido à concentração de significados que o estilo poderia resguardar ao leitor — e isso é levado ao máximo de precisão técnica em A volta. É claro que James ainda não se aproveitara das frases labirínticas que depois usaria à vontade para mostrar a perseguição que Spencer Brydon faz contra o seu sósia em A bela esquina, mas ele aplica os mesmos princípios estabelecidos no restante de sua obra, a saber: o estilo deve, antes de tudo, provocar no leitor a percepção de que “o real representa aquilo que não podemos, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, deixar de conhecer”. Ou seja: James tinha a crença de que podíamos conhecer a realidade em todos os seus estratos, de que a verdade sempre viria à tona, para o personagem, o leitor e especialmente para o próprio artista que produzia a obra em questão e que descobria em sua consciência algo indizível que ele jamais classificaria na categoria medíocre da “arte pela arte”. E descobrir o real em outros níveis incluía o sobrenatural que podia corromper a natureza angélica de uma criança perdida graças a uma governanta que acreditava piamente que estava fazendo o bem.
O tema de A volta é claramente o da possessão demoníaca, apesar de James não ter nenhuma ilusão sobre qualquer espécie de vida após a morte. Contudo, como observou Graham Greene, é muito provável que Henry Jr. era como Henry Sr.: não acreditava muito na presença de um summum bonum [bem supremo], mas sabia sem dúvida da existência de um summum malum [mal supremo]. A governanta tem a certeza de que os espíritos de Peter Quint e Mrs. Jessup, os empregados que envenenaram a alma dos inocentes Miles e Flora, querem dominá-las para que a depravação ensinada (que nunca sabemos qual é) perdure até o fim dos tempos. Todavia, como pergunta a Sra. Grose, a empregada da casa, quem ela quer salvar? As crianças ou a si mesma?
Esta dúvida foi o estopim para as mais variadas interpretações da história, registradas em ensaios notáveis — das neuroses sexuais propagadas por Edmund Wilson em The ambiguities of Henry James até a alucinação psicótica que Leon Edel decifrou nos cinco tomos da biografia sobre o escritor de Os embaixadores, passando pelas meditações metafísicas de Eric Voegelin em uma antológica carta endereçada ao crítico Robert Heilman. Será que o autor concordaria com todas elas? É provável que não: em A volta, James estava mais preocupado se o estilo retrataria fielmente as nuances de uma consciência atormentada que não conseguiria compreender com exatidão qual era a melodia secreta do real. E é isso o que a governanta faz no final trágico do “conto-de-fadas” — ela é incapaz de perceber que o que está em jogo é a sua própria possessão demoníaca, que os espectros querem que ela perca a sua alma e que as crianças são somente um meio para o desejo de manter a pureza como um disfarce que oculte uma ameaça sempre presente em um altar obscuro. Não é por acaso que, nos momentos derradeiros, quando está prestes a enfrentar a aparição de Peter Quint, ela o descreve igual a uma “fera” prestes a abatê-la de uma selva muito espessa. Como tudo escrito por James, a metáfora não é um mero jogo de palavras: de fato, é uma fera que se aproxima da governanta, mas é uma fera que vem para provar talvez ao próprio autor que o summum malum só vence se o deixarmos escondido na floresta onde jamais conseguimos ver o todo, apenas as árvores. Em A volta do parafuso, a possessão definitiva ocorre porque a governanta acreditou que o medo das trevas e dos fantasmas era maior do que qualquer outro medo. Ao aceitar isso, deixou que a “fera” a devorasse completamente.
4.
O mesmo ocorreu com John Marcher, o protagonista de um conto chamado justamente A fera na selva (The beast in the jungle), publicado quatro anos antes de A bela esquina. Sua trama é muito similar a de O altar dos mortos: assim como George Stransom, Marcher é um sujeito que parece estar mais preocupado em uma busca de algo que jamais existiu neste mundo; se, no primeiro caso, eram os mortos do passado, agora se trata de um evento futuro, a fera que o surpreenderia na floresta da existência e que, conforme Marcher conta à sua amiga, May Bartram, a única que teve a chance de ouvi-lo a respeito disso, seria uma catástrofe que não teria como escapar e que alteraria completamente o rumo de sua vida. A crueldade jamesiana se encontra nessa expectativa: na verdade, Marcher não percebe que o tal evento já aconteceu. Era o seu relacionamento com May, que o amava profundamente e jamais revelou este segredo, a tal “fera na selva” pelo qual ele sempre esperou.
A descoberta deste evento se dá anos depois da morte lenta e cruel de May. Marcher visita o seu túmulo e, ao presenciar na cova ao lado a devoção de outro homem por uma mulher que também está enterrada ali, tem o vislumbre terrível do ser que poderia ter sido mais. Ele percebe que deveria ter amado May — e que ela o amara muito mais do que imaginou. Enfim, a “fera” surge na percepção do real que se revela — mas não se trata do amor que move as estrelas e sim da morte que não hesita ceifar tudo que não deu chance para existir.
Em A bela esquina, há também uma história de amor que não realiza todas as suas possibilidades, a de Spencer Brydon e Alice Staverton. A situação é muito parecida: Brydon não percebe que Alice o aceitaria tal como ele é, mesmo que existisse um sósia que vivesse a sua vida e ele sequer saiba como lidar com isso. Aliás, o que o instiga a procurar o seu duplo é a própria insinuação de Alice de que haveria alguém como ele com quem ela poderia viver junto. Por isso, a sua transformação em um obcecado por encontrar o seu sósia — e a entrada em uma perseguição noturna e bizarra na qual James mostra o seu virtuosismo técnico de captar as nuances do real por meio de uma percepção que esconde e revela algo que só o Old Pretender faria, como podemos ver no seguinte trecho:
Grandes vácuos edificados, grande silêncios apinhados no coração das cidades, ostentam com freqüência, às primeiras horas da manhã, uma espécie de máscara sinistra, e era dessa vasta negação coletiva que Brydon tomava então consciência — tanto mais que, inacreditavelmente quase, o romper do dia estava próximo, mostrando-lhe que noite havia ele passado. (Tradução de José Paulo Paes)
Contudo, o surgir do dia não implica nenhum alívio. É este o momento em que Spencer Brydon se depara com o seu outro eu — um sujeito que está vestido como um especulador imobiliário, com um monóculo despedaçado, a mão deformada e o rosto retorcido por uma cicatriz que percorria o rosto de um lado a outro. Ele não agüenta o que vê e desmaia. Acorda e vê que Alice Staverton está ao seu lado. Conta tudo o que viveu naquela insólita noite. Ela lhe revela que também viu aquele homem naquela mesma noite em sua residência. Brydon pergunta-lhe se teria como suportar o horror de ver um homem tão destroçado como o que ele viu. “Eu poderia ter gostado dele”, ela responde. “E para mim, ele não era nenhum horror. Eu o tinha aceitado.” Brydon fica surpreso: “Você teve ‘pena’ dele?”. Sim, ela teria, afinal era um homem destruído pela vida. Mas ele não teria o que eu tenho, afirma Spencer. O quê?, rebate Alice. Ao responder que era ela, ele a atrai para si enquanto Alice diz que “não, ele não é você” — e o conto termina em suspenso, como James gostava de fazer, ao puxar do nada os cabos que estruturavam a história, permitindo que o reino da ambiguidade imperasse na mente do leitor.
As perguntas se sucedem: Será que o duplo de Spencer Brydon o possuiu por completo, assim como Peter Quint fez com o pequeno Miles? Será que o duplo já era ele? Será que Brydon finalmente percebeu o amor que Alice sentia por ele, ao contrário do que foi feito por John Marcher? O que importa são as questões, nunca as respostas. Entre fantasmas e histórias de amor mal correspondidas, entre duplos e mortos, entre os vivos e os feridos, a busca pela qual Henry James dedicou a sua vida foi superar “o afã e a aflição” que não passa de “uma mera penumbra que cai, desloca-se e se esvaece”, para sofrer a consequência de ter vivido sob a “luz tão intensa” daquilo que lhe parecia ser “o mais elevado dos destinos humanos, a mais rara dádiva dos deuses” — a criação de um mundo ficcional que só possui uma única regra: a do amor pela incerteza. Citando seu amigo Robert Louis Stevenson no prefácio tardio sobre como escreveu o seu romance The american, James concordava de que “o participante da ‘vida da arte’ que se queixa de recompensas, como são chamadas, certamente deveria dar melhor destino à sua vocação. Seria muito antes preferível que ele se espantasse por não ter de entregar metade de si mesmo em troca dessa dedicação deleitosa. Ele a aproveita, por assim dizer, sem pagar ônus; o esforço do trabalho envolvido, o tormento da expressão, do qual ouvimos tanto falar hoje em dia, não passam de um último refinamento deste seu privilégio. Podem deixá-lo abatido e fatigado; mas como, a seu modo, ele terá vivido? Como se fosse possível combinar liberdade e tranqüilidade! Essa tola segurança é apenas o sinal do cativeiro e da privação. Como se pode imaginar uma seleção irrestrita — ou seja, tudo o que é belo e terrível na arte — sem uma dificuldade irrestrita? (…) Quando olhamos para trás, a visão da dificuldade banha nossa trajetória num lume dourado através do qual aqueles objetos que nos acompanham na estrada são transfigurados e glorificados”.
Talvez o “tormento da expressão” seja a única certeza em um mundo onde, como Thomas Hobbes afirmava em seu Leviatã, “o receio da escuridão e dos espíritos é maior do que os outros temores”. Mas Henry James sabia que existiam medos piores do que esse, que há mortes muito mais terríveis que a do corpo. Graham Greene acertou apenas em parte na análise da oeuvre jamesiana: a sua maior obsessão não era com a traição por si, e sim com a traição a si mesmo. Esta era, sem dúvida, a morte definitiva porque era nada mais nada menos que a morte em vida. Por ter plena noção deste nuance, ele aconselhou em uma carta à amiga Grace Norton, escrita em meados de 1883, que, após ela ter sofrido em luto pela morte de um familiar, de que aceitasse as trevas por completo porque elas nunca foram um fim, nem mesmo o fim. Não havia nada a fazer exceto esperar — e jamais se deixar abater ou permitir que se derretesse em tamanha tristeza. “A dor passa, mas nós permanecemos”, ele escreveu para Norton. É o que resta para nós enquanto a “fera na selva” não nos ataca, de surpresa ou após uma cautelosa preparação, para que sejamos possuídos pela brancura da morte.