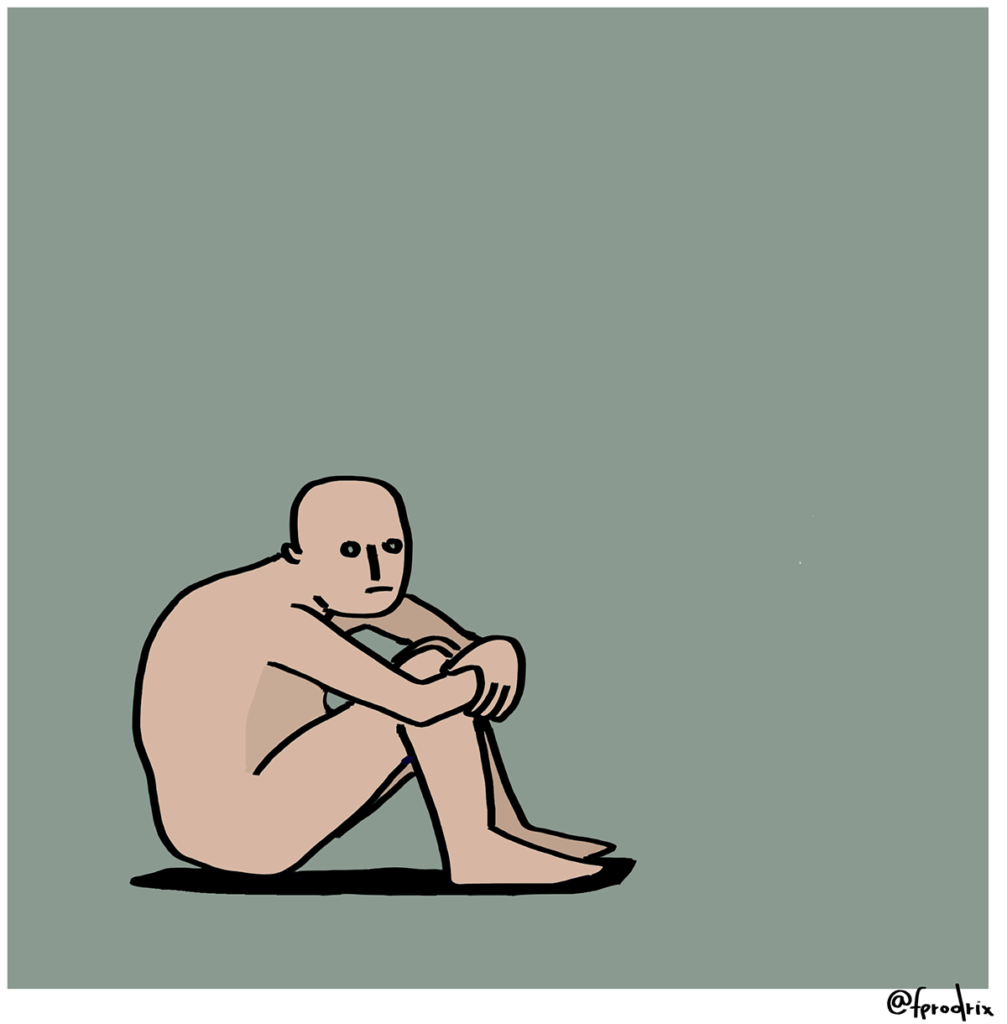No dia 15 de março de 2020, um domingo, fui almoçar na casa dos meus queridos amigos, Gilmar Santana e Denyse Emerich. Presentes também estavam os primos em segundo grau de Denyse, Matheus e Vítor, e a mulher deste, Ellen. Comemos um maravilhoso arroz de pato e tomamos vinho – uma tarde portuguesa, portanto. Voltei para casa, fechei a porta do meu apartamento – e todos os dias tornaram-se segundas-feiras para mim.
Segunda-feira é aquele dia em que o nosso momento de descanso encontra-se mais distante no horizonte. Por isso, há uma certa melancolia ao despertarmos para iniciar uma nova semana. Há um ano acho-me confinado – longe dos filhos, dos amigos, dos parentes. Findaram-se as viagens, os abraços, os encontros. E todos os dias “quando acordo, não tenho mais o tempo que passou”, como cantou brilhantemente Renato Russo.
No dia 25 de fevereiro de 2020, jantávamos na casa de outro casal de amigos queridos, Pedro Hallack e Isabel Nascimento. Além de Gilmar e Denyse, estavam os casais Márcia e Bruno Weege e Edgar Guerra e a epidemiologista Fátima Porfírio, uma das heroínas que se colocam na linha de frente no combate à pandemia. Durante o jantar, um dos temas incontornáveis foi a recente chegada de um novo vírus à Europa, após protagonizar cenas de terror na China. Naquela mesma noite, o Ministério da Saúde computava o primeiro caso de covid-19 no Brasil, um homem de 61 anos que acabara de desembarcar em São Paulo, vindo da Itália.
Quatro dias depois, Mariângela Ribeiro promoveu uma festa na casa dela, em comemoração aos aniversariantes aquarianos de um grupo de amigos juiz-foranos, natos ou adotados. Uma reunião tão mineira que não faltou cachaça, torresmo, mandioca e canjiquinha. Eu, que sou um tanto quanto avesso a atividades sociais, estava na varanda do terraço, de onde contemplava a imensidão de São Paulo (o prédio localiza-se num dos pontos mais altos da cidade), e pensava naquela doença que, como os bárbaros que empurravam as fronteiras do Império Romano, parecia tão longínqua, mas em breve transformaria a história da Humanidade.
Estas foram a última festa e os últimos encontros com meus amigos. De lá para cá, a situação se deteriorou rapidamente no mundo inteiro, mas, em particular no Brasil. O país, governado por um sujeito que sofre de tanatomania aguda, ou seja, tendência patológica de prazer com a morte alheia, conforme palavras de Frei Betto, descarrilhou de vez. A “gripezinha” cavalga a população e já alcança a cifra de 270 mil vítimas, um número reconhecidamente subestimado. Pior: sabemos hoje que o governo perdeu completamente o controle sobre a disseminação da doença…
No dia 25 de fevereiro, enquanto anunciava-se o triste recorde de mortes em um só dia causadas pela covid-19, 1.582 pessoas, o presidente Jair Bolsonaro, que mantém uma aprovação em torno de 25%, ia para as redes sociais defender, sem qualquer base científica, que o uso de máscara provoca efeitos colaterais…
Essa indiferença generalizada me lembrou um poema de Paladas de Alexandria, que viveu no século 4, na tradução de José Paulo Paes: “Acaso estamos mortos e só aparentamos/ estar vivos, nós gregos caídos em desgraça,/ que imaginamos a vida semelhante a um sonho,/ ou estamos vivos e foi a vida que morreu?”.
Um ano de solidão – solidão compulsória, sem saber quando verei de novo meus filhos, meus amigos, meus parentes; sem saber quando poderei retomar meu trabalho; sem saber quem serão as próximas vítimas… Sinto-me como aquele mercador inglês, que a bordo de um navio fundeado no rio Tejo, assistiu impotente ao terremoto de 9 graus que abalou Lisboa em 1755, seguido de um tsunami e de um incêndio que durou seis dias, que arrasou a cidade, matando milhares de pessoas. Há, no entanto, uma enorme diferença: lá, a catástrofe foi provocada pelas forças da natureza; aqui, nós a promovemos.
Luz na escuridão
Eloésio Paulo, poeta e ensaísta: “Acabo de publicar dois livros, o ensaio Questões abertas sobre O alienista e minha nona coletânea de poemas, O amor é um assunto imbecil. Como a editora é pequena e a pandemia multiplicou os problemas logísticos, por enquanto eles só podem ser adquiridos via e-mail: [email protected]. Comecei a trabalhar em um novo livro para crianças e pretendo concluir ainda este ano o Pequeno guia do romance brasileiro, cuja escrita interrompi no ano passado”.
Parachoque de caminhão
“Considere que os fanáticos são mais perigosos do que os velhacos. Jamais se convence um energúmeno; a um velhaco, sim.”
Voltaire (1694-1778)
Antologia pessoal da poesia brasileira
Cecília Meireles
(Rio de Janeiro, RJ, 1901 – Rio de Janeiro, RJ, 1964)
Romance LXXXIV
ou Dos Cavalos da Inconfidência
Eles eram muitos cavalos,
ao longo dessas grandes serras,
de crinas abertas ao vento,
a galope entre águas e pedras.
Eles eram muitos cavalos,
donos dos ares e das ervas,
com tranquilos olhos macios,
habituados às densas névoas,
aos verdes prados ondulosos,
às encostas de árduas arestas,
à cor das auroras nas nuvens,
ao tempo de ipês e quaresmas.
Eles eram muitos cavalos
nas margens desses grandes rios
por onde os escravos cantavam
músicas cheias de suspiros.
Eles eram muitos cavalos
e guardavam no fino ouvido
o som das catas e dos cantos,
a voz de amigos e inimigos;
– calados, ao peso da sela,
picados de insetos e espinhos,
desabafando o seu cansaço
em crepusculares relinchos.
Eles eram muitos cavalos,
– rijos, destemidos, velozes –
entre Mariana e Serro Frio,
Vila Rica e Rio das Mortes.
Eles eram muitos cavalos,
transportando no seu galope
coronéis, magistrados, poetas,
furriéis, alferes, sacerdotes.
E ouviam segredos e intrigas,
e sonetos e liras e odes:
testemunhas sem depoimento,
diante de equívocos enormes.
Eles eram muitos cavalos,
entre Mantiqueira e Ouro Branco
desmanchado o xisto nos cascos,
ao sol e à chuva, pelos campos,
levando esperanças, mensagens,
transmitidas de rancho em rancho.
Eles eram muitos cavalos,
entre sonhos e contrabandos,
alheios às paixões dos donos,
pousando os mesmos olhos mansos
nas grotas, repletas de escravos,
nas igrejas cheias de santos.
Eles eram muitos cavalos:
e uns viram correntes e algemas,
outros, o sangue sobre a forca,
outros, o crime e as recompensas.
Eles eram muitos cavalos:
e alguns foram postos à venda,
outros ficaram nos seus pastos,
e houve uns que, depois da sentença,
levaram o Alferes cortado
em braços, pernas e cabeça.
E partiram com sua carga
na mais dolorosa inocência.
Eles eram muitos cavalos.
E morreram por esses montes,
esses campos, esses abismos,
tendo servido a tantos homens.
Eles eram muitos cavalos,
mas ninguém mais sabe os seus nomes
sua pelagem, sua origem…
E iam tão alto, e iam tão longe!
E por eles se suspirava,
consultando o imenso horizonte!
– Morreram seus flancos robustos,
que pareciam de ouro e bronze.
Eles eram muitos cavalos.
E jazem por aí, caídos,
misturados às bravas serras,
misturados ao quartzo e ao xisto,
à frescura aquosa das lapas,
ao verdor do trevo florido.
E nunca pensaram na morte.
E nunca souberam de exílios.
Eles eram muitos cavalos,
cumprindo seu duro serviço.
A cinza de seus cavaleiros
neles aprendeu tempo e ritmo,
e a subir aos picos do mundo…
e a rolar pelos precipícios…
(Romanceiro da Inconfidência, 1953)