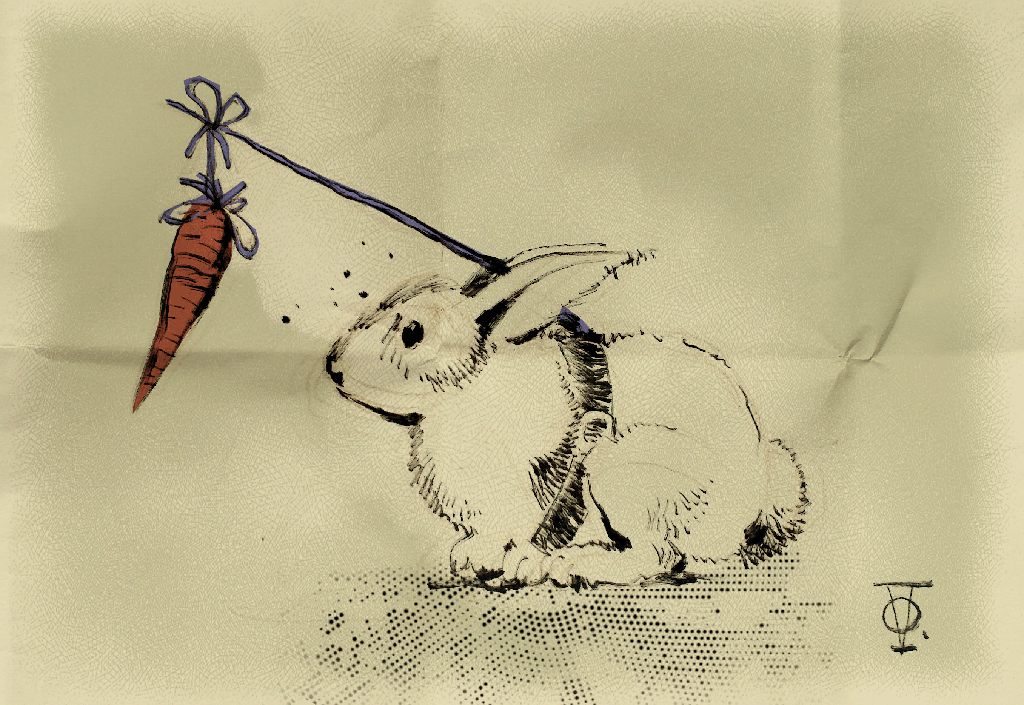Era meu primeiro dia naquela nova instituição de ensino. Eu seria professora de português em vários cursos e esperava, bem comportada, pela coordenadora que me daria instruções e me falaria sobre as regras da casa. Isso tem algum tempo, e hoje sinto como se já não fosse eu aquela jovem professora preocupada com o filho pequeno e com os boletos a pagar. O filho cresceu; e os boletos ficaram mais ferozes.
Sentada em uma dessas cadeiras de sala de espera, eu observava o acabamento da construção, o tapete limpo, as cores da identidade visual da faculdade privada, as mesas iguais e bonitas, o ambiente de escritório de imobiliária, bem diferente do ambiente escolar público, muito mais usado e real. De repente, adentrou a sala a coordenadora. Uma mulher de cerca de cinquenta anos, bem-vestida, cabelo cuidado, escovado, morena, numa roupa de tecido fino, provavelmente uma sandália de marca, pulseiras, um bom relógio e um sorriso bem programado. Ela já me conhecia. Ninguém ali era novidade. Mas ela era a coordenadora, era veterana, dona do pedaço, e queria me dizer quais seriam minhas turmas, dar umas instruções básicas, talvez fazer um breve tour pelo campus fechado em si, num prédio de andares adaptados. Não houve esta última parte.
Não foram a roupa e nem o barulho das semijoias finas que ela usava que me impressionaram mais. O que nunca me saiu da cabeça foi a sua segurança para ser o que era, para se deslocar por alguns metros e ocupar aquele espaço, seu jeito de coordenadora, supervisora, chefa. Talvez eu tivesse me intimidado, se não cultivasse certa insubordinação saudável. E ainda assim jamais me esqueci da entrada triunfal daquela mulher adulta em uma sala atapetada. Pensei comigo: “como é que se fica assim?”. Não sei se era um desejo de me tornar alguém como ela, mas era, é certo, um medo de nunca deixar de ser uma iniciante como eu.
Para uma jovem professora formada para servir, para ser funcionária, para sempre correr atrás (quem vai à frente são outras categorias), observar a pose superior daquela mulher, também professora, valia por muitas aulas. Nem por isso eu tinha garantias de que aprenderia algo na ocasião, nem dali em diante. Pensei naquele andar, naquelas roupas, naquele olhar, e concluí que talvez tudo já estivesse determinado: uns mandam, outros obedecem, se tiverem juízo, como diria minha avó.
Tornei-me docente naquela instituição. Era mais garantido obedecer. As pessoas travavam uma competição animalesca por minutos de aulas, ao final de cada semestre. O medo era constante. A cada cinco meses, grupos inteiros eram demitidos sem qualquer explicação. Outras pessoas, geralmente mais baratas, eram admitidas e tudo recomeçava. Provavelmente, parte dos novos colegas vivia a situação da sala de espera, da mulher robusta e confiante que irrompia pela porta e dava instruções idênticas a todos.
Tempos depois, ao sair do prédio para retornar à minha casa, andei pelos corredores com intimidade e desci um lance de escadas sem qualquer preocupação. Senti-me, de certa forma, íntima do espaço. Pensei: “acho que aprendi, é mais ou menos isto”. Não era coordenadora de nada, mas já conhecia o espaço, as pessoas, podia me deslocar com desembaraço, não sentia medo de ninguém, cumprimentava o porteiro como se fosse um parente e pagava meus boletos com relativa perícia. Não tinha qualquer garantia de nada. O futuro sempre foi aquela cenoura amarrada na vara à frente de um coelho cansado e enganado. E continua assim. No entanto, achei que tivesse entendido qual era o componente que me tornava alguém aparentemente mais segura, com um jeito de “tá tudo dominado”, que não significava nada mais do que isso.
Um dia, saí dessa instituição. A ideia de um futuro precário, fugidio, mortiço sempre me pareceu insuportável. Fui procurar outro tipo de relação com o trabalho, com as pessoas, com o conhecimento, com a vida presente. Alcancei. E, de novo, me vi chegando a um espaço desconhecido, desta vez menos charmoso, menos bonito, mas também cheio de chefes e pessoas que andavam como se cruzassem seus próprios territórios. Pensei: “já vi isto antes”. Só que, desta vez, eu sabia que seria questão de tempo. Naqueles primeiros dias, eu só precisava conhecer, explorar, ouvir. Nos seguintes, algo mudaria, meio lentamente, até que eu passasse a caminhar pelos corredores como quem faz parte deles, usar as salas como quem as domina, falar com as pessoas como quem as conhece. E assim foi. Alguns meses, anos, e meu andar pelo chão cinza aprendeu a segurança de quem adere, de quem não se intimida. Agora com menos medo, exceto a eterna sensação de que os amanhãs dos velhos são permanentemente roubados. Hoje, sequer isso é dúvida. São mesmo.
Mas há algo de imprevisto aí: serei uma outra mulher aos cinquenta anos. Sem a sandália de grife, sem a mesa organizada, sem os cabelos alinhados à base de bom fixador. A segurança com que irrompo pelas portas chega de jeans e sapato baixo. Quanto mais gente cumprimentamos, mais sinais há de que o tempo passou e a intimidade cresceu. Os boletos mordem, os filhos crescem e o futuro continua escapando.