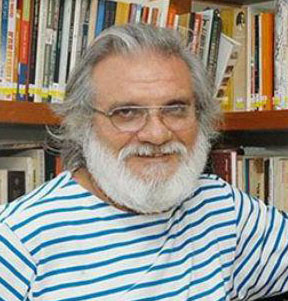Foi na infância? Nunca pretendi uma resposta, até porque nunca me perguntei. Mas treinei a vida inteira para matar. Eu sei, concordo que este é o lugar-comum de um homem tão ambicioso. Plenamente. Dito assim desse jeito, fica idiota. Além do mais, não treinei a vida inteira, matei. Matei, mesmo. E de verdade. Quem me ensinou foram os passarinhos. Tão belos e tão pequenos. Me atraíram tanto que a minha vida ficou insuportável. É por isso que, a pesar de tudo, e do início assim tão vulgar, não acho que seja lugar-comum; e se é vulgar, que seja, é melhor assim do que uma invenção idiota, só para agradar. É uma maneira de dizer. Sem escândalo. E com sinceridade. Pura sinceridade.
Vendo bem, não há sinceridade, porque começo com uma mentira, já explicada. Nunca treinei para matar. Isso é vaidade de quem quer se mostrar superior. Tão superior que diz uma bobagem, uma mentira. Talvez seja o costume, não sou, em absoluto, uma pessoa ponderada, chego nos lugares e vou logo dizendo: cheguei. Vem daí essa frase ridícula: treinei a vida inteira para matar. Uma frase para causar boa impressão. Ou é má impressão? No entanto, quando uma pessoa chega assim e diz na cara de todo mundo treinei para matar, as pessoas ficam logo acesas, não é não? Então acho que foi esse deslize que me fez dizer essa estupidez.
De qualquer forma, lá em Arcassanta, onde nasci e cresci, havia menino, havia janela e andorinha, havia praça e igreja. E o menino morava na frente da praça e, portanto, da igreja. Mas não era um treino. Matar andorinhas nunca foi um treino. Assim, mais uma vez, atesto que menti. Queria, a princípio, ser sincero e comecei mentindo. Ou seja, quase mentindo. Porque embora tenha nascido para matar, aquilo ainda não era um treino. Pelo menos que eu soubesse. Não sei se é correto dizer nasci para matar. Puro efeito medíocre. Assim, conscientemente. Outra mentira porque eu nunca pensei nem escrevi isso. Tenho horror a essas coisas. Escrever sobre crimes e escrever sobre sexo, isso sim, é um lugar-comum desgraçado, prefiro outro caminho, mas por enquanto vou por aqui mesmo, exaltando-os e exaltando-me — o crime e o sexo, de quebra a frase feita.
No começo foi sem querer, desses descuidos da sorte. Como havia janela e havia andorinha, fui buscar a baleadeira, não para treinar, mas porque me deu vontade. Não, queria matar. Matar um pássaro. Não era maldade, desejo assassino. Nada disso. Uma coisa natural. Não pensei agora vou treinar para matar. Não é verdade. Fui à gaveta da máquina de costura da minha mãe, abri a gaveta e tirei a baleadeira. Por que estava na gaveta da máquina de costura? Ora, porque lugar onde mãe trabalha é sagrado; ninguém toca. Ou não é? Foi aí que escureceu e eu não matei nada. Devolvi a arma à gaveta e fui jantar. Sem decepção, por favor, sem decepção. Menino decepcionado porque não matou uma andorinha é lugar-comum demais. E aqui vale? Vale, mas não quero. Não quero assim dito de qualquer maneira. Não apenas porque foi assim. Não fiquei decepcionado nem nada. Basta dizer que foi assim. Nem me interessa descobrir porque gosto de matar. Isso é uma tremenda inutilidade. Só as pessoas que lêem jornal é que ficam perguntando por que a pessoa mata? Por que a pessoa é tão cruel? Nunca vi uma coisa tão monstruosa. As pessoas que lêem jornal são as pessoas mais desocupadas do mundo; lêem jornal porque têm tempo de sobra, e perguntam essas coisas porque têm mais tempo ainda. Pessoas ocupadas não se preocupam com a vida dos outros. Deixam para lá.
Só lê jornal quem é invejoso e intrigante. Se eu fizesse isso, não teria tempo de matar.
Quando eu descobri que podia matar passarinhos, ou melhor, andorinha, comprei um caderno desses pequenos, pautados, para fazer anotações. Anotaria morte por morte — uma a uma, com uma letra desenhada, na minha escola ensinavam a desenhar letras num outro tipo de caderno, onde, uma linha acima, a letra já vinha desenhada, foi com um esforço enorme que consegui escrever a palavra elefante, e nem foi nesse tipo de caderno, foi num papel almaço mesmo, sabe o que é papel almaço?, papel almaço é aquele papel de embrulhar coisas: peixe, carne, queijo. Agora já não se usa papel almaço, é tudo plástico. Eu gostava quando era papel, sobretudo quando ia comprar o pão, amarrado em cordões. Vinha o pão quente, e a fome começava quando fazia o trajeto da padaria para casa, o embrulho quentinho, de tal forma quentinho que eu segurava num pedaço do cordão.
Claro que não ia queimar os dedos, a verdade é que me dava prazer, e o prazer da fome de pão quente e cheiroso. E agora? O que é que significa um menino sentindo prazer pegando no pacote de pão quente? Tem preferência pela luta, pela guerra, destemido, ou tem alguma tara, alguma coisa sexual nesse toque, porque, ultimamente, o sexo se transformou numa tortura para qualquer pessoa. Mesmo o sacristão da igreja que anda devagar, já está velho, levemente encurvado, a cabeça baixa. Será que ele ficou assim por alguma tara? Como é que se explica? Ou não explica? Imagina se agora eu vou explicar a vida de um sacristão, eu que nem sou analista nem nada. Ele anda assim porque anda. Embora ele seja meu amigo. Sabe como é que ele se chama?
Ele se chama seu Clementino. Nem nasceu aqui em Aecassanta. É de Petrolina. Foi a única pessoa a quem contei minha preocupação — não, não era a preocupação de matar, nunca tive preocupação de matar; a minha preocupação, se é que aquilo podia se chamar mesmo preocupação, nem sei mesmo, dizem que a gente só espreme o tumor quando ele está doendo, com a cabeça amarela, latejando, agora é que percebo que escrevi a palavra latejando, porque o meu sexo ficava mesmo latejando quando a menina, era minha vizinha, quando a menina me puxava para o canto da parede, no quarto esquisito e silenciosa, arriava a calcinha e implorava vai, amor, vai. Não vou dizer que naquele tempo eu percebia o quanto ela ficava excitada, respirando forte, agarrada comigo, esfregando-me no canto da parede. Não vou dizer. O que digo é que ela tinha os olhos mais quentes e mais doces que pude ver numa mulher, mesmo as mulheres que soltam os cabelos e os gemidos quando estão galopando no céu. Me davam sempre a sensação de que iam desfalecer, atingidas de morte e, no entanto, renascidas a cada suspiro. Uma espécie de surpresa que parece sufocar as andorinhas no baque da morte, em pleno ar, em pleno vôo. A ave para o canto, baixa a cabeça, e as asas não batem mais. Ave? Andorinha é ave? Andorinha é passarinho? Sempre, sempre tive dúvida; ninguém nunca me convenceu que andorinha é passarinho, assim eu nunca fui malvado. Jamais.
Matar passarinho alimenta a crueldade de um assassino ou não? Só é assassino quem mata gente? Porque não matei meninas, mas somente passarinho. Ainda que não fosse passarinho — era andorinha. Comigo ela não era assim um passarinho; era andorinha. Quem mata andorinha não mata passarinho, se a menina era uma andorinha podia também ser morta, porque andorinha não é gente. Aí decidi, não sei se foi decisão mesmo, mostrar a ela o meu caderno com as anotações. Ela disse me mostra. Fui buscar no guarda-roupa, escondido embaixo dos lençóis limpos e engomados. Para que serve? Para anotar o número das andorinhas que matei, uma a uma, para quê?, para não me esquecer nunca. Não tem nada escrito. Por isso, porque ainda não matei nenhuma. Que serventia tem o caderno, então? Para quando eu crescer. Vou colecionar mortes, de andorinhas, é verdade, e nem assim deixando de ser morte; por que você não se diverte comigo? Recomeçava a conversa outra vez, naquele quarto onde os móveis ficavam, permaneciam meses inteiros, cobertos de lençóis, que era para não cair poeira. Lógico, é claro, os lençóis se sujavam, mas não tinha problema, porque quando as visitas chegavam, os lençóis eram retirados e jogados na bacia para lavar; nem sei se voltavam para sala ou se eram outros; eu sei que abraçado com a menina via ali os lençóis e eles estavam bem pertos da minha mão, e minha mão não estava ali para tocar em lençóis, mas para abraçá-la, que eu começava a sentir o latejamento.
Foi ela mesma quem, carinhosa, me pediu para fazer as anotações, assim a gente fica junto até na morte, acrescentou, e não acredito mais em lugar-comum, porque menina falando não tem lugar-comum, ela nem sabe o que é isso, nem tem tempo para pensar nessas coisas, na verdade a gente nem conversava, é pura mentira, eu ficava pensando como seria a nossa conversa, enquanto ela jogava meu corpo na parede, metia a mão no meu queixo, entre o queixo e o pescoço, e apertava, apertava, não podia conversar, só ficava com as pernas trêmulas, e ela apertava minhas bochechas, beijava os meus lábios salientes. Uma menina na infância sempre explica as loucuras da vida? Nunca senti isso, nunca senti a interferência dela na minha vida. Aliás, só vinha a revê-la mais tarde, bem mais tarde, é assim, eu fui à casa de outra menina, agora uma moça, minha colega de escola, nem minha namorada era, e lá a encontrei. Na hora eu não soube. Estava tocando clarinete. Não prestei atenção. Aquela é fulana. Aí eu me voltei. Ela estava sentada numa cadeira, derreada, fazendo de conta que não me conhecia. Não me disse uma palavra. Nunca me disse uma palavra. Acho que foi um instante. Uma coisa de repente. Derreada assim na cadeira e vestindo uma saia longa, naquele calor de Arcassanta uma blusa clara, e loura. Era loura. Acho que é a loura fatal de minha vida, aproveito o lugar-comum para não me esquecer nunca da loura fatal, de minha loura fatal, tão moça e tão alta, me olhando sem nenhum sentimento, não vou escrever me olhando com frieza, porque assim também já é lugar-comum, mas me alegra que seja, porque somente assim não deixo de usá-lo.
Uma loura fatal que me disse no suspiro do quarto de visita vou pra casa e amanhã quero lhe encontrar aqui. Aqui quer dizer: no quarto esquisito e estranho, com os móveis cobertos de lençóis brancos e um quadro de Jesus Cristo na parede, segurando o globo com a mão, o coração sangrando. Eu não gostava de olhar aquele quadro, porque ficava triste e compadecido com Jesus, ele sangra sempre pelas dores do mundo, dizia minha mãe, o mundo que não se arrepende dos pecados e que faz Jesus sangrar todos os dias, você sabe, não é? Você sabe que Jesus sangra todos os dias, segurando o globo, porque o mundo não se arrepende, eu só ficava olhando minha mãe, e ela repetia por puro amor, sempre compreendi o puro amor de minha mãe que, aliás, nunca descobriu a minha paixão carnal no quarto. Chegou o dia em que a menina disse aquilo de espera aí, volto amanhã, nunca voltou. Nunca voltou, posso garantir, nunca voltou.
Senti saudade? Nunca. Quer dizer, nunca voltou para o quarto, para aquele lugar em que me jogava na parede e segurava meu pescoço e meu queixo com força, porque voltou naquele dia da casa de minha amiga, vestida de longo e loura, sem me olhar, quieta; ela deve ter sentido que também a olhei com frieza, sem me preocupar nem nada. Até porque matei um desgosto da minha vida, meus amigos todos tinham uma loura fatal na vida, menos eu, calado e quieto no meu canto, queria tanto encontrar seu Clementino para dizer, naquele tempo não, agora descubro que tenho uma loura na minha vida, ele ia achar engraçado e me pedir para rezar e pedi perdão a Deus, feito minha mãe dizendo Jesus sangra todos os dias. Era mais fácil pedir perdão por causa de uma loura fatal, do que pela morte, na verdade, pelo assassinato dos passarinhos ou das andorinhas. Sabe o que é lugar-comum não sabe? Loura fatal também é lugar-comum. Todo menino tem uma loura fatal na vida? Eu posso fazer assim: tiro o cabelo louro da menina. E se eu disser que o menino passou meses esperando a menina trancado no quarto é lugar-comum; mas se o menino não sentir nem saudade nem nada nem nunca mais falar disso nem mesmo na lembrança, também é um não lugar-comum? Prefiro a loura, que eu não vou perder uma loura, alta e bonita, só por causa de uma bobagem dessas. O lugar-comum é muito melhor. Imagine uma menina, que é loura, e que é fatal, lhe empurrando no canto da parede e dizendo, com os olhos quentes e doces, vai, amor, vai. E sem saudade, sem um mínimo de saudade.
Que homem é esse que sou: não sinto saudade da loura fatal nem me decepciono por que não matei uma andorinha? Falta sentimento?
O que eu não queria era me analisar, respondendo que foi na infância. Se eu quisesse mesmo dizer que foi na infância — todos dizem que a infância é escandalosa — começaria falando dos meus mestres, daqueles que me ensinaram tudo. Talvez mostrando como essa coisa foi se tornando visível. Bastaria me colocar na janela da minha casa, às cinco horas da tarde — às cinco horas da tarde sempre é o momento da morte, o instante do sol das almas, como dizem na minha terra —, olhando as andorinhas. É outro lugar-comum: as andorinhas sempre vagam pelo final da tarde, voam sobre a praça e repousam num fio de alta tensão na igreja. Fica assim mesmo: menino, andorinha, fim de tarde, praça e igreja. O que mais? Por enquanto só isso. Ah, sim — sem sentimentos. Por enquanto não preciso de sentimentos. E nem preciso me lembrar que o padre botava um disco para tocar, sempre às cinco horas da tarde, cantando o meu amor morreu na virada da montanha, uma coisa chata, rouquenha; o que é que tem de romântico no meu amor que morre na virada da montanha?
Para minha desgraça, é insuportável viver sem matar. Acho que foi aí sim, na montanha, quando o padre colocava aquele disco, que eu senti a maravilha da morte. Queria ser um assassino romântico que lamenta a morte da amada e que chora sobre o corpo. Meu amigo chorou, sabia? Matou a mulher e chorou, os dois no chão, ensangüentados, envolvidos pelo mistério do crime. O que encanta no crime é isso: um mistério, sempre um mistério. Como é que se mata uma pessoa, hein? Me diga aí? Como é que se mata um ser humano, cheio de amor e prazer? Não quero mais ler jornais e fazer perguntas. E por que se pergunta tanto? Não devia, nenhuma pergunta exige resposta. Até porque responder é reduzir o mundo a nada.
Esse meu amigo teve mais sorte do que eu: matou a mulher. Assim, com essa tranqüilidade toda. Ninguém precisa ter ódio para matar. Nem raiva; nem desgosto; sem desolação. É uma coisa natural, óbvia É apenas um gesto. As pessoas ficam se questionam, perguntando, indagando. Espantadas. Não sei por que as pessoas ainda hoje ficam impressionadas com o que chamam de morte violenta. Não há violência alguma. É a natureza da vida. Algo tão claro, tão leve, tão suave. Como então é violência? Muito mais violento é respirar e, no então, ninguém reclama. Já viu alguém dizer respirei o dia todo? Violento é viver. Uma agressão incrível. Viver é arbitrário.
Não precisam se inquietar. Posso dizer, do alto da minha compreensão, que um assassinato é uma coisa tão comum que não exige esforço nem para matar nem para compreender Não pede esforço, nem psicológico; nem físico. Nem sequer oportunidade. E mais uma coisa, uma coisa importante: não é necessária sequer uma arma. Para aquele que tem o espírito da morte, a arma é inútil. Crime sem arma? Nada disso. O que quero dizer sinceramente é o seguinte: basta o golpe sem ter de conduzir um revólver, uma faca, um punhal. Na bolsa ou na cintura. A arma já está ali, em qualquer lugar, à sua frente, à sua disposição. Basta saber usá-la. Sem ansiedade nem apreensão. O bom criminoso, o fino criminoso, mata. Apanha o que se encontra por perto. E até o que não está por perto. Para que servem os braços, as mãos, as pernas? Um minuto? É muito. Um segundo? Um segundo e está tudo terminado. A leveza de tomar um copo d’água.
Parece natural ter medo de pessoas que andam com o revólver na cintura. Bobagem. As pessoas que andam com revólver na cintura não matam. São iguais àquelas outras que jogam futebol com a peixeira na cintura. Tem gente em Arcassanta que faz isso. Joga futebol com peixeira, chapéu e tudo. E ainda de sandálias. Correndo e cabeceando. Essas pessoas não matam. Usam armas porque é natural usar arma. Porque é costume. Se vestirão sempre assim. À moda da casa. Se você tem uma arma, vai ser sempre um suspeito. Matar com amor, com naturalidade, sem o perigo de ser preso, nada de prisão, criminoso preso é um desastrado, um fracassado, isso nunca pode acontecer. É decisivo. E radical.
Preparei minha mente para matar, volto a dizer assim sem mais nem menos, com a mesma simplicidade com que falaria da loura fatal, que naquele tempo, o de antes, o de menino, nem era loura muito menos fatal. Se tinha cabelo? Tinha, é claro, mas um cabelo nem louro nem fatal, cabelo de menino não tem cor, é cabelo de menino, de menina, e a gente nem se lembra mais. Não guardei isso na mente, que estava ocupado em matar. Isto é, não a mente toda, apenas uma parte. É claro que eu não ia ocupá-la só com os crimes. Não fazia, ou não faz sentido algum. O crime se localiza aqui no lado esquerdo, como se fosse uma bolha. A princípio tentei o lado direito, que sempre me pareceu mais organizado, mais sóbrio, mais harmônico. E eu tenho paixão pela harmonia, pelo equilíbrio. Havia, no entanto, uma incompatibilidade, os desejos não se ajustavam. Foi aí, sim, a minha primeira decepção. Ali havia algo muito pesado, difícil, concreto. Todas as vezes que eu levava para lá a idéia de um crime, acontecia, por assim dizer, uma rejeição. Ficava batendo como bola de pingue-pongue nas paredes da cabeça, ia e voltava, não me dava conforto algum, até o dia em que estava quieto, calado, tranqüilo, na espaçosa sala da minha casa, quando a idéia de um crime começou a me possuir. Digo assim, mas não sei se é algo consciente ou inconsciente, logo que tive a idéia, sem querer, e sem pensar, ela foi se ajustando no lado esquerdo, até parecia familiar, íntima, tal era a facilidade com que se desenvolvia. Senti a minha própria iluminação. Era ali que eu devia guardar as minhas melhores sensações de alegria e gozo.
Isso não quer dizer, contudo, que aceitei tudo pacificamente. Não é bem assim. Depois da alegria e do gozo, fiquei me perguntando por que aquilo acontecia, será que eu fora tão ingênuo, ou o lado esquerdo resolvera surpreender o lado direito? No lado direito, aliás, comecei a sentir, com algum esforço, o que era ter uma vida criminosa. Foi por pouco tempo, é verdade; muito pouco tempo. Acreditei que ali se alojavam as minhas esperanças. Aliás, quero dizer que não gosto da palavra criminosa, criminoso, essas coisas. Crime, sim, crime ainda vai. Mas criminoso? Não, é uma palavra dura demais. Nunca me senti um criminoso, teria vergonha de mim mesmo se fosse assim, é de fato uma grande dor ser chamado de criminoso, não tem nada de belo, de encantado. Criminoso é alguém que vive à margem da sociedade, isso mesmo, tem algo de marginal. Não combina bem. Não é o que quero; não é o que pretendo. Não me misturo com essas vulgaridades. Tenho objetivos mais nobres na vida. Objetivos bem altos para ser alcançados. Uma espécie de anjo, se for preciso me definir. Logo me dou conta, também, que anjo tem se tornado uma coisa vulgar: anjo da morte, anjo exterminador. Não quero isso. De forma alguma. Não foi o que projetei. Agora, calma, paciência: ah, é lugar-comum, e se é lugar-comum, fique, para honra e glória do lugar-comum. Para sempre.