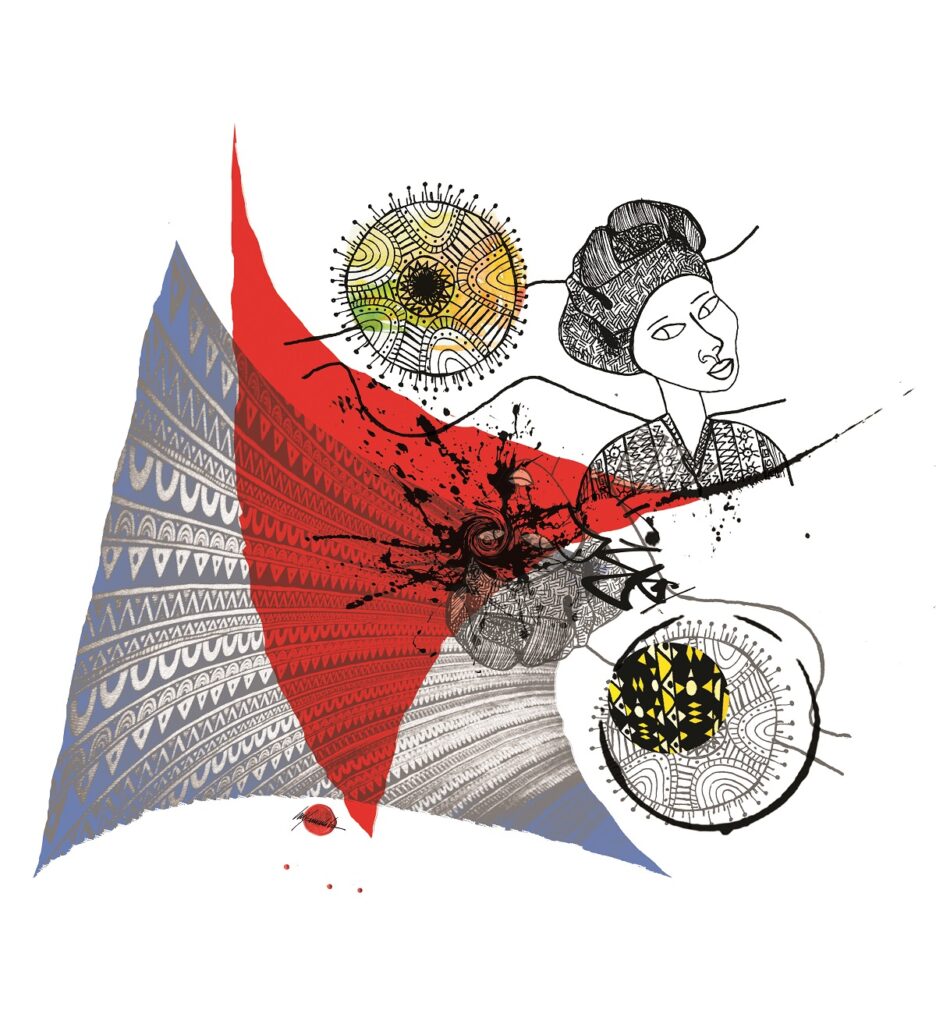Com as manobras de sempre, o veleiro África torneou a baía de Lourenço Marques, fazendo-se ao estuário do Espírito Santo, em direção à ponte-cais Gorjão, na tarde do dia 31 de julho do ano da graça de 1911, sob um céu parcialmente nebulado. Pela amurada do paquete, viam-se passageiros agitando lenços e bengalas e chapéus, saudando conhecidos e desconhecidos, apinhados no longo e estreito espaço do cais da cidade, visivelmente agitados com o frio tropical do mês de julho.
As águas da baía não se revoltaram, como de costume, à entrada do navio. Tal acalmia, em contraste com o céu acinzentado a anunciar imprevista chuva noturna de julho, o vento decidido a não açoitar com o vigor de julho as acácias em crescendo na Praça 7 de Março, e as vozes contrastantes mas alegres dos passageiros, não impediu que Malhalha, uma das mais novas das mulheres do imperador, dissesse, com desusado estremecimento do corpo, às outras mulheres do exilado imperador, Phatina, Namatuco e Lhésipe, que o coração se lhe apertava e o corpo não lhe obedecia. “É a vertigem da chegada”, retrucaram, quase em uníssono, com uma disfarçável segurança expressa no sorriso meio apagado. As outras, Oxaca e Debeza, mulheres de Zilhalha, outrora rei das terras a norte de Lourenço Marques, e súdito do imperador Ngungunhane, aquiesceram em silêncio.
O comentário teria por si bastado, por entre o alvoroço que se apossara dos passageiros, se as outras mulheres não sentissem, de imediato, a estranha e incômoda vibração que as levou a contrair as faces e a suspirar por entre os dentes cerrados, preocupadas com os olhares e prováveis comentários desabonatórios dos passageiros que apressadamente passavam pelo convés do navio onde, a pedido, elas se haviam instalado, no último dia de viagem, com o intuito de se certificarem da exata posição das estrelas ao cair da noite, e do brilho do sol a rasgar as manhãs do oceano Índico.
— É estranho — disse Pathina.
E entreolharam-se, procurando, com dissimulado cuidado, escrutinar os compassados movimentos de cada uma, enquanto espiavam, de viés, os olhares dos passageiros mais preocupados com a terra à vista que com as pretas sentadas na cobertura superior, e afastadas das cadeiras à disposição dos viajantes. Os miúdos, Marco Antônio Silva, de nove anos, Maria Antônia, mestiça, de sete anos, filhos de Lhésipe, João Samakuva Gomes, de oito anos, filho de Malhalha, e Esperança Espírito Santo, de cinco anos, sorte de Debeza, observavam, a bombordo, a língua de terra estendendo-se mar adentro e exibindo, sobranceiramente, as saliências e reentrâncias há muito comidas pelo mar a servir de suporte ao verde profusamente eriçado no cimo da arriba que, aos olhos dos meninos, em nada se assemelhava às negras falésias de pedras santomenses, exuberantemente pejadas, à superfície, de uma estonteante vegetação equatorial, sempre banhada pelas diárias águas da chuva que abençoavam as ilhas do Atlântico.
— Cheguem aqui, meninos — disse Namatuco.
— Há terra deste lado, mamã.
— Não desembarcamos por aí. Essa é a terra dos Tembe.
— Para onde vamos, afinal?
— À terra dos Zilhalha.
— Não é Moçambique?
— Moçambique? — interrogaram-se, com alguma incredulidade, enquanto tentavam ocultar os espaçados e convulsivos movimentos dos corpos que recusavam obedecer à mente, por respeito aos passageiros que se enfileiravam junto à escada de madeira que dava à terra.