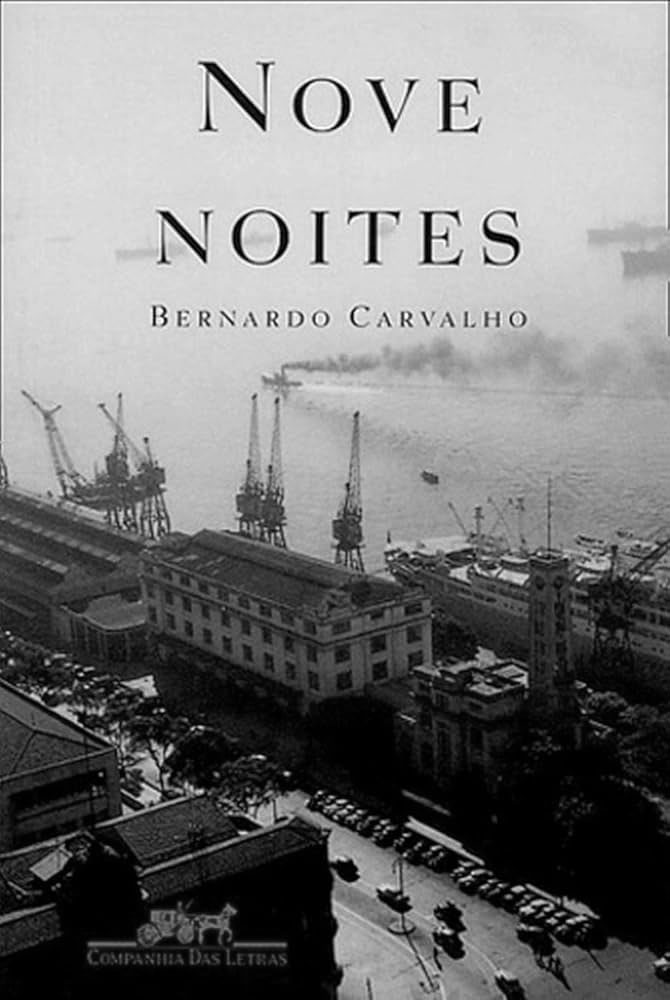Bernardo Carvalho está em constante fuga, numa viagem empreendida por abismal turbulência. Fugir, para ele, não significa distanciar-se, esconder-se, mas desnudar-se num jorro incansável de inquietações. É um passeio — nada fácil, diga-se — por infernais labirintos (por mais desgastada que esteja tal imagem), em busca de algumas respostas, aparentemente insondáveis, ilegíveis e, num grau ainda maior de exigência, inexistentes, apenas espectrais. Foge para encontrar-se, na mais plena ambigüidade. E tal fuga não é das mais simples — muito pelo contrário —, mas cheia de desafios; não é apenas se ausentar; é construir um mundo, onde se sinta seguro, para, enfim, sorrir, com a trapaceante sensação de satisfação — por mais que esta não exista, seja apenas aparente, ilusão passageira.
Mas do que foge Carvalho, perguntaria o mais impaciente e, quem sabe, irritado leitor? Foge das falsas facilidades, dos joguetes ilusórios da escrita, das incansáveis e batidas metáforas oportunistas. O autor sempre corre alucinado das palavras e expressões transfiguradas, herméticas, comparativas. É um ódio destilado com nuanças bizarras, que levam o leitor por labirintos (bons labirintos) de uma escrita feroz. Foge da mediocridade, para criar um mundo capaz de abarcar outros mundos e, assim, abrir fendas onde a dúvida pulse com intensidade, com força alentadora. Assim o faz desde Aberração, livro de contos que marcou sua estréia literária, em 1993. Desde então, dedica-se a mostrar caminhos possíveis, a buscar sentido onde este não exista, a debater-se em dúvidas, e, principalmente, a fazer da literatura um espaço para a felicidade (aqui apenas compartilho a opinião de Julio Cortázar, que dizia que a boa literatura serve para trazer felicidade ao leitor/escritor).
A primeira frase de Aberração — para facilitar, digamos, o primeiro passo literário de Carvalho —, no conto A valorização, indica por que recônditos infiltrar-se-ia o autor: “Tudo o que ae fez, disse ou sentiu na vida é falso”. É sobre essa “falsidade”, ou melhor, do jogo entre a falsidade — em que a certeza é apenas um espasmo — e o conhecido que se debruça a obra de Carvalho. Nunca se pode ter certeza de nada o tempo todo, como se a ficção engendrasse fórmulas para fabular sobre si mesma. Isso sem falsos jogos de linguagem, que serviriam apenas como uma frágil muleta. Bernardo Carvalho domina a escrita que, muitas vezes, parece querer desgarrar-se, com autonomia suficiente para ludibriar o próprio escritor.
O domínio dá-se com um estilo vigoroso, parágrafos de enorme fôlego e frases interligadas por uma infinidade de conjunções e apostos, por onde sobressalta a influência de Borges e Cortázar. Essa agradável “turbulência” abre as portas para o mundo de Bernardo Carvalho: a viagem não é nada tranqüila, com seus personagens neuróticos (ou paranóicos, como prefere o autor), por desvãos que tendem a levar ao infinito. O choque é inevitável. Personagens transgridem os limites de um livro (se é que tais existem), para aterrissar, no futuro. V., por exemplo, do conto A valorização, de Aberração, está no romance As iniciais (1999). Outros personagens repetem nomes e surgem em livros diferentes, como se fossem os mesmos, apenas tentando forjar outra identidade.
(As iniciais, como sugere o título, é uma miscelânea de letras, ou melhor, de iniciais, que se unem e se separam — um movimento constante — para dar vida a 12 personagens. São, como todos os demais personagens de Carvalho, inquietos, arredios e destemperados.
Para sentir o prazer da escrita de As iniciais é preciso perseverar para ultrapassar as 30 primeiras páginas, pois ali estão quase todas as iniciais conversando em um antigo mosteiro, durante um jantar, regado a paixões homossexuais, Aids e inveja. A história, contada por um escritor, é um labirinto com vários minotauros , loucos para devorarem uns aos outros. Há o escritor, o administrador de grandes fortunas, o ex-jogador de tênis, a aspirante a escritora, os amantes, enfim uma mescla harmoniosamente desorientada, que busca um sentido para a vida no amor do mesmo sexo. A Aids — tema muito presente na obra de Carvalho — completa a bomba prestes a explodir.
É entremeio a essa algazarra que o narrador recebe uma pequena caixinha de madeira com quatro letras: iniciais entalhadas para que se desvende um código e propicie uma descoberta. Durante dez anos, guarda a caixa com a obsessão de descobrir o que significam aquelas letras, e num almoço na sede de uma fazenda encontra um excêntrico pintor. Pensa ter encontrado a resposta, mas adentra novamente no labirinto construído durante o jantar no mosteiro.)
A breve explicação de As iniciais, escrita quando do lançamento do livro, em 1999, faz-se necessária para ilustrar um pouco mais o mundo de Carvalho, feito também de sexo e mistérios. Se ali, a incerteza pairava dentro do próprio romance, na busca de respostas escondidas em cada linha inventada pelo autor, agora em Nove noites (romance sublime), Bernardo Carvalho resolveu confundir ainda mais — não tomemos aqui o ato de confundir como apenas um artifício de um escritor limitado —, derramou grandes doses de realidade, misturou tudo harmoniosamente, e, para deleite dos leitores, ensaiou como nunca mais alguns passos por seu labirinto particular.
A história e pouco conhecida e, por isso, envolta num mistério agonizante: em 1939, o antropólogo americano Buel Quain, 27 anos, resolveu se matar de uma maneira violenta. A partir do suicídio de Quain, que Carvalho garante tomar conhecido a partir de um artigo em um jornal, nasce o romance. Tudo está envolto no mistério do motivo; ou ao contrário: nada está envolto na morte, tampouco no motivo, mas na falta deles. Para se chegar a uma resposta (ou a mais dúvidas), Bernardo Carvalho mergulhou em cartas, em confidências, em pesquisas, em depoimentos, em tudo o que pudesse deixá-lo menos inquieto (ou aguçasse ainda mais a sua inquietude). Ao mesmo tempo em que os motivos do suicídio parecem desnudar-se, viaja-se pela forma com que o autor conduz a história. Pode-se ignorar o fato verídico; pode-se acreditar em tudo; pode-se duvidar de tudo ao mesmo tempo e, ainda ao mesmo tempo, acreditar. Crença e descrença se entrelaçam e embalam o leitor. Destaque para o trecho em que Carvalho narra sua convivência com índios nos confins do Brasil. Tudo muito verdadeiro (prestem atenção na foto do autor, aos seis anos, no Xingu, que ilustra a orelha do romance!), tudo muito falso. Não se pode deixar de se emocionar com a relação do autor (?) com seu pai.
Nove noites, mesmo com frases mais curtas, menos entrecortadas, é a essência que faz da obra de Bernardo Carvalho uma das mais criativas e inquietantes (sempre a abrir novas portas e janelas, a escancarar significados) da literatura brasileira. Sua ambigüidade é sedutora.
• Em uma entrevista concedida ao jornalista Ernesto González Bermejo, em 1977, Julio Cortázar disse: “quando vou escrever um conto, sinto hoje, como há quarenta anos, o mesmo tremor de alegria, como uma espécie de amor”. Isso, parece ser, o que move Cortázar a escrever. O que te leva e te dá força para enfrentar a ficção?
A pergunta não tem resposta além dos clichês e das fórmulas mais ou menos inteligentes, mais ou menos evasivas ou tautológicas, do tipo: escrevo porque gosto de escrever. Todo mundo quer saber o que leva os escritores a escrever, mas ninguém faz essa pergunta aos médicos, aos economistas, aos políticos, aos engenheiros, aos cientistas. Em parte, é natural, porque a inutilidade da literatura incomoda as pessoas. Todo mundo sabe por que um médico é médico, mas é difícil entender para que serve um livro de ficção, se não for para entreter os leitores, saciar a vaidade do autor e encher o seu bolso (e o do editor) de dinheiro, embora existam outras maneiras, bem mais fáceis e promissoras, de atingir essas metas. Também há livros que informam e educam, mas a literatura é uma outra coisa além de informação e educação. Em geral, as pessoas tendem a só compreender o que tem uma utilidade ou uma função. Se não costumam perguntar aos artistas por que pintam e aos músicos por que compõem — pelo menos, não com a mesma freqüência com que fazem a pergunta aos escritores — é porque, no caso das artes e da música, que no fundo são tão inúteis quanto a literatura, as pessoas podem lhes atribuir com mais verossimilhança um uso social, decorativo ou mercadológico. São formas que podem ser apreendidas coletivamente, por grupos de espectadores e ouvintes, além de serem mais imediatas, mais sensoriais, enquanto a literatura demanda mais esforço e é em essência uma experiência solitária. É incrível, por exemplo, o trabalho feito pelo mercado editorial nas últimas décadas para transformar o livro num produto da indústria cultural, num produto de massa, de par com o cinema e a música pop. O máximo que posso dizer para tentar responder a sua pergunta é um truísmo: que fico mal se não escrevo. E que me faz bem escrever. Ou que escrevo para criar um mundo em que a utilidade não seja uma exigência, um mundo em que eu caiba. Mas com isso eu já estaria tentando atribuir uma função à literatura, e esvaziando o que há nela de mais libertário e surpreendente, que é não precisar de nenhuma razão.
• Seus romances e contos são construídos com uma escrita vigorosa, parágrafos de fôlego e frases interligadas por uma infinidade de conjunções e apostos, muito longe de um facilitarismo que tanto atrai (e trai) alguns escritores, voltados a um naturalismo urbano. Essa seria uma das formas de ser uma voz dissonante entremeio à mesmice?
Não há cálculo no que eu faço. Cada um faz o que pode. Não daria para ser diferente, nem que eu quisesse. Não consigo escrever de outra forma. Antes, tudo me levava a crer que isso era uma falha, um defeito. Até o dia em que em que entendi que, ao contrário, podia ser uma qualidade. Foi quando publiquei o meu primeiro livro. Se eu tentasse fazer um best seller, é provável que não só acabasse escrevendo um livro muito ruim, mas também muito pouco comercial, para minha infelicidade. Não acredito em fórmulas. Também não há nenhuma regra no que eu escrevo. Não me sinto obrigado a reiterar aquilo a que as pessoas me identificam. No meu último livro, Nove noites, as frases são menos labirínticas do que nos anteriores, na verdade são até muito simples, embora a sensação do labirinto esteja presente da primeira à última linha. Não há tantos apostos e períodos em espiral. É como se, no Nove noites, que é baseado em fatos e personagens reais, a história já estivesse lá, enquanto nos livros anteriores a frase estivesse à procura da história.
• A sua ficção está voltada à convulsão. Os teus personagens são inquietos e arredios. Grande parte são neuróticos. Você encara a literatura como um paliativo para as inquietações do escritor, que enquanto constrói os personagens joga um pouco de si neles?
Neuróticos somos todos, a julgar pela definição freudiana. Os meus personagens, ao contrário, não costumam ser neuróticos. Estão mais para paranóicos. Pela voz e pela mente deles, eu tento associar loucura e literatura, mostrar que há um elemento paranóico em toda criação. Tanto a paranóia como a literatura tentam fazer conexões onde não há nenhuma conexão, criar sentidos onde não há nenhum sentido. Por esse ponto de vista, você resgata a paranóia do que ela tem de patológico e lhe dá um valor positivo, transforma a paranóia em arte. Todos os meus livros tentam de uma forma ou de outra inverter os sentidos, mostrar uma lógica onde não há nenhuma lógica, um mundo que estava encoberto pelo que nos acostumamos, pelas convenções, a chamar de mundo. Nesse sentido, uso a loucura como um elemento alusivo, analógico e auto-reflexivo sobre os poderes da literatura.
• Você estreou na literatura, em 1993, com o livro de contos Aberração, e nunca mais voltou a este gênero. Por quê? Cristovão Tezza diz que o conto não satisfaz a sua vontade como escritor. O conto mostrou-se limitado para a sua ficção?
De jeito nenhum. Acho que nenhum gênero é limitado. Você sempre pode torcê-lo, recriá-lo, e é aí que está toda a graça. O romance que eu faço não deve ser considerado romance por muita gente. Mas para mim é. Na adolescência, eu detestava as coletâneas de contos que era obrigado a ler na escola. Acabei ficando com uma imagem equivocada do que era um conto. Só quando li o Kafka e o Borges, mas também os textos mais curtos do Conrad, é que entendi que cada um faz o que quer com os gêneros. Quando publiquei o Aberração, algumas pessoas me disseram que não eram contos; eram romances comprimidos. O conto que eu tinha procurado criar naquele livro tinha menos a ver com o modelo das antologias da minha adolescência do que com narrativas híbridas, mais longas. A diferença é que tudo estava concentrado. A rigor, cada frase podia ser desenvolvida em vários parágrafos, cada frase era um romance em potencial. É claro que há uma diferença de registro entre as narrativas curtas e as narrativas longas e você tem que estar sintonizado com o registro em que pretende escrever. Do Aberração para cá, embora de vez em quando eu tenha publicado textos bem curtos, fui me sintonizando mais e mais com um registro alternativo entre o conto e o romance, uma coisa intermediária, que as pessoas às vezes chamam de novela, e que me seduz justamente pela indefinição.
• Sobre Aberração, um crítico chegou a dizer que você é um “perfeito herdeiro de Borges”. Não seria uma pedra pesada demais para carregar nos ombros? Que leituras o encantam e como elas interferem em sua obra?
Não acho que eu tenha nada a ver com o Borges, que é um dos escritores que mais admiro. A comparação foi feita por um europeu e é natural que tenha tomado o Borges como referência para falar de um escritor sul-americano sobre quem ele não tinha referências e que acabava de publicar seu primeiro livro de contos traduzidos na França. Tinha mais a ver com associação geográfica do que literária. Para mim, o mais fascinante no Borges, e o que ainda me entusiasma ao lê-lo, é a criação de um gênero de ficção que incorpora e se confunde com o ensaio. É uma grande invenção. Imagino que a vida dele deve ter mudado no dia em que descobriu que podia escrever daquele jeito. Os escritores que mais admiro são os que criam vias próprias, os que abrem caminhos e desbravam novos territórios. Podia citar vários, mas não acho que isso ajude em nada. Parece facilitar um reconhecimento, quando na verdade cria equívocos. Pela citação de eventuais influências, acabo sendo identificado a esses escritores por pessoas que não os leram e que provavelmente também não vão ler os meus livros. Se admiro esses escritores, não é para tentar imitá-los ou seguir as trilhas que traçaram, mas porque são exemplos do que é possível fazer ao tomar um caminho próprio, divergente, em desacordo com os consensos do seu tempo. São escritores que dão uma imensa alegria a quem os lê, por mostrarem que é possível seguir os caminhos mais improváveis. Por mostrarem outras saídas.
• Também pode-se encarar Aberração como o grande “esboço” para a sua produção futura. No conto Atores, por exemplo, estão A. e B., dois personagens masculinos que viajam pela turbulência do amor, que serão encontrados no romance As iniciais. Já no conto A valorização, encontra-se um administrador de grandes fortunas, que também figura em As Iniciais e V. (outra inicial). Em Teatro (1998), lá está V. outra vez. A intenção é esta mesma: construir uma obra em constante conversa consigo mesma? Desculpa o lugar-comum, mas você está a escrever sempre o mesmo livro?
Os personagens de Atores não são os mesmos de As Iniciais. Já A Valorização é, de fato, uma espécie de esboço da situação desenvolvida mais tarde em As Iniciais. Mas o V. de A valorização não tem nada a ver com o do Teatro. Não dá para generalizar. É verdade que eu gosto da idéia de que a literatura abre portas para um outro mundo, imaginário, mas ao mesmo tempo com aparência tão concreta e real quanto a do mundo em que vive o leitor, um mundo paralelo ao qual ele pode ter acesso por várias entradas, por vários livros. É um pouco a idéia por trás da Comédia humana, do Balzac, mas também do Proust e do Faulkner. O Onze, meu segundo livro, era uma tentativa condensada de criar várias entradas para esse outro mundo, por meio de coincidências entre realidade e ficção, de personagens que sumiam em papéis secundários e reapareciam como protagonistas mais adiante, em outras situações, em outros capítulos etc. A idéia de que se está a escrever sempre o mesmo livro não é um lugar-comum. Por mais que você tente escapar, vai acabar percebendo que volta sempre ao mesmo lugar. O jogo consiste em continuar tentando escapar.
• O personagem M., em As iniciais diz: “há coisas em literatura que não devem ser ditas”. Que coisas seriam estas em sua ficção; a que silêncios te dedicas?
O que o personagem está dizendo é que há coisas que só podem ser ditas pelo não-dito. E isso se aplica também às entrevistas.
• No conto Atores, de Aberração, você escreve: “A. também abandonou os que se apaixonaram por ele, mais de uma vez, até se tornar um escritor e esquecer os sentimentos — ele os guardou para as personagens — e as paixões, que passou a escrever como se não viessem de seu próprio passado”. A literatura requer um alto grau de paixão ou deve ser cerebral e calculista?
Tanto faz. Não há regras. O que você escreve pode ter um alto grau de paixão, e ser genial ou uma porcaria. E o mesmo ocorre com o texto de aparência cerebral. Não gosto do termo calculista, que pressupõe um juízo de valor, mas toda literatura é artifício, e daí que há sempre um grau de razão, de pensamento, de construção, por mais camuflado que esteja, mesmo no texto aparentemente mais espontâneo na expressão das suas emoções.
• Em Nove noites, você utiliza um fato real (o suicídio do antropólogo americano Buell Quain, aos 27 anos, no Brasil) para tecer um romance de grande força. Há um limite entre a ficção e o real? Como não o ultrapassar?
Nove noites joga com essa ambigüidade. Você nunca sabe onde está o limite e é isso o que dá a sensação de labirinto. Na verdade, essa ambigüidade já estava presente nos livros anteriores, de formas variadas. O que eu fiz aqui foi explicitá-la de uma outra maneira, usando fatos e nomes reais, de gente conhecida, para pôr em dúvida os próprios fatos, o que as pessoas acreditam que são e que vêem. Falando assim, pode parecer um tanto prepotente ou professoral, mas é mais um jogo. Se você quiser encontrar caminhos diferentes dos que já conhece, vai ter que remanejar os sentidos e não se agarrar às certezas, estar disposto a correr o risco de se perder.
• Um trecho de Nove noites diz: “Cada um lê os poemas como pode e neles entende o que quer, aplica o sentido dos versos à sua própria experiência acumulada até o momento em que os lê.” Isso também vale para a ficção?
Acho que sim. E é por isso que não faz muito sentido eu dizer que meu livro é isto ou aquilo. Pode ser muito tentador, mas há um lado grotesco no escritor que discorre ou escreve um ensaio sobre si mesmo. Cada leitor decide por conta própria. Você depende dos leitores. E isso é ao mesmo tempo o mais terrível, o mais irritante e, muitas vezes, o mais surpreendente e a maior recompensa para o escritor. Você não tem nenhum controle sobre o livro publicado. É uma sensação muito difícil, ainda mais por oposição ao controle que acreditava exercer sobre ele enquanto o escrevia.
• A frase “Ninguém pode estar totalmente só no mundo”, em Nove noites, poderia passar despercebida em qualquer outro autor, mas ganha grande força em sua obra, pois seus personagens estão em constante luta para encontrar respostas, quaisquer que sejam. A solidão o assusta?
No fundo, só existe solidão. Tenho um amigo que vive citando, de brincadeira, como um mote absurdo e repetitivo, uma frase que o Kafka disse a um estudante, Gustav Janouch, que lhe perguntou se ele se sentia só: “Só como Franz Kafka”, respondeu o escritor. Você passa a vida tentando sublimar a solidão e a morte, arrumando assuntos para se distrair, para não pensar nelas. Mas há uma outra maneira de lidar com o que você desconhece, com a sua condição. Todo mundo é “só como Franz Kafka”, mas ninguém se expressa assim. Ao formular desse jeito a solidão, o Kafka dá a ela uma outra dimensão, uma dimensão positiva, ele a inverte pela criação e pelo humor. Deixa de ser sujeito passivo da solidão para se tornar agente, remanejando os sentidos, que é o que faz a literatura.
• Você trabalhou algum tempo como jornalista na Europa e nos Estados Unidos. A idéia de deslocamento também está muito presente em sua obra. De que forma esse distanciamento ajudou em sua ficção?
Para mim, o melhor lugar para escrever sobre o Brasil é fora do Brasil, ou num estado de descompasso com o Brasil. Eu vejo melhor, as idéias ficam mais claras, consigo encontrar com mais facilidade um ponto de vista. Até para falar do Rio é melhor estar em São Paulo. O melhor lugar de ver o mundo é fora dele. A sensação de exílio permanente, mesmo dentro do seu país, não é só um lugar-comum entre os escritores. Em muitos casos, é fundamental, uma condição, um pré-requisito para quem precisa enxergar.
• Também gostaria que você comentasse outros dois trechos de Nove noites, que se referem ao Brasil: “Os brasileiros se contentam em fazer seus pedidos à sorte. (…) Há um monte de coisas sobre os brasileiros e as cidades brasileiros que me dão vontade de tirar a roupa e me masturbar em praça pública”. O Brasil o atormenta? Como é dedicar-se à literatura num país de poucos leitores?
São trechos de uma carta do Buell Quain, que é um personagem que muitas vezes me irrita e ao qual por outras eu me identifico. Por um lado, esse descompasso, o desconforto de não pertencer a lugar nenhum, me ajuda a escrever. Isso é muito claro para mim. Eu invejo as pessoas que ficam contentes de voltar para casa. É lógico que já senti isso, muito raramente e com uma intensa felicidade. Mas, em geral, não me sinto em casa em lugar nenhum. Se fosse chinês, teria horror da China. Se fosse americano, teria horror dos Estados Unidos. Os consensos me incomodam. Mas, por mais que eu não queira, por mais que me debata, é ao Brasil no final das contas que estou condenado, nem que seja pela língua, pela minha formação, pelo meu passado, pela minha família e pelos meus amigos. E a literatura, num certo sentido, é uma forma de ampliar esse lugar, de fazer com que o que eu sou passe a ser também parte do Brasil, para que eu possa caber nele.
• Como jornalista e escritor, você acredita numa aproximação do jornalismo e da literatura, neste tempo em que a superficialidade e a frugalidade reinam absolutas nas redações dos jornais?
Não. Não acredito. Acho que são coisas distintas. Gosto dos dois e pratico os dois com intensidades diferentes.
• Você também exerce a crítica literária (fato ainda raro entre escritores brasileiros), na Folha de S. Paulo. Como você encara o exercício da crítica?
Há momentos em que eu gosto muito de fazer crítica, que é um pretexto para refletir sobre os assuntos que me interessam, e há outros momentos em que não posso nem pensar em fazer uma resenha. A crítica, para mim, serve como um intervalo para retomar o fôlego e as forças entre um livro e outro. Mas também pode me atrapalhar quando estou no meio de um livro. Além disso, há um lado desagradável da crítica: é que ela põe você, a despeito da sua vontade, no meio da vida literária, e isso pressupõe uma maior proximidade e uma maior consciência das vaidades dos escritores, dos jogos de interesse, dos ressentimentos, das trocas de elogios, dos compadrios etc. É muito chato.
• Hoje, há cada vez mais escritores reunidos em grupos, em torno de uma obra que parece ser escrita obedecendo alguns critérios preestabelecidos, para atender a uma demanda que não existe. Você — ao lado de João Gilberto Noll, Fernando Monteiro e alguns outros — é uma voz dissonante nessa balbúrdia. Você acompanha de perto a produção literária brasileira? Qual a sua opinião sobre ela?
Prefiro não acompanhar, porque me atrapalha, me distrai. Mas há escritores de quem eu gosto muito e com os quais tenho afinidades. Fiquei muito impressionado quando apareceu o primeiro livro do André Sant’anna, por exemplo, que se chama Amor. É um livro incrível. O Rubens Figueiredo também é um escritor admirável e com quem tenho muitas afinidades. Gosto muito das pessoas que acabaram se reunindo em torno de duas revistas literárias no Rio, a Ficções e a Inimigo Rumor (Sette Letras), a começar pelo Carlito Azevedo, que é um excelente poeta.
• Literatura e internet são compatíveis; ou a tentativa de aproximá-las é apenas o casamento da lebre com a tartaruga?
Não sei se entendi a pergunta. Para mim, a internet serve antes de mais nada como um imenso arquivo de consulta. Desse ponto de vista, ela me facilita muito o trabalho. Pelo menos metade da pesquisa sobre o Buell Quain foi feita pela internet. Não gosto de ler textos literários no computador. Também não gosto de imprimi-los. Adoro os livros. Adoro entrar em livrarias, mesmo nos países em que não falo a língua, fazer descobertas, examinar as diferentes edições.
• Você tem uma produção muito intensa — são sete livros, em nove anos. Como é o seu método de trabalho; como é a elaboração dos romances e como chega aos temas escolhidos?
São livros curtos. Tem gente que escreve muito mais. Não tenho um método. Ou se tenho um hoje, amanhã ele pode mudar. Nunca tinha feito pesquisa para escrever ficção até o Nove noites, que foi precedido de uma espécie de investigação jornalística. Também não há regra para os temas. Eles me escolhem ou eu os escolho, não dá para saber. No caso do Nove noites, esse encontro com o tema faz parte da narrativa e é um dos pontos centrais, o enigma do romance.
• Você odeia as metáforas?
Devo ter dito isso mais de uma vez em entrevistas. Odeio os clichês, os lugares-comuns. As metáforas e as imagens são usadas a torto e a direito, repisadas por maus escritores que se esforçam para compor o seu beletrismo como se estivessem criando as obras mais originais. E de tanto ler essas coisas, muita gente acaba acreditando que é literatura. Acredito que a originalidade passa por uma construção inovadora da linguagem, por mais imperceptível que ela seja. Você pode fazer isso com metáforas ou sem metáforas. Depende do caso. Você pode criar novas imagens ou usar as de sempre da forma mais inusitada. As metáforas são aproximações mais ou menos bem-sucedidas do que não pode ser dito diretamente. Nesse sentido, a própria linguagem é uma metáfora. Eu tento evitar as metáforas desgastadas sempre que possível, criar uma linguagem aparentemente simples, discreta e direta, substantiva, embora por meio de uma sintaxe às vezes labiríntica, tento fazer o leitor ver o livro inteiro como uma grande metáfora que ainda não foi dita, que não se diz, que se revela ao final, no conjunto, por não ter sido expressa por metáforas.