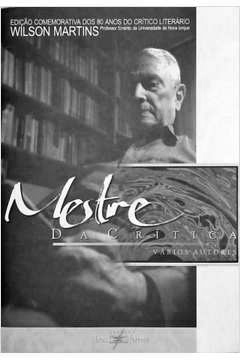zConversar com Wilson Martins, mesmo que por pouco tempo, em sua biblioteca, é uma experiência única para um aspirante a crítico literário. Ainda que hoje se discorde da maneira como Martins escreve suas críticas, soando para nós, os mais jovens, como um verdadeiro tratado acadêmico do que como uma apreciação popular da obra em questão, é inegável que este senhor, com seus 80 anos, tenha muito a nos ensinar.
A distância no tempo, contudo, não impede que tenhamos pontos-de-vista compartilhados. Wilson Martins é, por exemplo, um defensor do autodidatismo. Ora, num tempo em que o diploma, qualquer um que seja, é valorizado como atestando incontestável (sic) de inteligência, este não deixa de ser um posicionamento no mínimo interessante. A distância dos meios literários também é algo que Wilson defende, para evitar os joguinhos de ego. Além disso, vigoroso em seus 80 anos, Wilson Martins afirma categoricamente que é um defensor do caráter polêmico da crítica, desde que ela não descambe para futriquinhas pessoais.
Uma lição, em suma, é o que Wilson Martins tem a nos dar. Uma lição, por exemplo, de tolerância, na frase que titula esta entrevista. O que parece, à primeira vista, pedantismo, é antes de qualquer coisa uma afirmação da capacidade das pessoas de pensarem de modos diferentes. E se respeitarem ainda assim.
Seu único amargor nestes 80 anos talvez seja o terceiro plano a que foi relegada a crítica literária nos meios de comunicação. Depois de tantas reformas gráficas, os jornais, em sua maioria, privilegiam a imagem em detrimento da palavra, não sobrando para os textos críticos mais do que meia página de jornal. Sobre isso, aliás, Wilson Martins previu, erradamente, que a entrevista a seguir teria umas dez fotos e apenas dez linhas de texto. O que seria injusto, obviamente.
• O senhor defende o autodidatismo. Isso ainda é válido hoje? Tenho a impressão de que, para se tornar um crítico, hoje é necessário sobretudo diplomas.
Minha opinião sobre autodidatismo é meio escandalosa. O autodidatismo é o único método possível para aprender as coisas. Não acredito muito em cursos de literatura ou de crítica. Depende muito de vocação. A vocação impulsiona o interessado por ler e estudar. O autodidatismo é o processo com que o autor reage àquilo que o está interessando naquele momento. Posso estar assistindo a uma aula e o professor falando um monte de coisas que não estão me interessando. Não há nada que substitua o autodidatismo. Isto é um simples preconceito contra o autodidatismo e a favor dos cursos regulares. Agora, é evidente que os cursos regulares proporcionam uma maneira mais sistemática de estudar. Desde que há escritores há críticos, que jamais fizeram cursos. Aliás, os grandes escritores jamais fizeram cursos. Os cursos são coisa recente. Há até um fato curioso na minha vida: quando fiz um curso em Paris, tinha de apresentar um relatório ao Ministério do Exterior da França. Quando fui apresentá-lo, disse que tinha ido a Paris para estudar crítica literária, mas que não havia encontrado nenhum, por isso me contentara em fazer cursos avulsos sobre tais e tais matérias. O funcionário se interessou e me pediu que apresentasse um projeto para que fosse montada uma cadeira de crítica literária. Apresentei, mas o projeto foi naturalmente engavetado.
• O senhor acha que a criação dos cursos ajudou a afastar a crítica do público?
Sim, no sentido em que os professores se deixaram levar muito pelas promessas dos métodos ditos científicos, o que aliás ocasionou um prejuizo enorme porque desviou a atenção dos assuntos propriamente literários para os estudos de metodologia. Então os chamados críticos de universidade começaram a escrever sobre os métodos e não sobre as obras e os autores. E isso durante muitos anos foi uma praga não só aqui como em muitos países.
• O senhor acha que ainda é uma praga?
Não é mais. Porque houve um desgaste enorme neste sentido. Quando surgiu o primeiro método, este método gerou outros métodos. Então apareceram a crítica etimológica, estruturalista, etc. Cada método novo desmoralizava os anteriores. E todos eles em conjunto acabaram por desmoralizar a idéia de método.
• O senhor disse que o crítico tem de ficar fora das rodinhas literárias…
Para mim foi muito útil. E acho que é útil para qualquer um. Os críticos que vivem nos grandes círculos literários são necessariamente amigos de tais e tais escritores. É como nós quando somos estudantes. Somos amigos de uma curriola. Mas o crítico tem uma desvantagem em se aproximar muito do seu círculo de amigos, porque ele fica suscetível a simpatias e antipatias pessoais. E fica constrangido, por exemplo, em fazer uma crítica desfavorável a um rapaz que é seu amigo… Ao passo que quem mora longe tem certa neutralidade, por assim dizer. Eu não sou amigo de ninguém. Eu conheço meia dúzia de escritores, mas a minha resposta, neste caso é a do Azorín, grande crítico espanhol, quando lhe disseram que ele só elogiava os romancistas que eram seus amigos. Ao que ele respondeu: “Claro, eu só sou amigo dos bons romancistas”.
• O senhor escreveu que, quando era professor, sempre quis incutir nos alunos o espírito crítico e o amor pela literatura. O que o senhor pensa do ensino de literatura hoje em dia, principalmente no ensino básico?
Na verdade você não pode ensinar literatura, só história da literatura. E nesse percurso se faz a crítica do autor e da obra. Mas o papel do professor é despertar o interesse pela leitura, além daquilo que se está sendo estudado, discutido em aula. Eu nos meus cursos sempre procurei apresentar autores e obras com, um enfoque crítico, o que pressupõe do estudante um certo número de leituras extra-escolares. Um professor não deve ensinar coisas; deve ensinar o estudante a pensar; tem que instigá-los a pensar.
• O professor Joel Rufino, da UFRJ, fez uma crítica severa aos cursos de letras, dizendo que os alunos tem que ler mais, não importa o quê. Segundo ele, o curso de letras hoje é freqüentado pela “pequena burguesia”, gente iletrada que está atrás somente de um diploma…
Isto é um problema eterno. Você estuda os clássicos e deixa de lado os contemporâneos. O Sérgio Milliet disse uma vez para mim que o melhor curso de literatura era aquele que se estudava do presente para o passado. Primeiro os contemporênos, depois Machado de Assis, Eça de Queiroz… Mas também não deu certo, porque nos dois casos o estudante precisa ter um acervo de leitura, de forma que não tem saída. Não há método ideal. Aqui caímos de volta no autodidatismo. Não só professor tem de ser autodidata como os alunos têm de ser autodidatas, têm de suar a camisa. Quem não gosta de ler não deve estar em curso de literatura. O interessado que não gostar de ler tem de fazer outra coisa. Medicina, engenharia, arquitetura… Porque, com um pouco de exagero, a gente pode dizer que um curso de literatura exige do estudante dezoito horas de leitura por dia. E leitura meio desorganizada. O que cair na mão eu tenho que ler. Eu ainda sou assim. O que me cai na mão eu tenho que ler. Não me mostre nada escrito que eu começo a ler, desde rótulo de garrafa até bula de remédio. É um impulso. Porque a literatura funciona assim. Se alguém disse que saiu um livro novo você tem que sair correndo para lê-lo; mas se alguém falar em Dante ou Shakespeare você também tem que saber quem foram os caras.
• O crítico Miguel Sanches Neto está escrevendo um Cânone Brasileiro. O que o senhor acha destes compêndios, como O Cânone Universal, do Harold Bloom?
Esta palavra, cânone, entrou em moda. O próprio Harold Bloom a usou tarde demais. O livro dele é uma reação contra o movimento das minorias nas universidades americanas. As minorias – negros, mulheres e homossexuais – diziam que o cânone era formado por homens e de origem européia. A idéia era, então, introduzir as minorias no cânone. A idéia parecia boa, mas na verdade você não pode introduzir mais autores negros, mulheres ou homossexuais no cânone universal, porque não há número de horas-aula disponíveis para estudá-los. A solução, então, foi criar cânones específicos, minoritários, ou seja, um cânone que exclui brancos e europeus e homens. Um dos problemas sérios desta época era ser homem. Eu andava envergonhadíssimo [risos], querendo dizer “Me desculpe por ser homem”. Esta questão, na verdade, não tem nada de literária; é política, pelo controle dos departamentos nas universidades americanas. Cada vez que uma minoria começa a reivindicar sua situação de minoria, ela confirma justamente aquilo que era quer condenar, que é o gueto. Elas criam seu próprio gueto ao não aceitar nenhum branco, nenhum homem. O próprio cânone do Harold Bloom é o cânone anglo-americano, em outras palavras, é uma minoria da maioria.
• O senhor afirmou que já arriscou muito seu pescoço em outras épocas. Arrisca ainda? O senhor é capaz de comprar uma boa briga?
Eu não provoco, mas se for provocado… Eu nunca respondo a críticas desfavoráveis. Só respondo quando discordam do fato, uma data, um nome… Agora, opinião eu não discuto. Se o sujeito disser que o Wilson Martins é uma besta, paciência, eu não posso fazer nada. Eu acho que não sou, se ela acha que sou… Fica zero a zero. Arrisco meu pescoço em julgamentos pouco populares.
• O senhor acha que a crítica é perene ou se arrepende de alguma opinião que tenha dado?
Sempre que me fazem esta pergunta eu fico constrangido, porque minha resposta me faz parecer um sujeito presunçoso, que acha que está sempre certo, que nunca errou na vida. Mas eu acho que nunca erro, mas, como num dístico que vi certa vez na parede de um editor em Nova York, me falta papel para dizer isso. Na verdade, eu acho que não errei porque não há erros de crítica. Um crítico não erra nunca simplesmente porque não há opiniões erradas. Há opiniões. Você pode discordar ou concordar com elas. O erro de crítica é na verdade uma discordância. E o julgamento crítico final não se dá nem pela minha opinião nem pela de outro crítico. Através dos tempos, diversos críticos vão dando sua opinião, que formam um certo senso-comum crítico. Sagarana [de Guimarães Rosa], por exemplo, que recebeu um texto elogiando-o, de autoria de Álvaro Lins, e outro atacando-o, do Hélio Fernandes, com o passar do tempo, pela “média crítica”, foi sendo considerado um bom livro. O mesmo pode se dizer com relação a Paulo Coelho. A média crítica o considera apenas um fenômeno sociológico. T.S. Elliot costumava dizer: “Dizem que os críticos erram muito; mas os escritores também erram”.
• O Paulo Francis, que atacou o senhor quando o senhor escreveu algo desfavorável com relação a um romance dele, dizia que esta coisa de se tomar a opinião passionalmente se dava por conta de nossa herança católica, que não consegue ver as várias nuances da verdade…
O caso do Paulo Francis é curioso. Ele não gostou da crítica, mas logo depois disse que me admirava, que eu era o maior crítico do Brasil. É por isso que eu digo também que não faço crítica de autor; faço crítica de livros. Um homem pode escrever um bom romance hoje e um romance péssimo daqui a dois anos. Vou elogiar o livro hoje e faço uma crítica desfavorável daqui a dois anos. Não tem nada com ele, pessoalmente. Mas as pessoas lêem errado, acham que você meteu o pau no autor, quando você meteu o pau é no livro. Estas distinções é que eu gosto de fazer, mas não adianta nada. O leitor comum sempre interpreta com um pouco de hostilidade. É por isso que a cada artigo que escreve o crítico ganha quinze inimigos: o autor, a mulher do autor, os filhos do autor, os amigos do autor… É o meu caso, às vezes.
• O que o senhor pensa de coisas como Academia Paranaense de Letras, Academia Brasileira de Letras?
Eu sou de uma geração imediatamente posterior ao modernismo. Para a gente, falar em Academia Paranaense era uma coisa ridícula. A gente ria, se jogava no chão, rolava, etc. Eu pessoalmente não tenho nenhuma vocação acadêmica. Agora os jornais do Rio estão dizendo que meu nome ou do Antônio Cândido seriam uma boa escolha, melhor que o Paulo Coelho, melhor que a Gattai. Não tenho vocação acadêmica. Não faz parte do meu temperamento me reunir com uma porção de gente que… Aliás, dos 40 acadêmicos tem pelo menos 35 que eu não gostaria de freqüentar todas as semanas. Esse é o problema. Não sou amigo nem inimigo das academias. Acho que elas são um fato literário que existe. Mas eu nunca tive pretensões de entrar para a Academia Brasileira de Letras.
• A crítica literária hoje está relegada a segundo plano, a uma coluninha na revista, no máximo meia página de jornal. Existe luz no fim do túnel da crítica?
Acho que a perda de espaço da crítica é algo histórico. Antigamente os jornais tinham os chamados “rodapés da crítica”, que eram textos longos. Todo jornal tinha o responsável por esta parte. Hoje isso acabou. Estamos vivendo a era da imagem. A filosofia é menos texto e mais imagem. A crítica, tal qual ela era, já desapareceu. Hoje ela existe, mas com um espaço muito limitado. Eu escrevo 80 linhas, somente. Não dá para argumentar. Você diz que é bom, mas não diz por que realmente. Não dá para provar com citações, usar o texto do autor. Acho que num futuro próximo este tipo de crítica vai desaparecer. Não gosto de fazer profecias, mas acho que o que vai salvar a crítica, no que diz respeito ao espaço, é a internet.