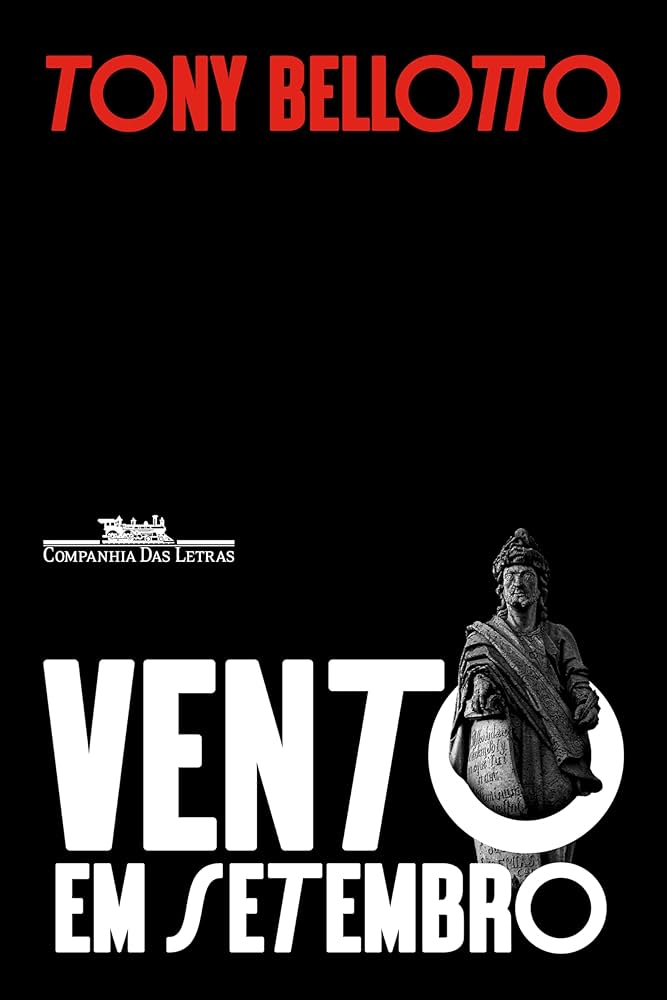Tony Bellotto busca esgarçar as fronteiras de sua literatura com Vento em setembro, romance recém-vencedor do Prêmio Jabuti. Ainda movido pelos ecos do gênero policial que marcou sua estreia, em 1995, com Bellini e a esfinge — “há sempre crimes, mortes e enigmas em meus livros”, admite nesta entrevista concedida por e-mail —, a narrativa aprofunda os mistérios privados e públicos da identidade brasileira. As cicatrizes da ditadura militar e a violência urbana perpassam a trama, conduzida em ritmo ágil e em linguagem que impulsiona o leitor a decifrar enigmas cujas respostas nem sempre existem.
Vento em setembro é também um romance pleno de referências — de Aleijadinho a Nietzsche, de Faulkner a Rita Lee —, um território narrativo onde o sagrado e o profano se tocam e se mesclam.
Na entrevista a seguir, Bellotto reflete sobre a própria travessia: o câncer recente, a relação entre música e prosa, a infância e a juventude em meio à ditadura e a violência estrutural que molda gerações de brasileiros. Aborda ainda o machismo, o fascismo tropical e as tentativas da extrema direita de reescrever a história. Reconhece que a literatura raramente cumpre papéis redentores, mas admite que certas fagulhas — um gesto, um afeto inesperado — ainda podem iluminar. Ao mesmo tempo, reafirma a ironia como ferramenta de sobrevivência e a convicção de que a arte, mais do que salvar, deve inquietar. E a literatura, sempre movida por dúvidas, talvez tenha na “inutilidade” sua maior virtude.
• Vento em setembro acaba de receber o Prêmio Jabuti na categoria romance. Como nasceu a narrativa — e em que medida você a considera um retrato simbólico do Brasil contemporâneo?
É difícil descobrir como nasce uma narrativa. Eu estava fazendo psicanálise (e ainda estou!) e, de certa forma, Vento em setembro nasceu mais como um mergulho na minha própria identidade do que como um panorama do país. Acho que este é um romance sobre a busca de identidade. O acontecimento inicial é uma orgia em que se celebra o desvirginamento de um adolescente, filho de um fazendeiro poderoso. Lembro que, na minha infância, morando no interior de São Paulo, ficava muito impressionado com esses rituais machistas. Era algo de que eu ouvia falar e que me intrigava. Nunca participei de um desses eventos, então essas imagens do passado surgem mais como uma revelação do que como uma descrição.
• A abertura do romance — uma orgia numa fazenda do interior paulista — é uma cena impactante. Ela funciona como espécie de metáfora de um Brasil fundado na exploração e no abuso?
Pois é, acho que acabei respondendo à segunda pergunta na minha primeira resposta! Acho que esse Brasil fundado na exploração acaba aparecendo no livro, sim, mas não foi essa a intenção racional. Eu queria, antes, falar de enigmas humanos anteriores, ancestrais.
• Parte da narrativa está situada nos anos 1970, em plena ditadura militar. De que modo essa atmosfera autoritária e repressiva contamina os personagens e o próprio ritmo do texto?
A ditadura militar foi um período horroroso para o Brasil. Eu vivi isso na minha infância e adolescência e percebia a grande ameaça que pairava no ar. Acho que Vento em setembro traz muito dessa atmosfera, sim. Sou filho de professores universitários e tinha uma visão realista de como aquele período era tenebroso e também ridículo. Acho que todos os personagens do livro estão afetados por essa ameaça silenciosa da ditadura.
• E falando em ditadura militar, qual é a sua opinião sobre os esforços da extrema direita para apagar os crimes desse período, numa tentativa de recontar a história a partir do ponto de vista dos carrascos?
Acho esse avanço da extrema direita absolutamente terrível! Tenho um medo danado desse fascismo tropical e dessas teorias da conspiração que tentam reescrever a história. Terra plana? O homem não foi à Lua? É sério isso? A galera pirou geral.
• O narrador Davi Zimmerman, intelectual paulistano, observa o passado de uma elite rural e militarizada. Poderíamos considerá-lo uma espécie de alter ego seu, alguém que tenta compreender o mal brasileiro a partir da arte e da reflexão?
Eu não considero o Davi um alter ego. Ele tem uma visão de mundo muito particular; é um sujeito isolado, solitário, trágico, paranoico e um pouco ingênuo. Mas é claro que a matéria-prima de todos os personagens que um escritor cria vem de seu próprio DNA. Então, o Davi, de vez em quando, tem de usar palavras minhas para se expressar. Acho que ele está mais preocupado em resolver seus próprios problemas do que em refletir sobre a situação brasileira. Mas, se você lê a nota do autor, no final do livro, percebe que nem mesmo o autor é capaz de prever todos os atos do personagem…
• “Deus está morto”, lê-se logo nas primeiras páginas de Vento em setembro. Por que começar um romance com Nietzsche? O que esta sentença representa para você?
Aí, sim, temos, talvez, uma reflexão minha sobre o Brasil. Pichar uma igreja colonial com a frase de Nietzsche foi um grande prazer para mim. Uma atitude punk, digamos assim, para manter em alta minha reputação de guitarrista de rock e ateu. Busquei exatamente isso: criar uma cena chocante — uma igreja de Ouro Preto pichada com os dizeres de Nietzsche —, pois, além do leitor, aquela pichação precisava chamar a atenção do Davi.
• Há no livro um cruzamento entre o sagrado e o profano, o erudito e o vulgar — Aleijadinho, Nietzsche, Osman Lins, Rita Lee, orgias e chacinas. Essa mistura reflete o Brasil real, onde o grotesco e o sublime se confundem?
Acho que a mistura dessas referências reflete o Brasil, mas também a cabeça de alguém que se sente bem informado e relativamente culto. Existe uma grande desilusão naqueles, como eu, que se encantaram com o humanismo ateu surgido em meados do século 20. Vivemos uma implosão filosófica.
• Aleijadinho é figura simbólica dentro da trama. Por que esse artista barroco, marcado pela dor e pela deformidade, atravessa a estrutura do romance?
A aparição do Aleijadinho na trama foi meio transcendental. Eu queria encontrar um tema para o livro do Davi. Imaginei que ele gostaria de criar uma biografia fictícia sobre um artista brasileiro que fosse conhecido, mas misterioso. Poderia ser, por exemplo, o Sousândrade. Mas eu precisava de alguém que trouxesse o tema da religião, e eu já tinha pichado uma igreja em Ouro Preto! Fiquei impressionado com o fato de haver tão pouco material sobre a vida do Aleijadinho. Ele é uma figura popular e muito brasileira, a começar por esse apelido absurdamente inaceitável nos dias de hoje. Aleijadinho é popular, mas desconhecido. A figura do Aleijadinho propõe um enigma — e era isso o que eu estava procurando. Vento em setembro é cheio de enigmas, e só alguns são decifrados.
• Em Vento em setembro, a música aparece como pulsação vital do texto — de Led Zeppelin a Rita Lee, dos Titãs ao rock setentista. Como a musicalidade da sua trajetória interfere na forma de narrar?
É inevitável que eu recorra à música nos meus textos. As referências musicais dos personagens me ajudam a entendê-los melhor. Muitas vezes, imagino as cenas que estou escrevendo com música ao fundo. A personagem Laura é fã de Rita Lee e escuta Fruto proibido. Isso é muito revelador de quem é essa personagem para mim. Mas não consigo ouvir música enquanto escrevo. Me atrapalha.
• Você considera que escrever seja algo que se aproxima de tocar guitarra — explorando ritmo, pausas, dissonâncias?
Não. São formas muito diferentes. O ritmo da prosa não tem nada a ver com o ritmo da música. Ler e escrever, para mim, têm mais a ver com o silêncio do que com a música. O som da prosa é mudo, como o som do fundo do mar — algo por aí.
• O desaparecimento do jovem Alexandre, após a orgia organizada pelo pai, é o eixo trágico de Vento em setembro. Que sentido simbólico tem essa perda? É também uma alegoria de um país que perde a inocência?
Eu realmente não penso em alegorias quando escrevo minhas histórias. Acho que o sentido simbólico do desaparecimento é o de um filho que desobedece ao pai.
• O romance retrata o machismo, a violência e a perversão como estruturas de poder. A literatura ainda é capaz de desestabilizar essas formas de dominação?
É difícil mensurar o poder da literatura. Penso que ela atua sempre na percepção individual de quem lê. Nesse sentido, é capaz de desestabilizar formas de dominação. Mas não acredito que a literatura tenha uma grande função social, capaz de abalar estruturas de poder. A inutilidade da literatura talvez seja sua maior virtude.
• Apesar da violência da trama, há lampejos de humor e ironia. O sarcasmo é também uma forma de resistência — ou de sobrevivência — diante do horror?
Sim! A ironia é uma ferramenta muito preciosa — e uma arma letal. Mas precisa, para funcionar, que o leitor seja cúmplice do escritor. É muito difícil escrever com ironia. Exige uma técnica refinada. Eu admiro os escritores que conseguem fazê-lo e tento aprender com eles.
• Vento em setembro parece dialogar com grandes romances sobre decadência e culpa — de Faulkner a Nelson Rodrigues. Quais autores o acompanharam durante o processo de escrita?
É complicado falar sobre os autores que me influenciam num determinado livro, pois sempre são tantos e tão díspares que fica difícil perceber onde cada um aparece. O título do livro — que teve dezenas de versões e foi enviado para a editora com outro nome — foi inspirado em Luz em agosto, do Faulkner. Há, na relação do pai fazendeiro com os filhos, uma referência inevitável a Os irmãos Karamázov, do Dostoievski, mas também a A casa dourada, do Salman Rushdie. Mas procuro não pensar muito em outros livros quando escrevo o meu.
• E quais autores compõem a sua biblioteca afetiva? Aqueles aos quais você está sempre regressando.
São muitos! E vão variando com o tempo, mas Tolstói está sempre presente, assim como Rubem Fonseca, John Fante, Roberto Bolaño e Ernest Hemingway.
• Você vive no Rio de Janeiro, cidade que acaba de registrar mais de cem mortos em uma operação policial na Penha e no Alemão. Como morador e cidadão, o que sente diante dessa banalização da violência estatal?
Eu fico triste, revoltado e descrente. Pior que a chacina em si, é o apoio que ela tem de grande parte da população.
• A brutalidade policial e a desigualdade social aparecem de forma constante em sua obra. Você encara a literatura como um espaço possível de denúncia — ou prefere pensar que ela deve apenas revelar, sem se posicionar?
Não acredito na literatura como propaganda ou denúncia do que quer que seja. 1984, do Orwell, pode ser lido como um alerta aos regimes totalitários, mas a grandeza do livro está na técnica literária do autor. Antes de ser um libelo contra o totalitarismo, 1984 é grande literatura. A literatura só não pode ser chata, me disse uma vez o Rubem Fonseca. E tem de ser perigosa.
• Em Vento em setembro, há momentos em que a narrativa parece tocar a confissão, como se o escritor falasse de si sob disfarce. Você se reconhece em alguma das dores ou culpas de seus personagens?
Me reconheço sim. Escritores sempre podem usar a frase do Flaubert pra se justificar: “Madame Bovary c’est moi!”.
• Você construiu duas carreiras bem sucedidas — a de músico e a de escritor. Essas linguagens se alimentam mutuamente? Há algo que a literatura lhe permita dizer que a música não alcança?
Música e literatura são complementares na minha vida. A música é o som, a fúria, algo que faço coletivamente. A literatura é o silêncio, a solidão e uma satisfação plácida. E há uma diferença importante: a canção se faz palavra por palavra; a prosa, sentença por sentença.
• Em Vento em setembro, tudo parece ruir — a família, a religião, o país. Ainda assim, há no fundo uma centelha de ternura, uma busca de sentido. A arte pode oferecer alguma forma de salvação?
Mais uma vez, eu questiono as funções enaltecedoras da arte. A arte pode oferecer tanto salvação quanto destruição. A ideia de salvação me remete à religião, assim como a palavra “fé”. A arte oferece revolução, emoção, confusão, interrogação. Mas admito que, no final de Vento em setembro, uma fagulha de amor parece oferecer um alívio.
• O seu início na literatura foi com as bem-sucedidas tramas do detetive Remo Bellini. Mas aos poucos, sua obra enveredou para voos mais amplos, com romances mais ambiciosos. A que se deve esta mudança? O gênero policial se mostrou limitado para suas inquietações como escritor?
Desde o início da carreira, tomei o cuidado de não ficar refém de um personagem. Gosto muito do Bellini — e ele, sim, eu chamo de alter ego —, mas queria ficar livre para escrever sobre o que eu quisesse. Georges Simenon foi uma inspiração nesse sentido. Ele tem o inspetor Maigret, que é um personagem fabuloso, mas se deu o direito de escrever sobre outros personagens e situações também. Patricia Highsmith, igualmente. Ela não ficou refém do genial Tom Ripley: escreveu muitos livros variados e com personagens diferentes. Mas continuo fã do gênero policial e acho que nunca deixei de ser um autor policial, num sentido mais amplo. Há sempre crimes, mortes e enigmas em meus livros.
• Recentemente, Chico, Caetano e Gil participaram de uma grande manifestação contra a PEC da Blindagem e a anistia a condenados por atos golpistas. Você considera fundamental a participação dos artistas na vida política do país?
Acho importante a participação dos artistas na política, e gosto de participar. Mas não critico nem recrimino quem não o faça. A única obrigação de um artista, acredito, é com sua própria arte.
• Você enfrentou recentemente um câncer de pâncreas. Como a doença impactou na sua visão sobre a vida e o tempo?
O impacto de um câncer é muito grande — ainda mais de um câncer de pâncreas. Lembro de ter escrito em meu diário, no dia em que descobri a doença: “Nada mais será como antes”. E não é mesmo. A percepção de finitude se torna real e sua relação com o mundo muda totalmente. Mas há algumas percepções e descobertas interessantes também. Jane Fonda declarou que “o câncer é um professor”. Concordo com ela.