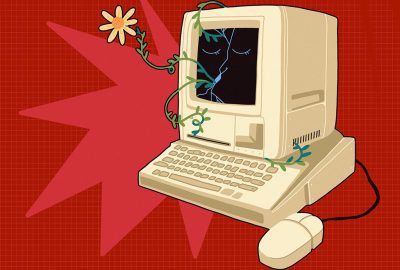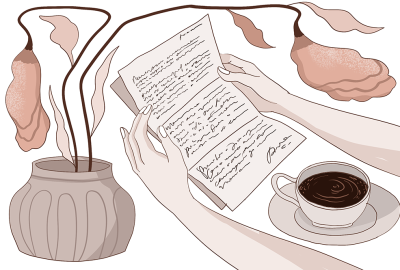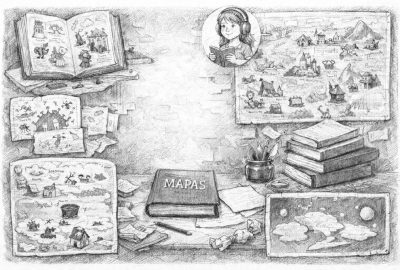Simone Campos tomou uma decisão corajosa: vasculhou o passado para construir Mulher de pouca fé, um romance de formação dos anos 1990 (amparado na ficção e na memória) que adentra as entranhas das igrejas neopentecostais — a ficcional Arca incorpora um mundo em que o dinheiro e os interesses políticos e de poder sobressaem à fé — para dilatar a consciência dos leitores em torno de assuntos, entre outros, como a exploração da crença, o machismo e o preconceito contra homossexuais. “É um tema que requeria maturidade, tanto literária quanto pessoal, e muito tato. Também tive que ter coragem para decidir tocar nesse tema tão polêmico, até explosivo”, diz a autora nesta entrevista concedida por e-mail.
No centro da narrativa está também o impacto do diagnóstico de ser autista, mesmo que em um grau leve: “Primeiramente, eu tive que me entender autista, o que significa isso, e me aceitar”.
Para além das questões centrais do romance — Simone Campos frequentou durante dez anos, no Rio de Janeiro, uma igreja neopentecostal —, a autora fala sobre o imenso impacto das tecnologias na vida cotidiana e como a literatura se transformou num espaço de proteção contra as pressões, violências e abusos do mundo digital. “É meu remédio para a falsa comunhão das redes sociais, da tela, do computador. Ler literatura sossega a mente e alimenta a imaginação.”
• Mulher de pouca fé está centrado na sua experiência religiosa de dez anos — dos 7 aos 17 anos — numa igreja neopentecostal. Após a publicação de sete livros, por que só agora você decidiu abordar este assunto, tão fundamental na sua vida?
É um tema que requeria maturidade, tanto literária quanto pessoal, e muito tato. Também tive que ter coragem para decidir tocar nesse tema tão polêmico, até explosivo. Ter descoberto estar no espectro autista — e ter feito psicoterapia voltada para minhas necessidades no espectro — também foi um fator para essa decisão. Além disso, na época em que escrevi, eu morava no exterior, durante a pandemia. Tudo isso contribuiu para revisitar essa época.
• Entremeando autoficção e ficção, você escancara o subterrâneo da Arca, que facilmente os leitores podem identificar como sendo a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo. Por que você optou por não citar a instituição e seu fundador?
Tratar de fé em geral, mesmo que de forma ficcional e crítica, é um tema espinhoso e polêmico, e não quero atrair a ira e os processos de qualquer denominação religiosa que se sinta identificada. Além disso, muitas igrejas têm pontos em comum com a Arca, retratada no livro; não acho justo citar apenas uma. Meu objetivo é que os leitores reflitam acompanhando esse romance de formação anos 1990.
• A narradora relata a imensa pressão da igreja sobre os fiéis para o pagamento do dízimo — uma maneira de fortalecer e levar a palavra de Deus a mais pessoas. Neste caso específico as finanças estavam acima da fé? Uma igreja nestes moldes é muito mais um negócio do que uma instituição voltada à fé e a Deus?
Para escrever essas cenas, me inspirei no sentimento que tive, adolescente, na igreja, ao constatar o aumento da frequência dos pedidos de oferta e os apelos insistentes a doar muito mais que a condição do fiel permitia. Me parecia antiético. Mas eu fui ensinada que estava num lugar coberto de ética; por que aquilo me parecia tão errado? Será que o diabo estava me tentando? Essa dissonância cognitiva entre o que te ensinam em teoria e o que você vê na prática é muito premente para mim — mais do que fechar questão sobre o que é ou não é. Para mim, isso é literatura — esse deixar espaço para o outro criar em cima da sua criação, sem chamar de “heresia”. É o que falta, por exemplo, em muitas instituições religiosas (e outras).
• Mulher de pouca fé apresenta uma sucessão de episódios de bullying na escola e de como o autismo não diagnosticado dificultava as interações sociais. Em determinado momento, lê-se “Se eu não fosse exatamente como sou, não teria me tornado evangélica. Nem escritora”. O que você define como fundamental para que se tornasse evangélica e escritora?
Há um entendimento (neuro)divergente do mundo que, na minha literatura, se traduz em usos diferenciados da linguagem e experimentação, se aproximando do conceito de “estranhamento” da teoria literária. Ser autista é ter esse “estranhamento” à vida cotidiana direto no seu cérebro; o mundo inteiro é estranho e te estranha, e a sensação não passa. Eu lembro até de como foi adquirir a linguagem, falada e escrita, para me comunicar com os outros seres humanos, e que isso não dava conta! Isso é a fronteira essencial onde a escritora procura trabalhar. Também tenho hiperlexia (leitura rápida e em nível muito avançado para a idade) e muita imaginação; eu lia muito, com prazer, e viajava nesses mundos. Sobre a religião, há o apreço às regras, desde que bem explicadas — outra das características mais famosas do autismo. O autismo também entra como questionamento do preconcebido e pelo senso de justiça muito forte. Claro, depois de um tempo, comecei a questionar a igreja onde eu era fiel, e ela não admitia essa interrogação…
• No romance, um pastor listou o “espírito do intelectualismo” com um dos mais ferozes inimigos dos cristãos. Isso abalou a narradora, pois era alguém “praticamente mandando eu parar de pensar demais, de questionar tudo. Afinal, era tudo o que eu fazia na vida”. Parafraseando Susan Sontag, pensar e questionar te fazem se sentir viva, dão um sentido à sua vida?
Para mim não é como se fosse um hobby, mas também não é exatamente uma necessidade. É minha natureza. Talvez de fato isso dê sentido à minha vida, um (hiper)foco, um propósito, como se fala. Pode ter a ver com autismo…
• Da relação familiar, a narradora afirma “como deve ter sido difícil para os meus pais me aguentar”. E completa: “Por mais que eu tente ter carinho pelo meu eu do passado, nessas horas é difícil”. Quais são seus grandes arrependimentos desta época específica? E o que gostaria que tivesse sido diferente?
Ao contrário do estereótipo, autistas podem sentir muita empatia. No meu caso, o “se colocar no lugar do outro” é muito impactante e gera questionamentos como alguém que vê uma situação de fora de si mesmo: “deve ter sido difícil ser pai, mãe ou avó dessa criança…”. Na minha opinião, ter essa capacidade me permite gerar personagens mais complexos. E não chamaria de “arrependimento”; acho que ter sido “difícil” me levou ao lugar onde estou hoje, em que sou bem mais feliz e em paz comigo mesma. Mas, primeiramente, eu tive que me entender autista, o que significa isso, e me aceitar.
• Na adolescência — fase das mais conturbadas para qualquer pessoa —, a narradora afirma que “a literatura foi uma das luzes que vi no fim do túnel”. Esta assertiva ainda vale para a sua vida aos 42 anos? A literatura continua sendo esta luz possível para a jornada cotidiana?
Mais do que nunca! É meu remédio para a falsa comunhão das redes sociais, da tela, do computador. Ler literatura sossega a mente e alimenta a imaginação. Tenho lido muita ficção científica e literatura pré-século 20, especialmente russa, por prazer. Gosto de romances ficcionais inspirados em fatos, como o MANIAC (Benjamin Labatut). Passei muito tempo lendo teoria literária no mestrado e doutorado em Letras; agora estou voltando para o ler por prazer.
• Você estreou na literatura aos 17 anos, com o romance No shopping, que recebeu ótima acolhida da crítica e dos leitores. Como você avalia a sua trajetória desde então? A sua carreira como escritora está sendo como imaginava?
Posso dizer o seguinte. Não sou uma mulher domesticada. E isso assusta as pessoas. Estreei em 2000, 25 anos atrás. Eu não tinha prazer em me autopromover e não entendia que precisava fazer política para ganhar prêmios e entrar em eventos — era novamente ele, o autismo. Sou terrível em lembrar nomes, rostos e cargos. Tenho sete livros publicados, um mais diferentão que o outro. Não sigo uma fórmula. É difícil me vender — sei porque sou formada em produção editorial, trabalhei em editoras. Perdi a paciência com a consagração. Eu continuo porque gosto de compartilhar histórias com os leitores, histórias que não vejo por aí. Eu era tradutora, mas a profissão deixou de ser sustentável financeiramente. Aos 40 anos, decidi fazer concurso, e entrei para a tradição brasileira de escritora funcionária pública. Assim, consigo escrever com mais tranquilidade.
• A biblioteca de seu avô materno teve grande importância na sua formação. Você consegue vislumbrar como surgiu o seu interesse pela literatura, quando decidiu ser escritora?
Sou hiperléxica, o que pode estar ligado ao autismo, mas também à minha superdotação. Desde uns 7 anos de idade eu lia jornais inteiros de cabo a rabo, muito rápido. Eu gostava de jornalismo (e me formei nisso mais tarde), mas logo identifiquei que ler (e reler) ficção era muito mais gostoso. Com minha imaginação atiçada por livros, logo senti vontade de criar meus próprios mundos, minhas narrativas e versões de fatos.

• Sobre o diário da adolescência, a narradora tinha a permanente dúvida de “por que e como escrever, e de que modo? E mais tarde: o que é autoexpressão e por que ela importa”. Estas preocupações ainda guiam o seu trabalho como escritora? O que mudou na sua maneira de encarar a literatura desde sua estreia?
Na estreia, com 17 aninhos, eu encarava a carreira literária como um sacerdócio, uma passagem para ser respeitada intelectualmente e poder um dia, quem sabe, até ter permissão para brincar na literatura. Por eu ser jovem e mulher, nada disso aconteceu, antes o contrário. Então fui sem permissão mesmo. Continuei escrevendo e vivendo, mesmo com muitas coisas indo contra. Brinquei, lançando livros como o OWNED – Um novo jogador, de 2011 (um livro-jogo que é uma paródia a machismos no meio nerd e gamer). Nesse meio tempo, perdi a paciência com a consagração e me reconectei com os verdadeiros motivos de eu amar ler e escrever, meu fascínio com a linguagem, com o “estranhamento” do mundo.
• As questões de gênero — em especial a LGBTfobia — e raciais há alguns anos estão no centro da literatura brasileira contemporânea. Diversos autores/as encaram de frente estes temas com importantes narrativas. Como você avalia este movimento?
O leitor ganha com a diversidade de autores, histórias, linguagens. Eu, por exemplo, não aguentava mais ler livros em que todos os personagens que destoavam do autor-padrão soavam mal construídos. Todo mundo que não é um homem branco hetero cis neurotípico de classe média sempre escreveu, mas não recebia a mesma chance de publicar e promover seus livros. Ouvíamos que não tínhamos “cara de escritor”. Víamos narrativas medíocres do citado grupo-padrão ganharem enorme projeção, prêmios, primeiras páginas, e eles fazerem mesas apenas uns com os outros em eventos (em que a curadoria era… deles). Então, os autores não homens, não brancos, LGBTQIA+ e neuroatípicos tiveram que lutar, publicar manifestos, boicotar, até o mercado editorial acordar para a vida. Não que esteja perfeito ou repare tantas oportunidades literárias perdidas. Mas está melhor agora.
• E de que maneira Mulher de pouca fé contribui para uma reflexão em torno de temas como o machismo e a psicofobia, levando em conta o autismo da narradora?
Acho que muitos não sabem como é o autismo, ainda mais em mulheres. As pessoas não sabem que a gente passa por “normal” mas por dentro estamos em crise devido às luzes ou ao som do ambiente perfeitamente aceitáveis para os neurotípicos. Que uma interação social ou uma surpresa (boa ou ruim) pode nos custar horas ou até dias de recuperação. E que muita gente percebe nossa diferença, mas a nega quando pedimos adaptações ou direitos. Fora aqueles que usam nossa fama de quietinhos para tirar vantagem de nós, até sexualmente.
• O censo do IBGE mostrou recentemente que, entre 2010 e 2022, o número de católicos caiu em mais de 5 milhões. Mesmo em processo de desaceleração, a população evangélica cresceu em mais de 12 milhões. Hoje, o Brasil tem cerca de 100 milhões de católicos e 47 milhões de evangélicos. Na sua opinião, por que as igrejas evangélicas angariam cada vez mais fiéis brasileiros?
Nesse censo, o crescimento evangélico desacelerou pela primeira vez desde 1960. Pesquisas explicam que parte dessa desaceleração se deve à frustração dos fiéis com uso de igrejas para campanhas. E os fiéis de religiões de matriz africana triplicaram — em parte porque se declararam pela primeira vez, já que a discriminação contra eles era enorme. O Brasil está religiosamente mais diverso. Acho que os filhos da geração que foi às igrejas por vontade própria — mas eles mesmos iam no embalo ou obrigados — estão crescendo e questionando os preceitos, assim como eu questionei. E que muita gente saiu pois se desiludiu com denominações que distorcem a teologia em nome de política ou ganhos financeiros. Mas se dizem “sem religião” e não “agnósticos” ou “ateus”, até por influência do estigma antiateu que é reforçado em certas igrejas.
• Após dez anos numa igreja neopentecostal, você hoje é agnóstica. Qual é o impacto na sua vida da perda da fé? É mais fácil ser agnóstica?
Perda da fé? “Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra” (Palavra de Joelma). Não é mais fácil ser agnóstica, não. É navegar pelo mundo construindo as suas rotas éticas, e reconstruindo-as à medida que experimenta e amadurece. É verbalizar isso para as pessoas e ter que convencer algumas delas de que você não é péssima pessoa ou está ali para “convertê-las” à sua não-religião. Às vezes me apresento como cética, o que parece ser mais aceitável e suscita discussões mais interessantes. O agnóstico está em tese esperando uma prova, seja de que Deus existe ou não existe; a gente constrói toda uma vida no espaço de que essa prova dificilmente virá.
• A política também está presente em Mulher de pouca fé, em especial em torno de um projeto de poder bastante definido — e hoje, vemos um crescente número de políticos evangélicos em todas as esferas. Esta política comezinha, dos jogos de poder entre políticos e partidos, é um assunto importante no seu dia a dia? E como você avalia o impacto da extrema direita no Brasil?
O impacto da extrema direita no Brasil é extremamente negativo, e anda de mãos dadas com a dominação tecnocultural que estamos vivendo. Os bilionários tech orientam suas tecnologias para dominar a mente e fazer dinheiro, e mandar nosso bem-estar (social e individual) pelo ralo. Seus algoritmos e IAs favorecem as ideias da extrema direita. Na minha tese de doutorado em Letras, de teoria da literatura a respeito de jogos eletrônicos e a comunicação icônica nos meios eletrônicos, dediquei um capítulo inteiro a isso. Hoje é preciso muita sociologia, mas também lógica, matemática e computação para entender como a política (e os negócios) têm funcionado. Aprendi a programar e estou cursando uma graduação em Sistemas de Informação para poder entender melhor esse fenômeno — além de possivelmente escrever ficção a respeito. Pode ter a ver com autismo… Recomendo as memórias Abolir o Vale do Silício, de Wendy Liu, uma programadora que já teve sua própria startup; e o livro-reportagem A morte da verdade, de Michiko Kakutani, sobre o ecossistema das fake news. Sobre a política comezinha dos candidatos e partidos, me envolvi com ela na igreja e nunca mais. Mas sempre descubro candidatos com boas plataformas para divulgar para as pessoas, e sempre voto. Sigo o que fazem nas Câmaras porque continuo lendo (e às vezes vendo) muita notícia. Mas tenho pensado mais em estruturas maiores no momento.
• Você está no mercado editorial desde 2000, quando estreou com o romance No shopping. Como você avalia a sua geração de escritores? O que mais te chama a atenção na produção atual da literatura brasileira?
Sinto, na minha geração, que faltou olhar mais para a produção das mulheres e demais minorias, como falei. Cada vez mais sabemos que isso não é uma coincidência. Gosto muito de produções que lidam com temas mais atuais, prementes, não esperam a chapa esfriar para mexer com ela. Esquema, de Jessé Andarilho, é uma aquisição recente que comprei e estou começando a ler. É sobre um motorista de van carioca que vira candidato político. Gostei de Uma família feliz, livro pop do Raphael Montes que usa o bebê reborn como metáfora dos horrores da maternidade real. Os dois autores são meus amigos.
• A ansiedade é uma das principais marcas dos jovens de hoje — muitas vezes reféns das redes sociais e pressionados por uma necessidade de aceitação social. Como você lida com as redes sociais, levando em conta a necessidade de divulgar o seu trabalho como escritora?
Eu tenho conta e me obrigo a postar nelas quando preciso — por exemplo, agora estou postando muito, pois estou lançando livro. Sou meio imune à atração das redes sociais, aquela navegação a esmo sem fim. Pode ter a ver com autismo… Quando me sinto nervosa e ansiosa com o celular ou telas, sempre escapo para um bom livro que está encostado esperando. Me faz um bem enorme.
• Neste momento, o mundo passa por conflitos extremamente preocupantes, como por exemplo a crise entre Israel e Irã e a guerra entre Rússia e Ucrânia, sem contar os conflitos e guerras na África e na Ásia. Nos Estados Unidos, cujas decisões, em geral, afetam o restante do mundo, há uma verdadeira caça aos imigrantes. Diante de tantas instabilidades, o que mais te assusta no mundo atual?
A vontade das big techs de dominarem todo o nosso tempo e vontades, inclusive e especialmente as políticas. Já está a ponto de bilionários fazerem saudações nazistas na Casa Branca. Como falei, big tech e política estão intimamente interligados. Morei nos Estados Unidos durante quatro anos, de 2018 a 2022, justamente no Vale do Silício. É terrivelmente diferente da propaganda, dos seriados de TV. O que vi lá me aterrorizou em vários sentidos, aquela ideologia do techbro, mulheres e minorias sofrendo abusos, cidades gourmetizadas com aluguel caríssimo e favelas de tendas embaixo das pontes, nenhum sistema de saúde pública ou direito trabalhista. Grávidas têm algo como duas semanas de licença; uma amiga brasileira teve filho e o leite secou pelo estresse, e a fórmula infantil estava em falta — mas você podia obter por preços altíssimos no mercado paralelo. E tudo normalizado, o povo obediente e consumista; o prenúncio do que viria. Fui morar lá acompanhando meu ex-marido, fiquei aterrorizada; me separei e voltei para o Brasil.