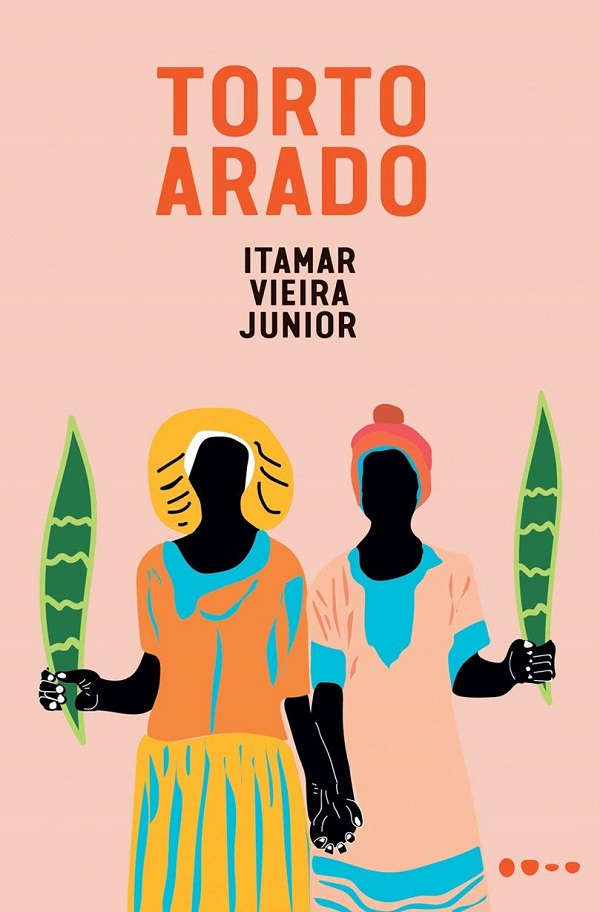Itamar Vieira Junior é um jovem prosador nascido na Bahia, em 1979. Doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, começou na literatura publicando narrativas breves, com os livros Dias (2012) e A oração do carrasco (2017), mas conquistou efetiva visibilidade com seu primeiro romance, Torto arado (2019).
Ganhador do Prêmio LeYa de Literatura, o livro foi publicado primeiramente em Portugal, em 2018, e no Brasil, no ano seguinte, pela Todavia, com ótima acolhida de público e crítica, além de direitos autorais reservados para o cinema. Há quem já o catalogue como um clássico contemporâneo. O diagnóstico parece justificado: trata-se de uma narrativa que tece de forma categórica sobre parte de um país eclipsado pela metrópole e, sobretudo, pelas elites brasileiras.
Em Torto arado, a invisibilização de grupos minoritários, neste caso, de pequenos agricultores rurais negros, ganha voz e forma, ainda que à deriva em um mundo de abandono e servidão. As irmãs Bibiana e Belonísia, junto de todo o elenco de personagens que orquestra a coluna do romance, lutam para sobreviver numa realidade sem grandes opções, vinculada diretamente à herança escravocrata e ao negligenciamento histórico de políticas públicas voltadas à efetiva cidadania brasileira de homens e mulheres negros. A partir dessa poderosa epopeia polifônica, fica claro que há muito o que se aprender e falar sobre a terra dos oprimidos.
Nesta entrevista ao Rascunho, Itamar Vieira Junior fala sobre os procedimentos estéticos tratados na engenharia de Torto arado, o interesse pelo Brasil interiorano, o atual panorama político, a representatividade negra em um território nacional manchado pela desigualdade e a consciência do fazer literário.
• Torto arado fala sobre uma realidade, inserida no interior do Brasil, que retrata de forma muito contundente problemas basilares que ainda enfrentamos relacionados à herança do patriarcado, a subserviência negra e a mácula histórica de séculos de escravidão. Como foi pensar na concepção das personagens e do enredo deste romance?
A história de Torto arado é antiga. Eu estava marcado pela leitura dos ditos “romances regionalistas” — embora discorde do rótulo porque o adjetivo regionalista é uma afirmação de que eram narrativas fora do “centro”, sendo que o “centro” será sempre o lugar de onde escrevemos —, e na adolescência escrevi as primeiras 80 páginas do romance numa máquina de escrever Olivetti Lettera 82. Mas eu não tinha maturidade nem conhecimento para continuar com a narrativa e as páginas se perderam. Anos depois, fui trabalhar com o campesinato: trabalhadores rurais acampados, indígenas e quilombolas, e descobri uma vida que imaginava ultrapassada, já que vivia na cidade grande. Embora meu pai e meus avôs paternos tenham sua origem no campo, eu havia crescido no meio urbano e pouco sabia sobre agricultura e a relação do homem com a terra. Fiquei profundamente tocado com as desigualdades e as condições de vida dos camponeses, principalmente com as narrativas de violência. O campo brasileiro é uma região de imenso conflito, é palco de uma eterna batalha entre o capital e o trabalho, mas o conceito de trabalho a que me refiro é o trabalho como pilar da condição humana, como escreve Hannah Arendt. Há morte, há violência. Foi doloroso descobrir que descendentes de homens e mulheres negros que foram escravizados viviam numa situação de vulnerabilidade extrema, sem direito à terra, sem direito à moradia digna. Tudo aquilo cresceu em mim como um grande incômodo. Fui pesquisar, cursei um doutorado, escrevi uma tese, mas a literatura pulsava. Aquela história precisava ser narrada para que outros pudessem-na ler e submergir na pele daquele povo para entender o país, a si e a nossa própria história. Eu retomei aquele projeto antigo e o romance simplesmente veio. São vidas ficcionais atravessadas pelas vidas das populações que encontrei ao longo de mais de uma década de trabalho com o campo.
“O Brasil nunca foi um lugar tranquilo para se viver.”
• Você pretendia trabalhar com três vozes narrativas ou foi algo que surgiu durante o processo da escrita? Quais as dificuldades de narrar a história de forma polifônica?
Não, eu não tinha em mente. Desde o início da história escrita lá nas primeiras páginas datilografadas na máquina de escrever, a narrativa girava em torno das duas irmãs, da relação com o pai e da vida na terra, mas era uma história contada por um narrador distante, em terceira pessoa. Quando retomei a escrita, quase duas décadas depois, a história passou a ser narrada por uma das irmãs, a Belonísia. A partir de determinado trecho eu percebi que havia uma história que a antecedia e precisava ser contada, mas a perspectiva só poderia ser da outra irmã, a Bibiana. Foi quando o romance começou. À determinada altura, quando elas já haviam me guiado pelos caminhos de Água Negra, senti que a história não poderia ser mais contada pelas personagens. Foi quando a terceira narradora chegou, e tomou para si a “pena” da escrita. Ela se impôs porque é uma personagem onisciente, sem começo nem fim, e que atravessou a dolorosa história do povo brasileiro, desde o sequestro no continente africano, passando pela violenta experiência da escravidão, até as sequelas que carregamos em nossos corpos e mentes nos dias de hoje. Ela era a consciência da História, que nos guia por veredas e labirintos para entender que muitas vezes não é possível uma conciliação.
• Antes de Torto arado, você publicou os contos de A oração do carrasco, que também abordam questões étnico-culturais brasileiras. É um interesse essencial falar sobre esses temas em sua literatura? Você acredita no poder de redenção que o livro pode causar na vida do leitor?
Cada escritor encontrará a sua motivação para escrever, fazer o registro do seu tempo e de alguma maneira compreender a sua história, mesmo que de forma alegórica. Quando eu lia a nossa literatura contemporânea, encontrava muito boas histórias, mas não encontrava a diversidade étnica e cultural de nosso país. Parece que durante a primeira metade do século 20 a literatura brasileira era muito mais diversa. Essa falta de referências sobre a experiência negra, com algumas exceções, ou mesmo indígena, ou ainda do homem pobre, me incomodava. E passei a imaginar e querer escrever os livros que eu não encontrava. Muitos percorreram esse caminho: Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Nei Lopes, Ana Maria Gonçalves. Mas é preciso mais, somos 55% da população do país e queremos representatividade entre escritores e escritos. Eu tenho uma grande fé na literatura. Ela tem um poder de comunicação muito grande e é uma experiência artística singular porque se dá nessa triangulação autor, personagens e leitor. Lemos um livro em silêncio, na mais profunda intimidade, e durante um tempo vivemos as vidas das personagens. É um acordo que sempre fazemos quando decidimos ler uma obra de ficção, de que viveremos aquelas vidas por um tempo. Por vezes pode ser uma experiência profunda, inenarrável, e isso nos permite criar uma empatia com os diferentes. Assim comunicamos a experiência humana, e talvez por isso, por mais que vivamos em um mundo de muitas distrações, sempre haverá pessoas interessadas em literatura.
• Como a sua formação acadêmica contribuiu na investigação histórica, antropológica e geográfica durante o processo de criação?
Eu sou um homem de muitas vidas e, por circunstâncias familiares, nunca fui encorajado a ser artista. Filho de trabalhadores simples, meus pais queriam que eu fosse pragmático e escolhesse uma profissão que me permitisse sobreviver. Neste momento, passei a me dividir em duas vidas: a vida do jovem que decidiu ser professor de geografia, mas que depois foi atuar no serviço público, e a vida do escritor, do amante da literatura. Só decidi apresentar meus trabalhos para publicar quando já estava encaminhado profissionalmente, como era desejo de meus pais. Só apresentei meus escritos quando os considerei maduros. Mesmo assim o fiz de forma anônima e através de concursos e prêmios. O que foi bom; quando recebia um telefonema ou uma correspondência dizendo que o livro seria publicado era porque os avaliadores haviam gostado. Como enveredei pelos caminhos das ciências humanas, estudei geografia, antropologia, ciências sociais, história e filosofia. Penso que todo esse conhecimento adquirido ao longo de minha formação acadêmica ajudou a moldar o homem que escreve. É inevitável que quando eu escrevo não o faça pensando, dentro da arte literária e sem didatismo, numa perspectiva que seja atravessada por esse conhecimento. O fato de trabalhar no ambiente rural, poder viver entre os trabalhadores, entender como elaboram e produzem seus cotidianos, me ajudou imensamente a dar verossimilhança às situações que são narradas.
“Quando eu lia a nossa literatura contemporânea, encontrava muito boas histórias, mas não encontrava a diversidade étnica e cultural de nosso país.”
• O que o Prêmio LeYa de Literatura representou em termos de carreira, visibilidade no meio literário e interesse do público e da mídia?
Inscrevi o livro no Prêmio LeYa apenas porque, quando acabei de escrever e revisar os originais, recebi um alerta dizendo que faltavam cinco dias para finalizar a inscrição. Fui pesquisar o histórico do prêmio e vi que um brasileiro e um moçambicano foram distinguidos em anos anteriores, e o restante eram autores portugueses. Vi também que é um júri de notáveis, que inclui o poeta Manuel Alegre, Nuno Júdice, a poeta angolana Ana Paula Tavares, a crítica e escritora Isabel Lucas, entre outros. Quando fui postar os originais e vi o valor da postagem, quase desisti na fila dos Correios, até a atendente me informar que eu poderia parcelar em três vezes no cartão de crédito. Vá lá, não queria ficar com os originais nas mãos e decidi enviar. Mas foi um ano muito difícil, meu pai estava muito doente e fiquei completamente alheio nos meses que se seguiram. Em outubro, no caminho para o hospital, era meu dia de estar com meu pai, recebi um telefonema do poeta Manuel Alegre, um telefonema que já se tornou marca do Prêmio LeYa. De lá para cá tudo mudou. O prêmio tem uma grande visibilidade em Portugal, sendo divulgado com muito interesse pelos meios de comunicação. Participei de feiras e festivais, percorri Portugal de norte a sul. Fui para lá cheio de medo, pensava, bom, o júri gostou, mas e o público e a crítica? Será que irão gostar? Mas foram semanas especiais e até hoje recebo retorno de leitores portugueses. O prêmio ajudou a divulgar o meu trabalho, a despertar o interesse pelo livro, tanto em Portugal quanto aqui. O resto do caminho o livro tem feito só, e é o que importa. Tem conquistado leitores pela história.
• Qual é a sua visão diante desses tempos sombrios e turbulentos que assolam o Brasil?
O Brasil nunca foi um lugar tranquilo para se viver. Um país fundado sob a violência colonial, que viveu o genocídio dos povos originários, o estabelecimento de uma sociedade escravagista a partir da diáspora africana, nunca foi um lugar diferente e muito menos, seguro. A democracia para o povo brasileiro é algo caro e muito recente. Não acho que a sociedade brasileira viva uma polarização nos nossos dias. O país vinha de uma trajetória de consolidação de sua democracia a partir da redemocratização, após um longo período de ditadura. Durante o período pós-Constituição de 1988, a presidência foi ocupada por pessoas com pensamentos distintos, de origens ideológicas distintas, mas nenhum dos ocupantes foi uma ameaça à democracia. Vivemos um tempo radicalmente diferente de toda a construção desta mesma sociedade nos últimos 30 anos. É um momento de ruptura, de ascensão de uma ideologia extremista que busca aniquilar o diferente. Vivemos um governo de viés autoritário, autocrático, que trabalha diuturnamente para romper o tecido democrático. E no meio de tudo, somos assolados por uma pandemia causada pelo desequilíbrio ambiental, que está sob nossa responsabilidade. A comunicação e o respeito ao próximo não têm sido negligenciados somente neste momento. Ao longo da nossa história foi a regra. Por não aceitarmos esse desrespeito, tido por muitos como “privilégios das minorias”, é que estamos neste vórtice perigoso. A parcela da sociedade que detém o poder econômico não aceita perder os seus privilégios: a capacidade de explorar o trabalhador para produzir riquezas, de manter as desigualdades sociais porque lhe interessa, etc. O que está acontecendo não é nenhuma surpresa para mim, que procuro conhecer a história do país. A elite sempre foi a mesma, e é perversa.
• Qual a sua opinião sobre a maneira reacionária como o governo Bolsonaro tem conduzido a política cultural?
Não me espanta o que está ocorrendo: é parte do método da extrema-direita para disseminar a sua visão de mundo. Enquanto o cinema, a literatura, a música, a arte como um todo, não reproduzirem a estética do seu pensamento político, continuarão sendo atacados. Eles não acolhem a diferença, possuem uma concepção de mundo arcaica, ultrapassada, por isso, imagine como deve ser difícil encontrar espaço no terreno das artes. Assim como deve ser difícil para um artista aceitar a teoria da Terra plana, ter que escrever sobre isso, ou sobre a submissão da mulher, que menino veste azul e menina veste rosa, naturalizando o racismo, reproduzindo a ideologia nazista, como o ex-secretário de Cultura, ou banalizando a tortura e a ditadura. A arte que, por princípio, é questionadora e revolucionária, tem dificuldade de se adaptar a um discurso tão reacionário sem que perca sua essência transgressora.
• O artista brasileiro precisa realmente expor suas ideologias políticas? Em que medida não falar ou omitir soariam errado?
O artista brasileiro é um cidadão como outro qualquer: goza do direito à livre expressão, ou seja, pode usá-lo ou não. A liberdade de expressão é um direito, e não um dever, cada um age de acordo com a sua consciência. Também não acredito em arte neutra, porque toda arte é essencialmente política, até mesmo quando o artista opta pela “neutralidade”. O compromisso único com a sua arte não se encontra livre de um sentido político. Não me manifestar seria como se eu acreditasse que é possível separar o homem do artista. Por isso, fiz a opção pessoal de me expressar no espaço público, a ágora, quando achar que tenho algo a contribuir para o debate de dilemas e convicções. Isso advém da minha percepção de que sou um ser ativo no mundo e que posso contribuir e aprender com o debate público. Mas penso que os que não falam também estão exercendo o seu direito de não se manifestar, e que devem ser respeitados.
• Como se deu a sua trajetória — escritor negro e baiano, com doutorado, num país ainda extremamente cruel, desigual e racista com a população negra?
Nasci numa família de trabalhadores humildes que não cultivavam o hábito da leitura, com exceção dos jornais aos domingos. Tinham coisas mais urgentes para tratar e cuidar, como a nossa sobrevivência. Então, eu vivi essas dificuldades muito cedo. Vi a luta de meus pais para garantir comida na mesa, o pagamento do aluguel, os cuidados com a nossa educação, etc. Fui vítima de racismo, mas tenho consciência de que meu povo, os irmãos de cor mais retinta sofrem e sofreram muito mais, porque no Brasil o racismo está baseado também na quantidade de melanina que você carrega na pele. Desde que aprendi a ler e escrever, vivi a vida da escrita e da literatura, foi algo que nunca me abandonou. Sempre fui muito tímido, guardo desde cedo uma espécie de fobia social, então os livros sempre foram minhas companhias. E o exercício para compreender o mundo à minha volta passa também pela escrita. Segui outros caminhos porque nunca achei que pudesse viver de arte, como não vivo até os dias de hoje, então fui me ocupar de questões mais urgentes, como ocorreu com os meus pais. Fui estudar, ser professor de geografia. Para estudar, precisei trabalhar de muitas coisas: empacotador de supermercado, balconista de farmácia, digitador, até eu me formar. Depois prestei concurso e entrei no serviço público. Foi quando respirei um pouco e comecei a tocar meus projetos literários. Mas sou muito inquieto, a literatura para mim não basta. Estou sempre atrás de outros campos do conhecimento, resolvi aprofundar meus estudos acadêmicos e até os dias de hoje continuo a fazê-lo solitariamente.
“Vivemos um governo de viés autoritário, autocrático, que trabalha diuturnamente para romper o tecido democrático.”
• A maioria de escritores brasileiros negros recebeu seu devido destaque de forma muito tardia, quando não, póstuma. Hoje, temos nomes como Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo e Paulo Lins, mas são ainda poucos os que se destacam numa lista majoritariamente branca. Você tem consciência da importância que a sua imagem representa para um país como o nosso, com uma grande população negra, semianalfabeta e pobre?
Eu tenho consciência, porque sempre busquei essa representatividade no meio literário e no campo das artes. Vale ressaltar que eu tenho uma ascendência negra, indígena e ibérica, embora neste momento histórico precise ressaltar as ascendências negra e indígena. Sempre busquei autores e personagens que falassem ao meu universo íntimo, que revelassem um pouco da minha história. E cada vez que eu os encontrava, era como se revisse um parente perdido. Ler Lima Barreto, descobrir um Machado de Assis negro, encontrar Carolina Maria de Jesus, todos eles me disseram que sim, que poderia estar neste lugar de escrever e ser lido. E que as nossas histórias, a nossa ancestralidade, a nossa imaginação falam diretamente a pessoas famintas de representatividade e visibilidade.
• Torto arado será adaptado para o cinema. Quais são suas expectativas quanto ao filme?
Quando o livro saiu no Brasil, a Todavia começou a ser sondada por produtoras e artistas do audiovisual interessadas no direito para adaptação. Um dos interessados era o diretor Heitor Dhália e conversamos por telefone. Sei que a produtora da qual ele é sócio resolveu a questão dos direitos com a editora, que é quem o detém por condições do Prêmio LeYa. Mas não sei ainda como será a adaptação, até porque estamos num momento delicado com as atividades do meio suspensas. Minhas expectativas são as melhores porque admiro o trabalho do Dhália, a obra dele. O livro não poderia estar em melhores mãos.
• Quais foram os escritores ou as obras que marcaram a sua vida?
São muitos. Eu serei até injusto em listá-los, porque posso esquecer, afinal são 35 anos de leitura e passei por fases em que cada um deles foi de imensa importância. Marcos Rey e Lúcia Machado de Almeida. Machado de Assis e Eça de Queirós. Lima Barreto, Jorge Amado, Erico Verissimo, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto. Há também os estrangeiros: Hermann Hesse, Toni Morrison, William Faulkner, Amós Oz, Chinua Achebe, Gabriel García Márquez… Como disse, são muitos.
• Entre os seus contemporâneos, quais são os nomes que você compreende como um bom recorte em termos de literatura brasileira contemporânea?
Entre os contemporâneos, tenho grande admiração pelo Milton Hatoum, Ana Miranda e Ana Maria Gonçalves. Há jovens autores que leio com muito interesse: Natália Borges Polesso, Cidinha da Silva, Adriane Garcia e Micheliny Verunschk. Mas há muito mais. Nossa literatura tem se firmado atualmente por sua diversidade de vozes.
• O que podemos esperar depois de Torto arado? Você tem algum novo projeto literário para o futuro?
Torto arado é parte de um projeto maior que se debruça sobre os conflitos fundiários no campo brasileiro. Tenho mais projetos sobre os quais venho pesquisando, anotando e escrevendo já há alguns anos. Quem sabe não vem um livro?
“Não há maneira melhor de conhecer o Brasil que por meio de seu povo, suas expressões artísticas e culturais.”
• Por que literatura?
A literatura é minha “mátria”, é o terreno onde me sinto absolutamente livre, onde posso viver muitas vidas dada a finitude da minha, onde posso até mesmo ser imortal. Ela envolve a capacidade de nos comunicarmos através de uma língua, por uma voz necessária e que nos faz sentir vivos.
• Aldir Blanc escreveu em uma de suas letras mais emblemáticas que o “Brasil não conhece o Brasil”. Como conhecer melhor este país tão rico e vasto cultural e geograficamente falando?
Não há maneira melhor de conhecer o Brasil que por meio de seu povo, suas expressões artísticas e culturais. Se entregar às paisagens, ao Brasil profundo, sem julgamentos, deixando que o povo e a história falem por si. Será possível descobrir uma terra mágica, um povo persistente, acima de tudo sobrevivente, que nos ensinará a resistir.