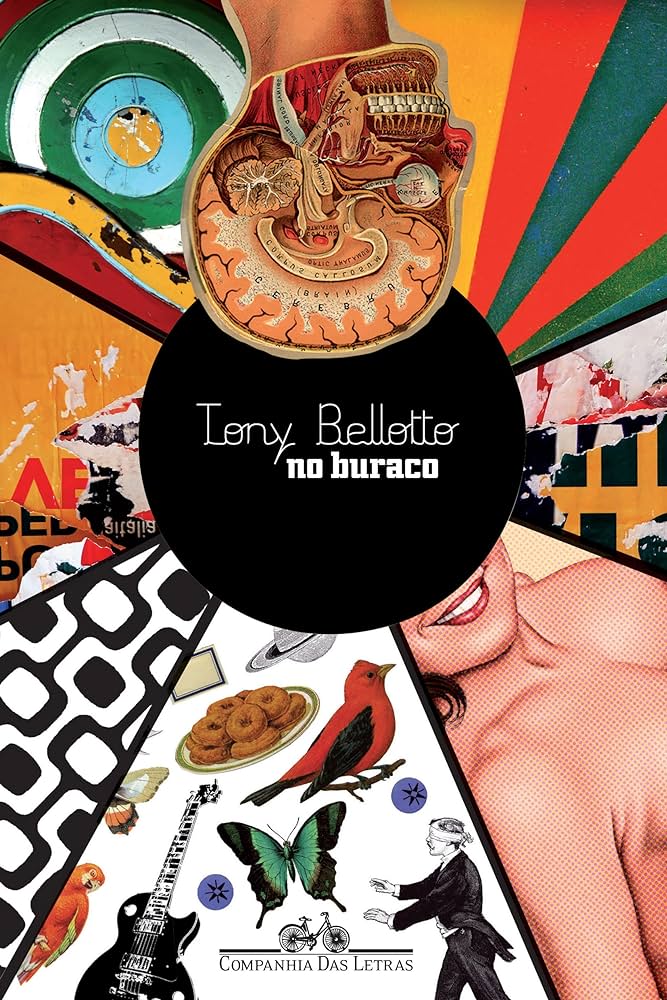Bom, bem escrito, bem articulado, inteligente. E se é essa a impressão marcante durante a leitura, ao fim dela acrescento outras qualidades: estrutura narrativa forte e bem manipulada pelo autor, um protagonista extremamente verossímil, e um belo final. Não que No buraco seja uma obra-prima (e relativemos o que isso pode significar hoje em dia). Além disso, Tony Bellotto sempre pagará o preço do preconceito pela tentativa — usando a fama haurida na cultura de massa — de conciliação da pop music com seus caros modelos da cultura acadêmica letrada. É com a alta literatura que alimenta seu protagonista, quando cita sem pudor nem pedantismo Hemingway, Alberto Camus, James Joyce e outros, misturados a outras figuras do rock histórico e da cultura contemporânea internacional. Dizem que Bellotto investiu muito nessa conciliação. Não era necessário, ela saiu bastante natural.
Como eu não era leitora de Tony Bellotto, não tenho parâmetros para comparar No buraco com seus romances anteriores, o que, se me tira instrumentais comparativos, me permite apreciar concentradamente este romance que conta a história de uma espécie de alter ego do autor em negativo, o cinqüentão Teo Zanquis.
Por que em negativo? Porque, ao contrário de Bellotto (cinqüentão bem-sucedido, com jeitão de quarenta e repertório cultural de sexagenário), o protagonista é um ex-guitarrista fracassado, criou uma banda de rock de um só sucesso e desapareceu. Flana hoje pela cidade grande, mantém apreço melancólico pela música e a freqüenta “pelas bordas” as velhas lojas de discos do centro de São Paulo. É um solitário morador de uma quitinete, fracassado e em completo ostracismo.
Um herói problemático
Teo Zanquis seria apenas mais um agônico sobrevivente da geração sexo-drogas-e-rock’-roll dos anos 60-70. Mas o romance ganha ótima força dramática por ser narrado em primeira pessoa, sob boa estratégia de cruzamentos temporais em capítulos curtos. Estes servem ao ingresso bem posto do passado (recente ou não), da memória remota (estimulada pelas desconexas vozes da multidão na praia), e da digressão confessional.
Em todos os momentos, o leitmotiv de Zanquis é um só: consciência aguda de seu fracasso. Guardadas, é claro, as devidas diferenças e proporções, este protagonista nos lembra a violência “contra si mesmo” com que Paulo Honório contou a vida em S. Bernardo, de Graciliano Ramos.
Teo Zanquis relata aos leitores — de cuja presença tem plena consciência e necessidade —, com trágica e absoluta franqueza, seus fracassos e a desimportante existência, cujo único elo de ancestralidade e registro é a mãe, já meio morta num asilo, irreconhecível portadora de Alzheimer.
“Ela não me recebeu dizendo: “Padre Celso, que bom que o senhor veio me ver!” (…) me confundir com algum padre Celso da vida era o fim. The end. Mas agora foi pior. Ela não disse nada, nem me reconheceu. Nem sequer me notou.
Zanquis é o que nossos professores chamavam de herói problemático — devastado pela cocaína e pela melancolia. Apesar do sexo quase selvagem, escatológico, com a namorada coreana, é um impotente social. Porém, em vez da piedade fácil que o autor não consente, Zanquis, em seu relato “autobiográfico” desenvolve com o leitor uma intimidade de igual para igual, que lhe dá densidade por trás do patético, oferece-nos credibilidade e nos inspira reflexões existenciais (até em quem apenas deseja uma boa história para entretenimento). Essa consistente relação ganha seu ponto mais alto nas últimas páginas da obra, em que o narrador (intruso, como o chamávamos) parece despedir-se do companheiro de literaturas:
Fiquei observando o movimento das ondas enquanto pensava no cannoli, na Lien, na vida, em tudo isso enfim com que você conviveu bravamente nos últimos tempos. Obrigado, aliás. Agradeço a companhia, e sobretudo a paciência.
Como se vê, Teo Zanquis não teve filhos, não transmitiu a ninguém o legado da sua miséria, como dissera Brás Cubas de si mesmo. Aliás, é esta a referência seminal da narrativa, que, muito bem urdida, só nos aparece ao final, quando Zanquis diz: “A maldição de Brás Cubas. Logo eu, que não me ligo em literatura brasileira”.
Teo Zanquis é amante de Lien, uma pós-adolescente coreana, fogosa e de bunda grande, que trabalha em uma loja de discos no centro. E é por causa de seu desaparecimento que ele mergulhará, contra a vontade e sem qualquer interesse, numa narrativa “policial” a partir da segunda metade da obra. De posse de um pendrive (que chama de cannoli), dado a ele por Lien para guardar, vê-se perseguido por uma gangue coreana, que mata o irmão hacker de Lien, faz sumir a amada e revira sua quitinete.
A partir deste trecho, a narrativa corre mais veloz, para acompanhar a ação, e o romance, sempre partido entre o presente, a memória e a confissão, passa a ganhar um contorno mais linear. Digamos que a diferença no ritmo acelera também o interesse do leitor. Mas não temos em mãos um romance policial, felizmente. Temos muito mais.
Por que esconder o mais belo?
Ao final, o romance ingressa num jorro melancólico bem articulado (e bem pontuado em suas frases), com a ida de Zanquis a Ipanema, fugindo do crime quase involuntário que praticou em São Paulo contra um dos coreanos. E é nessa hora que começa o romance: onde termina a fuga. Ou seja: o fim do romance se ligará cronologicamente à primeira página. É dessa circularidade (que por si só não é original) que virá a mais bela parte da obra: o início da lucidez da morte… vindoura e já vivida agonicamente.
Não sei por quê, a crítica que li por aí sobre esta obra faz questão de esconder, como se fora um grande segredo policial a desvendar, a possibilidade de uma bela morte: tão insignificante quanto era o protagonista. “Cheguei bem cedo à praia, como tenho feito todos esses dias, e fiquei olhando o mar agitado. Ventava muito e as ondas se gebravam com força.”
Afundado no buraco da areia, parece ter sido assaltado por um trombadinha de praia que lhe dá um tiro. “Puxo a sacoleta da mão dele, porra, o cannoli e os dólares são tudo o que eu tenho na vida. Minha chance de um renascimento, meu pote de ouro entrerrado sob o arco-íris.”
A melancolia (ao contrário do desdém dos finados, com o qual lembramos Brás Cubas) pode ser maior ainda depois da morte. Talvez Teo Zanquis esteja morto desde o início da narrativa.
“Naquela sacolinha se escondia – percebo agora – o meu rock’n’roll.”
Como? Narra em primeira pessoa e pode estar morto? Para leitores que demandam verossimilhança absoluta, não haverá certeza, pois o melhor é que Bellotto investiu com obstinação no emaranhado temporal e na sugestão do delírio, justificado muito bem por um um cérebro corroído pela cocaína e pelo álcool.
Mas, ao que tudo indica (e essa ambigüidade é ótima), estamos diante de um defunto roqueiro ou roqueiro defunto — daí a “maldição” a que se referia Zanquis. Ou seja: morte física no buraco da areia, ou metafórica nos buracos da vida, tanto faz. Teo Zanquis está morto — numa vala da areia no Rio de Janeiro ou na quitinete em São Paulo. Sua lucidez é devastadora:
Só mesmo o velho Teo Zanquis para confundir um último suspiro com uma ótima soneca. Uma agonia com uma alegria. Um coma com uma cama. Um grama com um dream. Um carma com uma canga. Um pipoco com uma pipoca. É a minha cara morrer desse jeito idiota (…) Literatura, rá, rá. De repente, tudo deixou de fazer sentido: as motivações, os destinos, o conteúdo, a mensagem. A questão das bocetas. (…) Os críticos mais mordazes dirão que morri na praia. E não estarão mentindo.
Temas são caros a nós
Afinal, a que vem um romance como este, articulado sob vários tempos narrativos e sob o peso da memória? — o que também não é original. Mas, certamente o plot detetivesco não é seu centro, apenas um incômodo na inércia deste personagem. O romance — e aí vejo suas qualidades — fala da vida urbana contemporânea, dos poucos minutos de glória que a mídia traz, de como pode ser estúpida a “morte na praia” ( e salve-se o trocadilho do autor) de um melancólico popstar no ostracismo. Mas fala sobretudo do envelhecimento e da morte, em muitos de seus seus sentidos: do Alzheimer à depressão, do passado on the road com cocaína ao buraco na areia onde jaz o protagonista.
Falar sobre a morte é também falar da inutilidade da cultura letrada desse personagem cinqüentão, do ridículo desejo de fazer literatura (ele vai escrevendo enquanto vive a narrativa). E talvez do fim de uma era de rock, que o refrão do único sucesso da banda, de certa forma ficcional, antecipava: “Trevas de luz/ Trevas de luz/ Onde foi que eu perdi o chão?/ Até quando a escuridão?”.
Didatismo
Como nem tudo é perfeito, o fato é que Bellotto se revela demais às vezes e se alonga, sob as vozes de seus personagens, a respeito da crise fonográfica deflagrada pelo download ilegal. Além das citações do protagonista, o personagem Tales Banabek, agente musical cujo hobby (óbvio demais) é atirar contra monitores de computador, justifica-se, furioso: “Os computadores mataram o rock. A internet acabou com rock”.
Há, em vários trechos, uma espécie de balanço feito por Bellotto sobre as transformações sofridas pela indústria da música e, por isso, a necessidade do apelo a shows como estratégia de sobrevivência dos músicos. Isso não é bom, soa falso, vem da voz didatizante do “titã”. E como, apesar de muito boa, a obra também tem acordes dissonantes, aproveito para reclamar da superficialidade com que é tratada a diferença entre gerações, tão presente nas nossas vidas (a namorada é quase uma adolescente) e tão reivindicada pela interessante jovem coreana apaixonada por sexo e pelo rock.
Há muito o que falar sobre os sentidos metafóricos do “buraco” na obra. Mas como não podemos mudar um texto, já bom, atribuindo-lhe sentidos que ele talvez nem tenha, repito aqui o que disse Brás Cubas: “A obra em si mesma é tudo: se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se te não agradar, pago-te com um piparote, e adeus”.