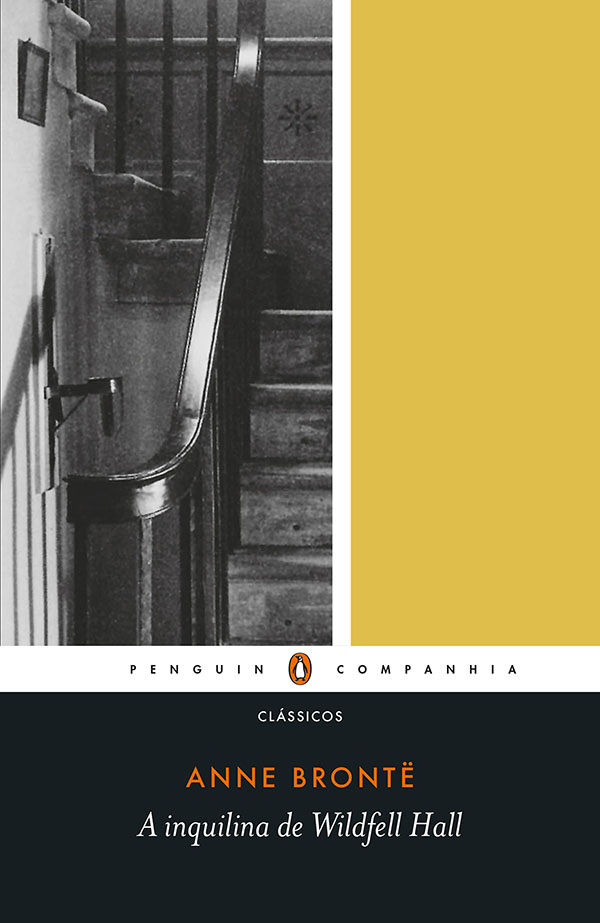Tradução: Luis Eduardo Campagnoli
Muitas vezes objeta-se contra a biografia realista, porque esta revela muito do que é importante e mesmo sagrado na vida de um homem. A verdadeira objeção fará mais sentido se antes levantada contra o fato de que ela revela sobre um homem certos fatos sem importância. Ela revela, afirma e insiste exatamente nessas coisas da vida de um homem das quais ele mesmo é completamente inconsciente; sua exata classe dentro da sociedade, as circunstâncias de sua ancestralidade, sua presente localização. A bem da verdade, essas são coisas que nunca surgem diante da visão humana. Elas não ocorrem à mente de um homem; com quase a mesma certeza, pode-se dizer que elas não ocorrem na vida de um homem. Um homem não pensa sobre ele mesmo como o morador da terceira casa numa vila em Brixton[1] mais do que como um animal estranho com duas pernas. Qual foi o nome de um homem, o quanto ele ganhava, com quem casou, onde viveu, isso não são sacralidades; são irrelevâncias.
Um caso exemplar disso é o das irmãs Brontë. Ser uma Brontë significa ocupar o posto de louca do vilarejo; suas excentricidades geram uma fonte inesgotável de inocente conversação àquele círculo extremamente suave e bucólico: o mundo literário. Os fofoqueiros realmente gloriosos da literatura, como o sr. Augustine Birrel[2] e o sr. Andrew Lang[3], jamais se cansam de coletar todos os vislumbres, anedotas, sermões, novidades e fofocas, informações que caberiam num museu Brontë. As Brontë são as autoras vitorianas sobre cujas vidas mais se discute, e a luz das biografias tem deixado obscurecidos alguns cantos da sombria e velha casa de Yorshire. E, no entanto, toda essa investigação biográfica, embora natural e pitoresca, não é totalmente adequada às irmãs Brontë. Porque a genialidade Brontë estava, acima de tudo, encarregada de afirmar a suprema desimportância das coisas externas. Até aí entendia-se que sempre existiu mais ou menos verdade no romance de costumes. Charlotte Brontë chacoalhou o mundo ao mostrar que uma verdade infinitamente mais primordial e mais elementar poderia ser transmitida por um romance em que pessoa alguma dele, nem boa nem má, tivesse quaisquer costumes. Sua obra é a primeira a afirmar que a vida monótona da civilização moderna é um disfarce tão espalhafatoso e ilusório quanto a fantasia para um bal masqué[4]. Ela mostrou que abismos podem existir dentro de governantas e eternidades dentro de um trabalhador; sua heroína é a solteirona clichê, com vestido de lã merino e a alma em chamas. É significativo notar que Charlote Brontë, seguindo consciente ou inconscientemente a forte tendência de sua genialidade, foi a primeira a despir a heroína não apenas do ouro e dos diamantes superficiais da riqueza e da moda, mas também do ouro e dos diamantes naturais da beleza física e da graciosidade. Instintivamente, ela sentiu que todo o exterior devia ser enfeado para que todo o interior se tornasse sublime. Ela escolheu a mulher mais feia no mais feio dos séculos, e revelou nela todos os infernos e paraísos de Dante.
Pode ser, então, eu acho, legítimo dizer que as coisas externas na vida das Brontë, embora singularmente pitorescas em si mesmas, importem menos do que as coisas externas de quase todos os outros escritores. É interessante saber se Jane Austen tinha qualquer conhecimento das vidas dos oficiais e das mulheres da moda que ela incluiu em suas obras-primas. É interessante saber se alguma vez Dickens viu um naufrágio ou esteve dentro de um abrigo. Pois nesses autores muito da convicção é transmitido nem sempre pela aderência aos fatos, mas sempre pela compreensão deles. Mas todo o objetivo, teor e significado da obra das irmãs Brontë é que a coisa mais fútil em todo o universo seja um fato.
Atmosfera insana
Uma história como Jane Eyre (1847) é em si uma fábula tão monstruosa que deveria ser excluída de um livro de contos de fadas. Os personagens não fazem o que deveriam fazer, nem o que iriam fazer, e — pode-se dizer, tamanha a insanidade da atmosfera — nem mesmo fazem o que pretendem fazer. Os modos de Rochester são tão primordial e sobre-humanamente grosseiros que Bret Harte, em sua admirável imitação barata, quase nem os exagera. “Então, retomando seus costumes, ele jogou suas botas na minha cabeça e retirou-se” talvez alcance algo semelhante à caricatura. A cena na qual Rochester se veste como um cigano velho tem algo que não se encontra em qualquer outro ramo da arte, exceto no fim da pantomima, onde o imperador se transforma em bobo da corte. Ainda assim, apesar do vasto pesadelo de ilusão, morbidez e ignorância do mundo, Jane Eyre é provavelmente o livro mais verdadeiro já escrito. Sua verdade essencial da vida nos faz perder e retomar o fôlego. Porque não é fiel aos costumes, que são constantemente falsos, nem aos fatos, que são quase sempre falsos; é fiel à única coisa existente que é verdadeira: a emoção, o mínimo irredutível, o germe indestrutível.
Não mudaria nada se uma história das Brontë fosse mil vezes mais lunática e improvável do que Jane Eyre, ou mil vezes mais lunática e improvável do que Morro dos ventos uivantes (1847). Não importaria se George Read ficasse de ponta-cabeça, nem se sua esposa montasse num dragão, se Fairfax Rochester tivesse quatro olhos e John Rivers três pernas, a história ainda permaneceria a história mais verdadeira do mundo. O personagem típico de uma Brontë é de fato uma espécie de monstro. Tudo nele, exceto o essencial, é deslocado. Suas mãos estão em suas pernas, seus pés em seus braços e seu nariz está acima dos olhos, mas seu coração está no lugar certo.
A grande e permanente verdade que representa o ciclo de ficção das Brontë é uma certa verdade das mais importantes sobre o espírito duradouro da juventude, a verdade do parentesco próximo do terror com a alegria. A heroína brontiana, vestida esqualidamente, com baixa educação, dificultada por uma inexperiência humilhante, um tipo de inocência horrenda, é ainda assim, pelo fato de ser solitária e desastrosa, cheia do maior prazer que é possível a um ser-humano: o prazer da expectativa, o prazer de uma ignorância ardente e extravagante. Ela serve para mostrar quão fútil é a humanidade ao supor que o prazer pode ser obtido principalmente num vestido de gala toda noite, num camarote em toda noite de estreia num teatro. Não é o bon vivant que vive bem; não é o homem do mundo que aprecia o mundo. O homem que aprendeu a fazer perfeitamente todas as coisas convencionais aprendeu, ao mesmo tempo, a fazê-las de maneira prosaica. É o homem estranho, cuja vestimenta de gala não serve, cujas luvas não cabem, cujos elogios não vão ser ditos, que de fato está repleto dos êxtases antigos da juventude. Com efeito, ele está assustado demais com a sociedade para aproveitar seus triunfos. Ele possui aquele elemento do medo que é um dos eternos elementos da alegria. Esse é o espírito central do romance brontiano. É a épica da felicidade do homem tímido. Assim sendo, tem valor incalculável em nosso tempo, cuja maldição é não reverenciar a alegria por também não a temer.
A governanta maltrapilha e conspícua de Charlotte Brontë, com sua pequena perspectiva e seu pequeno credo, tinha mais relação com as forças elementais que fazem o mundo girar do que uma legião de poetas menores e desgovernados. Ela se aproximou do universo com uma simplicidade franca e, consequentemente, com medos e prazeres verdadeiros. Ela era tímida, por assim dizer, diante das constelações, e nisso ela possuía a única força com a qual se pode prevenir que o prazer seja tão estúpido e estéril quanto a rotina. A faculdade da timidez é a primeira e a mais delicada das forças do prazer. O temor a Deus é o início do prazer.
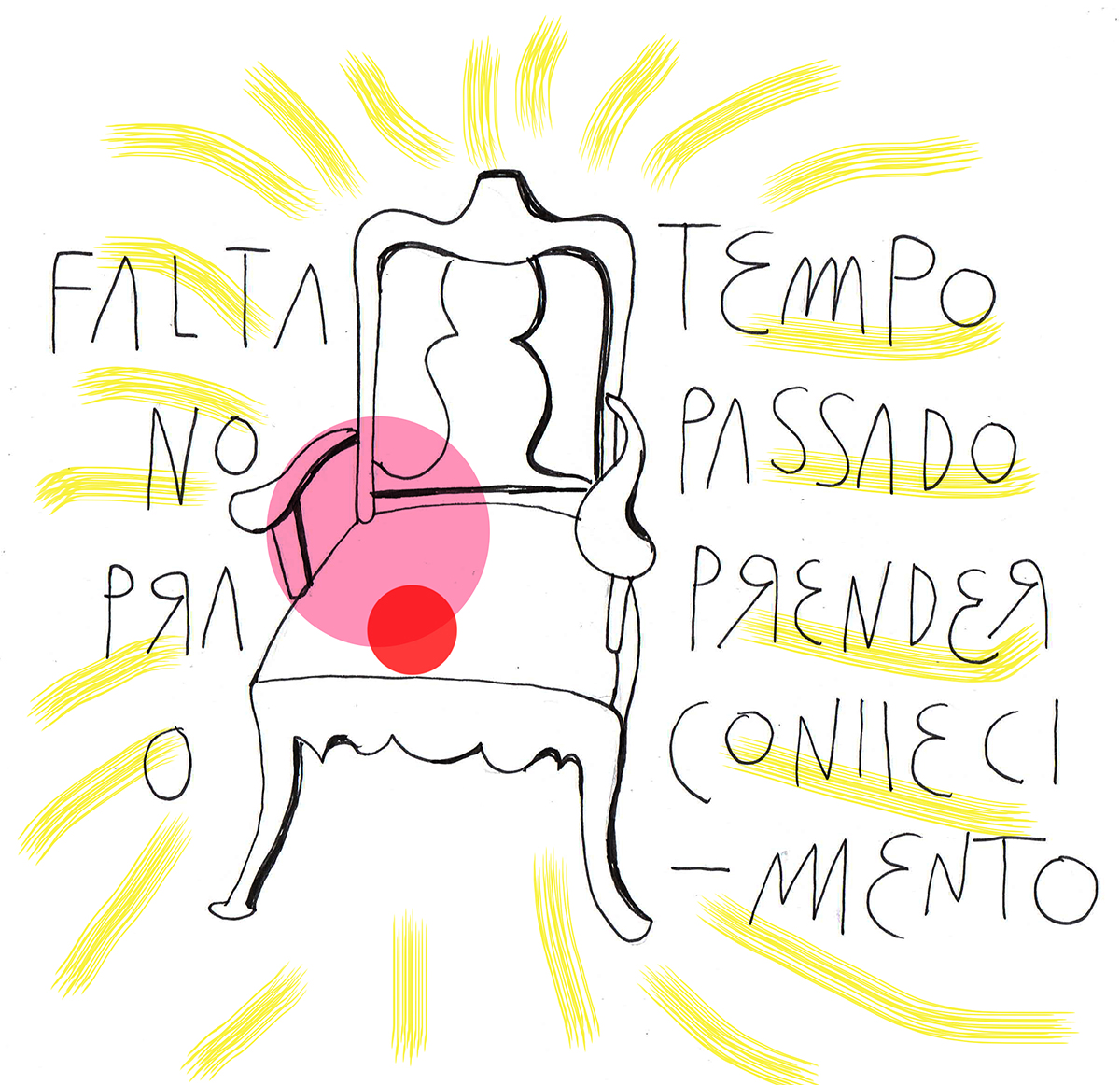
Emoções primordiais
No geral, portanto, penso que se pode justificadamente dizer que a juventude sombria e selvagem das Brontë, em seu lar sombrio e selvagem de Yorkshire, tem sido de alguma maneira exagerada ao nível de fator necessário para suas obras e suas concepções. As emoções com as quais elas lidaram eram emoções universais, emoções dos primórdios da existência, a florada primaveril de prazer e de terror. Cada um de nós, quando menino ou menina, costumava ter sonhos noturnos com obstáculos inomináveis e ameaças indizíveis, nos quais havia, sob a forma imbecil que fosse, os estresses e os pânicos mortais de Morro dos ventos uivantes. Cada um de nós já sonhou acordado projetando nosso próprio destino em potencial, projeção em nada mais aceitável do que Jane Eyre. E a verdade que as Brontë vieram nos dizer é a seguinte: muitas águas não podem apagar o amor, e a respeitabilidade vicinal não pode impelir ou amortecer um entusiasmo secreto. Clapham[5], como qualquer outra cidade mundana, é construída sobre um vulcão.
Milhares de pessoas vêm e vão à selva de tijolos e cimento, ganhando uma pobreza de salário, professando uma pobre religião, vestindo-se como pobres, milhares de mulheres que nunca encontraram nenhuma expressão para suas exaltações e suas tragédias, a não ser ir trabalhar mais duro, e ainda mais duro nos empregos maçantes e automáticos, repreendendo crianças ou costurando camisas. Mas, dentre essas tantas pessoas silenciosas, uma de repente se tornou articulada e deu um testemunho ressonante, e seu nome foi Charlotte Brontë. Espalhando-se hoje à nossa volta, de todos os lados, como uma figura geométrica imensa e radiante, estão os infinitos ramos da cidade grande. Há momentos em que quase enlouquecemos, como loucos de fato podemos estar, diante da multiplicidade das perspectivas apavorantes, diante da frenética matemática, de uma população inconcebível. Mas este nosso pensamento não é nada senão um capricho. O diagrama colossal de ruas e casas é uma ilusão, a onda de ópio de um construtor especulativo. Cada um desses homens é extremamente solitário e extremamente importante para si mesmo. Cada uma dessas casas está no centro do mundo. Não há uma casa sequer, dessas milhares de casas, que não pareceu para alguém, em algum momento, o coração de todas as coisas e o destino final de uma viagem.

Jane Eyre
Charlotte Brontë
Trad.: Fernanda Abreu
Penguin | Companhia
712 págs.
Notas
[1] Brixton. Distrito de Londres, Inglaterra, situado junto à margem sul do rio Tâmisa.
[2] Augustine Birrel (1850-1933). Escritor e político britânico. Foi secretário chefe da Irlanda de 1907 a 1916. Renunciou após a Revolta da Páscoa (1916) em Dublin. Escreveu biografias de Charlotte Brontë, Marvell e Hazlitt.
[3] Andrew Lang (1844-1912). Jornalista escocês, poeta, romancista, biógrafo e ensaísta, renomado por sua tremenda produção literária. Amigo de R. L. Stevenson, que era um crítico feroz de Thomas Hardy e Henry James.
[4] Bal masqué. Em francês no original. Baile de máscara, festa à fantasia.
[5] Clapham. Distrito no sudoeste de Londres.