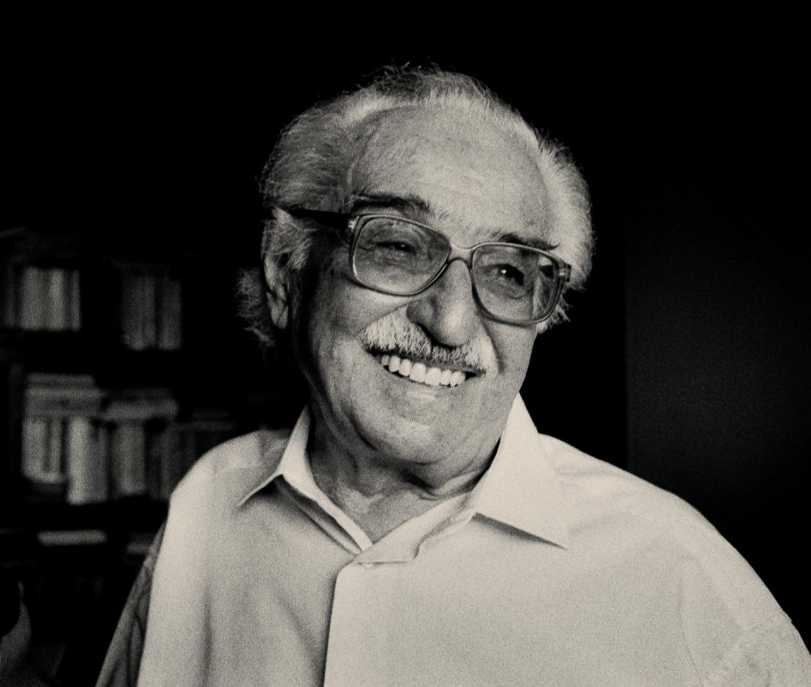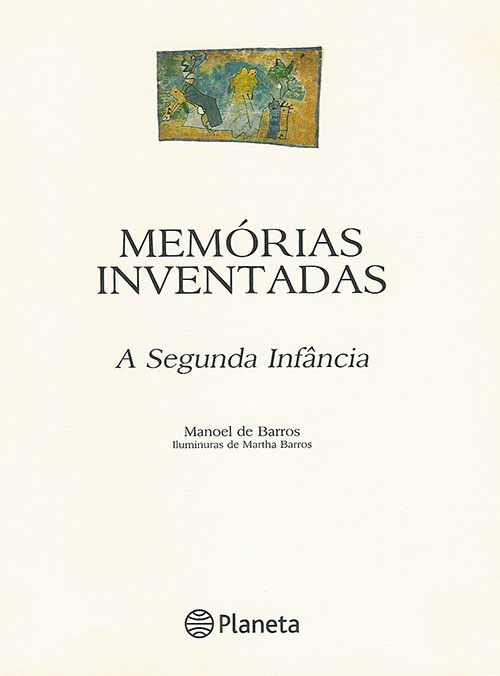O livro Memórias inventadas — A segunda infância, de Manoel de Barros, dá continuidade a Memórias inventadas — A infância, pertencentes ambos ao projeto da trilogia de uma Autobiografia inventada. A idéia geral é de que esses três livros componham a autobiografia do autor, através da voz do poeta, homem adulto, com o foco em três momentos da sua vida: a infância, a segunda infância (mocidade) e a terceira (maturidade). Os dois primeiros já foram publicados, respectivamente, em 2003 e 2006. São livros que se estruturam em novo formato. O objeto livro não possui a encadernação convencional como tantos outros. Para cada texto, uma folha se desdobra entre escrita e imagens, iluminuras de Martha Barros. Cada livro possui, assim, folhas soltas, envolvidas por um laço de fita (azul ou laranja), depositado em uma caixinha de papelão, com uma folha impressa colada como capa na tampa da caixa, com título, nome do autor e da editora. Vem como um utensílio artesanal, brinquedo de criança.
No segundo livro, objeto desta leitura crítica, cada folha dobrada traz um título com a numeração em romanos na primeira página; na segunda, uma iluminura; a terceira página contém o texto e a quarta página encontra-se vazia. É a sobreposição dessas folhas soltas que constitui o livro. Poderíamos dizer que, se por um lado cada poema tem uma unidade em si, por outro, a ordenação proposta obriga uma determinada dinâmica no fluxo de leitura que relacione os dezessetes textos apresentados. O caráter artesanal, contudo, permite que isto se processe contrariando a ordem pré-estabelecida matematicamente. Afinal, são folhas soltas que podem ser pinçadas aleatoriamente, impingindo a possibilidade do desencadernamento.
Além da inovação, há uma proposta textual da escrita em prosa. Afinal é a tipologia que estamos condicionados a esperar, enquanto leitores, de uma autobiografia. Só não podemos esquecer que estas memórias são inventadas. “Tudo que não invento é falso” (verso de um dos poemas de Livro sobre nada), é retomado em Manoel por Manoel na apresentação dos dois livros das memórias.A prosa em questão não se apresenta como ruptura aos demais títulos do autor. Estes já ensaiavam poemas, que mesmo estruturados em versos, trabalhavam a narratividade da prosa como elemento muito presente, assim como os textos dessas memórias trazem também a síntese poética, a fragmentação, o ritmo, as simbologias e outras estratégias que caracterizam a poesia em versos. Parece tratar-se, portanto, do que se convencionou chamar, desde Baudelaire, por prosa poética ou poemas em prosa.
Reflexão
Ensaia-se uma transgressão ao padrão habitual, sem pretensões de maiores radicalizações. Retoma-se ao artesanal do manuseio, da manipulação tátil “desregulada”, mas dentro de um limite que não compromete a sua essência. O livro, apesar de diferente, continua sendo um livro. O projeto gráfico desencadernado e a prosa poética como registro das memórias apontam para um conteúdo semântico e estético que se propõe ser o eixo de reflexão do fazer poético.
Como toda a obra do autor, a grande temática desenvolvida gira em torno da metaliteratura. No que se refere a este livro, em especial, discute-se como o exercício literário e a vida se relacionam. A perspectiva autobiográfica segue a linha de continuidade já esboçada em seus livros anteriores, assim como a questão do eterno retorno ao arcaico, primitivo e infantil são motivos recorrentes.
Apesar de o autor ser consagrado pela crítica, algumas vozes se levantam para questionar a redundância de temas, problemas, e mesmo trechos inteiros que retomam a cada novo livro. Neste sentido, os exemplos são fartos. Tudo indica, entretanto, não se tratar de simples descuido, mas sim de uma estratégia consciente e deliberada de afirmação de procedimentos poéticos de composição. No poema Aula, um professor de latim ensinava: “desfazer o normal há de ser uma norma”. Mesmo que em certos momentos esse desfazer o normal se normatize, há um movimento de rejeição à palavra de tanque, pois estas “são estagnadas, estanques, acostumadas”. A palavra ganha estatuto de matéria-prima nessa oficina de poesia, palavra mineral, vegetal, animal, corpo vivo e mutante, objeto lúdico de criação estética e possibilidade precária de vida e expressão. “Quisera um idioma de larvas incendiadas. Palavras que fossem de fontes…” é nessa concepção de palavra de fontes que muitas delas jorram, repetem-se ou desdobram-se.
No poema Oficina, por exemplo, o sujeito lírico tenta com um amigo montar uma oficina muito peculiar: trata-se de uma “oficina de desregular a Natureza”. Discute-se assim a concepção de arte enquanto exercício da experiência do poeta-artífice de desregular a Natureza. Barthes, em Grau zero da escritura, reporta-se a meados do século 19 quando “começa a surgir uma classe inteira de escritores preocupados em assumir a fundo a responsabilidade da tradição, (…) vai substituir o valor de uso da escritura por um valor-trabalho”. Neste momento, “a escritura será salva não por uma destinação, mas graças ao trabalho que tiver custado. Começa, então, a elaborar-se uma imagética do escritor-artesão que se fecha num lugar lendário, como um operário numa oficina, e desbasta, talha, poli e engasta sua forma…”
Originalidade
A própria noção de oficina, com o tempo e dependendo das diferenças de cada proposta estética, seus movimentos e pressupostos, sofre modificações e ganha matizes diferenciados, muitas vezes antagônicos. A oficina poderia ser tanto um lugar lendário e isolado do mundo, como uma torre de marfim, quanto um espaço aberto e contaminado pela nódoa suja da vida, preconizada pelos modernistas das vanguardas do início do século 20. Em Manoel de Barros, essa última concepção é a predominante. Em determinados momentos, a originalidade tão valorizada pelos modernistas heróicos e reconhecida pelo público leitor de seus primeiros livros fica comprometida ou perdida em meio às repetições de recursos e estratégias de composição. Isso, contudo, é irrelevante, porque, em última análise, a originalidade deixou também de ser valor de juízo ou critério de valoração da obra de arte desde “a época de sua reprodutividade técnica”. Isso se consolida ou radicaliza, sem dúvida, na presente contemporaneidade. Essa oficina hoje prestigia a reciclagem do artefato poético. Um poeta como Manoel de Barros, que tem o privilégio de viver, produzir e atravessar estes séculos de tantas mudanças e turbulências, tem direitos e poderes adquiridos de articular suas contradições ou redundância. São como memórias inventadas que podem ser repetidas à exaustão mas cada vez que retomam compõem outro contexto e nele ganham legitimidade.
Sua poesia pretende ser, como definição esboçada em Arranjos para assobio, “a armação de objetos lúdicos com/ emprego de palavras imagens cores sons etc./ geralmente feitos por crianças pessoas esquisitas loucos e bêbados”. E o poeta: “sujeito inviável: aberto aos desentendimentos como um rosto”, ou ainda, “espécie de um vazadouro para contradições. A oficina na qual esse poeta trabalha é aberta e assumidamente vazadouro para contradições, sendo, contudo, espaço aglutinador de linguagens e expressividades diversas cujas matérias-primas são “palavras imagens cores sons etc.” que se articulam à revelia de seus conflitos mais íntimos. Fotografia, cinema, música, pintura, literatura perpassam toda obra e compõem essa poética. Dentro dessa dinâmica, a pintura através das iluminuras de Martha Barros assumem um importante papel na discussão do olhar, de quem lê, escreve, pinta e vive criativamente. A escritura e a pintura, por exemplo, dialogam. “Picasso desregulava a Natureza, tentamos imitá-lo. Modéstia à parte.” Se a imitação do surrealismo do pintor processa-se, como pretende o poeta, é uma outra questão. Enquanto o primeiro pressupunha o exercício da irracionalidade do onírico e do inconsciente, o poeta hoje se esmera na racionalização de um projeto desregulador da Natureza, cujas regras são dominadas antes de transgredidas, ou melhor, só podem ser desreguladas porque são suficientemente compreendidas. Enquanto vazadouro de contradições, o poeta adulto racionaliza o que o olhar infantil e arcaico imita o traço desregulado do pintor.
O lugar no qual essas linguagens se articulam vai além do mero espaço físico. Berta Waldman, em um estudo sobre O livro das ignorãças, faz uma análise do uso do espaço que pode servir de reflexão para o conjunto da obra, em especial, para a leitura dessas memórias inventadas.
Mais que referente geográfico, o Pantanal configura-se como um mundo fluido e circular onde vida e morte fervilham no rastro animal e vegetal, subtraindo o homem de seu papel de dominação sobre os seres da natureza, já que também ele é submetido à ordem que vale para todos… “já que tudo e todos somos precários”.
Espaço simbólico
No poema Abandono, esse lugar não é descrito como centro de territoriedade física, propriamente dita, ou referencial de pertencimento, o abandono de seus seres é o que o caracteriza: “todos os seres daquele lugar me pareciam perdidos na terra, bem esquecidos como um lápis numa península”. Era o que Nhá Velina Cuê filosofava: “este abandono me protege”. Este abandono que protege é o mesmo que aniquila o homem e a natureza em sua precariedade, na qual vida e morte fervilham. Em Desprezo, o pequeno lugarejo que tem esse nome é visto sob o mesmo prisma, um pouco mais dramático. Ana Belona, uma senhora que “queria ser árvore para ter gorjeios… não queria mais moer a solidão”. Mais adiante: “Tinha um homem com o olhar sujo de dor que catava o cisco mais nobre do lugar para construir outra casa”. Esse mundo fluido e circular é um espaço simbólico de um tempo de poesia e comunhão, da mesma forma que é espaço da solidão, do desprezo, do abandono de seres perdidos na terra, que nascem, crescem, envelhecem e perdem ou aprendem o caminho de casa.
Em Aprendimentos:“Quem se aproxima das origens se renova”. A construção do tempo nessas narrativas se rebela contra o tempo cronológico e histórico, para se delinear em espiral, ou no movimento dos ciclos vitais ou míticos. É o que o narrador de Tempo nos confessa: “eu não amava que botassem data na minha existência”. Por isso o homem adulto, amadurecido, racional permite-se aproximar das origens e se renovar a partir da irracionalidade da infância e dos arcaísmos naturais e desreguladores da natureza. “Eu resolvi voltar quando infante por um gosto de voltar.”
A leitura do poema Um olhar pode nos apontar o tempo que, mesmo como referência cronológica, é questionado. O eu lírico é também o narrador de uma história, ou de fragmentos de uma história. Esta, na concepção de Walter Benjamim, surge enquanto ruínas resgatadas das memórias de um passado que se insinua no presente e, de certa forma, dele torna-se parte ativa e constitutiva. É assim que o olhar do poeta-narrador vai elaborando suas reminiscências enquanto memórias inventadas: “Eu tive uma namorada que via errado. O que ela via não era uma garça na beira do rio. O que ela via era um rio na beira de uma garça… Ela despraticava as normas”. Essa moça tem muito desse sujeito lírico, ela “tinha desencontros diários com suas contradições/ […] Acho que a freqüência nos desencontros ajudava/ o seu ver oblíquo”.
Aqui, ao se descrever as diossincrasias da antiga namorada que via errado, procura-se, além da identificação pessoal e afetiva, uma sutil ligação com o ofício de poeta e, conseqüentemente, com a arte poética. Esta exige do escritor o desencontro diário com suas contradições e a capacidade de um olhar oblíquo sobre as coisas mais simples, aparentemente, insignificantes, até as mais complexas e mirabolantes. Esse caminho é em Manoel de Barros mais que linha reincidente, uma das obsessões.
Na apresentação do livro, o autor se descreve: “eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e oblíqua das coisas”. São essas duas visões, contraditórias entre si, que se colocam como marca do olhar do poeta, dentro de uma proposta estética mais ampla. Além disso, é importante observar que tanto a visão comungante quanto a oblíqua são heranças das raízes crianceiras. É esse olhar sobre a vida e sobre as coisas que permite a surpresa e o deslumbramento da criança que olha como se tivesse vendo tudo pela primeira vez. “Se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão: de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore.” Um olhar de raízes crianceiras sobre um poema pode ser ao mesmo tempo comungante e oblíquo. “É um paradoxo que ajuda a poesia” ou, até, acaba sendo a sua condição primeira de legibilidade e existência.