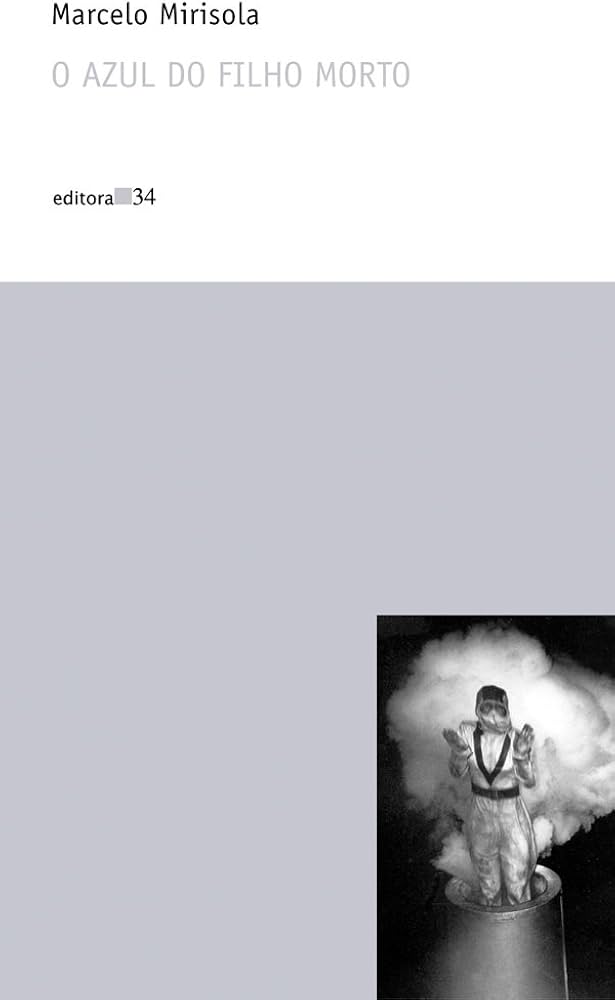Sentado a uma mesa de boteco, lá pros lados da tórrida Ribeirão Preto (SP), Ignácio de Loyola Brandão, antes de sorver um longo gole no chope, disse-me mais ou menos esta frase, há algum tempo: “isso aqui [a literatura] é como time de futebol: além do craque é preciso ter o cabeça-de-bagre, aquele que corre, corre e pouco faz de bonito em campo. É preciso ter de tudo um pouco para garantir o espetáculo”. Por mais lugar-comum que carregue consigo, a frase do mestre Ignácio serve para ilustrar um mundo repleto de egos e corporativismo, que tinge algumas estrelas de fosco e transforma amorfas pedras em astros a latejar num mundo em que imperam gostos duvidosos e a falta de discernimento entre a assepsia da ignorância e a falsidade de um novo revestido de bolor. Eis a confraria de compadres, que viceja como um pênis a pulsar nas mãos do escritor, muitas vezes, desavisado. É aqui, neste campo minado, que eles disputam pau-a-pau o regozijo que a literatura jamais será capaz de proporcionar: o de celebridade (nestas terras, pelo menos).
Nesse tumulto generalizado, com o meio-de-campo embolado, acotovelam-se escritores das mais diversas linhagens (como não poderia ser diferente): os “dândis”, revestidos de uma aura de intelectuais e soberba e, por conseguinte, queridinhos de uma mídia também de compadres — eis aí Fernanda Young; os apalermados defensores de uma literatura visual (seja lá o que isso signifique): Valêncio Xavier é o rei da insana trupe; os com falsas aspirações, mas loucos pelo reconhecimento, liderados por Ivan Sant’Anna, que carrega como único mérito literário ser irmão de Sérgio Sant’Anna, escritor de todas as horas; os regionalistas, esqueçamos por enquanto; os poetas de mesa de bar, ignoremos, com suas camisetas com a foto do Paulo Leminski; os grandes, deixemos que o tempo há de fazer justiça. Craque jamais é esquecido (ou quase). Na mais leve pincelada, poder-se-ia escrever um tratado sobre formas, estilos, pretensões etc., da safra de escritores que pulula em cada esquina e tece o panorama da literatura brasileira. Em tempo: a considero rica, pulsante e prazerosa, com todos os seus craques e cabeças-de-bagre a dar um espetáculo irregular, imprevisível, intenso, eterno e, por tanto, imprescindível (?).
Mas a intenção aqui não é traçar um panorama da literatura contemporânea. Trabalho demais para tão exíguo espaço. (Neste mesmo Rascunho Nelson de Oliveira, Floriano Martins e Luís Augusto Fischer se encarregam da empreitada). Tratemos apenas de um craque (ou de um escritor com jeito de craque, estilo de craque, mas que diante do goleiro tremem-lhe as pernas como vara verde a sacolejar ao vento): Marcelo Mirisola, que volta a campo com o seu primeiro romance, O azul do filho morto (após os contos de Fátima fez os pés para mostrar na choperia e O herói devolvido). É um típico desperdício de talento, pois Mirisola tem ritmo, sabe escrever — o que parece um pleonasmo ao referir-se a um escritor, mas não sejamos ingênuos —, e parece decidido a chegar a algum lugar, seja este qual for. Mas o problema é que sempre empaca no meio do caminho, feito um burro teimoso, seja nos contos e agora no romance. É como aquele jogador que desponta com trejeitos de craque e é escalado para um jogo importante. Faz belas jogadas no meio-de-campo, mas sucumbe de medo diante do goleiro, quando tem de decidir a partida. Não chega a ser um cabeça-de-bagre (ou de fuinha, como queiram), mas decepciona a torcida, que o chama de perna-de-pau, após a derrota nos minutos finais. Vejamos por quê:
Ingenuidade — Alguns apressados/desavisados podem pensar que O azul do filho morto trata-se de uma autobiografia. Nunca. Mirisola não seria tão estúpido (ou seria?). É a história de um onanista adolescente (como todo adolescente, diga-se) que cresce com os olhos voltados para o próprio pênis, para os pênis alheios, para bundas, coxas e bucetas que abundam a todo instante. Tudo muito natural, até mesmo quando “a vovó chupava meu pau pra me acalmar” (p. 25). Essa frase dá a dimensão da literatura de Mirisola. Pense, você, caro leitor, há de compreender. Entre bundas, xoxotas e punhetas, o personagem busca encontrar-se ou perder-se — o que também é uma maneira de buscar a si mesmo. A gozada na bunda alheia é uma maneira de avacalhar com o alvo predileto de Mirisola: a classe média — (“Buenos Aires é gris pelos desvãos, jamais pelos recalques. A maldita classe média não é recalcada. Aqui, não”, já escrevera no conto Buenos Aires até o fim, de O herói devolvido) ou então: “Sei lá, parece que a famigerada classe média desaprendeu a sofrer por causa da tevê a cabo” (p. 160, de O azul…). A perseguição de Mirisola à classe média — quem é ela? — é como se alguém dessa casta o tivesse currado quando criança. É ódio visceral a transbordar pelo canto da boca em forma de esmegma.
Quando Nelson Rodrigues enfiou o dedo no âmago da família brasileira com sua literatura, em especial com o romance O casamento (1966), e peças teatrais, e escancarou um mundo que existia, mas estava escondido nos grotões da hipocrisia, trouxe a novidade. Não pelo escândalo, mas por mostrar aquilo que estava à mesa familiar (traição, incesto, sexo, promiscuidade) todos os dias e era dissimulado num falso sorriso. Rubem Fonseca, em seus contos, também levou a violência que espreitava na esquina para dentro da casa da classe média. Trouxe o medo e o fez com maestria. Até por isso, seus grandes contos são os publicados na década de 60. E o que faz Mirisola? Leva a capa da revista Playboy e a deposita sobre a mesa de jantar, esquecendo-se de que no quarto os filhos do casal classe média deleitam-se com um filme pornô na tevê a cabo. “Tira dessa besteira”, restringe-se a dizer a mãe, antes de sair para o shopping center. Mirisola é um ingênuo.
Inútil —Então, a que se propõe a literatura de Mirisola, quando mostra seu personagem a masturbar um cachorro? Chocar? (Não pense nas galinhas). Talvez não se proponha a nada. Muito natural. Um bom contador de histórias — simples histórias — vale muito mais do que qualquer pseudo-escritor intimista. Mas a todo instante a sua literatura parece querer romper uma bolsa (escrotal?) que o sufoca. Tenta, mas não consegue. O derramamento exacerbado de frases como “também foi a primeira vez que ouvi falar em grelos avantajados, chupá-los a partir das aberturas da retroxota” (p. 84)” tornaria a leitura interessante, caso saísse do vão das pernas untadas de esperma e percorresse todo um corpo até chegar a um orgasmo (um que seja na vida, diria minha avó). Mas isso não acontece. Mirisola empaca, patina e finca os pés no lodo, despenca de boca aberta no lamaçal e contenta-se. É limitado. Não arrisca. Não avança. Chega à porta do gol e recua com o rabo entre as pernas. Faltam-lhe colhões, por mais que ele propague — em seus acessos de fúria desmedida, como um cervo furibundo de galhada rosada — que “escreve com os colhões”.
Engraçado — Além de ritmo e bom texto, Mirisola faz uma literatura engraçada (mas não esqueçamos que um macaco —ou fuinha, como queiram — a atirar merda nos curiosos no zoológico também tem lá sua graça). A fúria de Mirisola faz rir. A sua ingenuidade também. Duas passagens valem destaque. Sobre Xuxa: “Um arrependimento em especial. Ou as 3 upp (unidades de punheta) que bati pruma mulher-lixo. Que era a Xuxa, no começo da carreira — quando ela topava qualquer putaria. Hoje virou santa. Mas eu lembro que a vagaba fudia e lambia criancinhas, depenava harpias e barbarizava com ciclopes e quasímodos (na base do fist-fucking), engatava pela frente e por trás, seja com o Pelé — dentro de um fuscão preto — ou com o diabo a quatro (p. 61)”. A graça ingênua de Mirisola está em: “Também sou contra o sexo seguro e, particularmente, contra todos os tipos de esporte que não oferecem risco de vida, adorei ver o Senna espatifado na Tamburello. Um dia vou festejar a morte do Ed Motta (p. 89)”. Parece uma criança pançuda birrenta, com o nariz cheio de ranho, a espernear contra a falta de sorte na vida. O ressentimento é uma merda, diria minha avó.
O medo e o desmaio — Não dá para negar que Marcelo Mirisola está atrás de um livro único, sempre o mesmo livro, e diz que “O Azul… é a melhor coisa que já fiz e resultado de todos esses livros. Este livro tem um pouco de cada um. Estou melhorando. Por isso continuo escrevendo” (Folha de S. Paulo, 9/março, Ilustrada, p. 4). É verdade. Toda a literatura de Mirisola resume-se a chupadas, trepadas, fodas, bucetas, punhetas, gozadas. E… É louvável a coragem do autor. Mas para isso está aí o cubano Pedro Juan Gutiérrez (autor de Trilogia suja de Havana e O rei de Havana). Ou ainda, pode-se recorrer ao clássico Charles Bukowski. Ou se preferir uma voz feminina, Ana Ferreira pode saciar a sua sanha com descrições como: “(…) eu chupava com uma técnica inspirada nos bezerros, envolvendo a língua na parte inferior e fazendo movimentos lentos e estacados, só com a língua e o lábio superior. (…) Os testículos nunca eram esquecidos, eu colocava cuidadosamente as duas bolas dentro da boca e fazia uma manobra incrível para evitar que elas escapassem” (p. 84, do romance Amadora, 2001, Geração Editorial). É uma questão de gosto. Portanto, Mirisola não inova, não sai do lugar, titubeia, repete-se como um limitado artista mambembe. Uma pena, pois tem bom domínio no meio-de-campo, dribla com facilidade, tem trejeitos de craque, mas decepciona (e muito) a torcida, que sempre o eleva à condição de craque, mas ele se mostra um rotundo cabeça-de-bagre a avançar em direção ao gol. Dribla o goleiro, mas desmaia ao lado da trave e a contempla como se fosse um falo a mostrar-lhe suas limitações.
PS.Talvez me equivoco ao dizer que O azul do filho morto nada tenha de autobiográfico. Lê-se à página 139: “Eu me divertia um bocado e tinha uma vaga, insuspeita e clandestina consciência do meu talento de escritor. Isso quer dizer: eu não escrevia, mas, objetivamente, fazia literatura. Quase sempre literatura medíocre”.