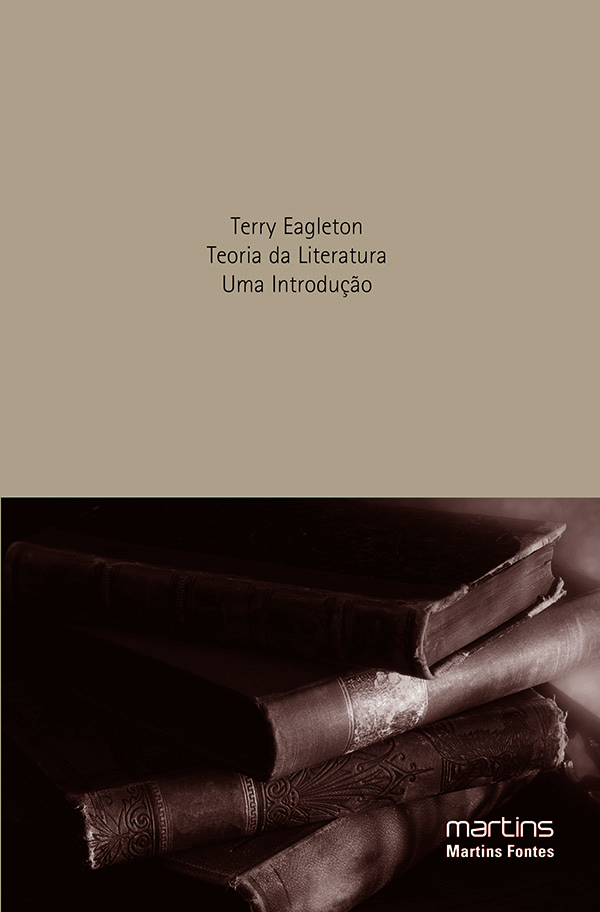Terry Eagleton é um crítico em liquidação. O predicativo, claramente ambíguo, já lhe seria justo pela façanha de ter atingido surpreendentes patamares de vendagem com livros sobre… teoria da literatura. Efetivamente, seu Literary theory: an introduction, de 1986, se manteve durante semanas nas famigeradas listas de best-sellers, o que não o impediu de gerar igual impacto nos círculos acadêmicos. Sismo no chão especulativo das artes e da literatura, o livro, já no capítulo primeiro, “What is literature?”, prenunciaria seu afã de corrosão conceitual, pondo em prática o próprio sentido etimológico de crítica: peneira.
Dono de uma obra extensa, Eagleton lançou em maio deste ano, pela Yale University Press, o volume The event of literature, no qual encontramos, de maneira sintomática, dois capítulos dedicados exclusivamente à ontologia da literatura. O tópico, sabemos, é recorrente em seu ofício teórico e responde a uma demanda pós-moderna. Mas se os culturalistas festejam diante da especulação, muitos prefeririam que ela nunca estivesse na agenda reflexiva, o que parece lastrar dois equívocos extremos. Se, por um lado, retirar a casca da naturalidade é salutar para se vislumbrarem infecções lingüísticas latentes, continuar ininterruptamente a fazê-lo dissolverá o corpo por inteiro. A mise en abîme, a que leva a pergunta “o que é a literatura?”, bloqueia responsabilidades, a assunção de parâmetros e lugares teóricos que, inevitavelmente, existirão. É o que observa Perry Anderson, citado pelo próprio Eagleton, em comparação certeira: vivemos uma intelectualidade sem projeto, imersa num “aquário de formas flutuantes e evanescentes” (As origens da pós-modernidade. Trad. Marcus Penchel. Zahar, 1999).
Na contramão do pós-moderno, alguns conservadores, preocupados simplesmente em fruir as obras, resgatá-las ou transmiti-las às gerações vindouras, vêem tal indagação demasiado ociosa e a desoneram como sendo arremedo de filosofia. Entretanto, se refletir sobre os critérios que norteiam os valores literários é uma opção do diletante ou do puro amador dos livros, ao estudioso há de ser um imperativo categórico. A letargia teórica entrega afagos à preguiça mental, impedindo a criação de mapas que orientem, lucidamente, escolhas e projetos. Aliás, nunca é demais lembrar que, a rigor, fruição e resgate são sempre antecedidos por conceitos e percepções implícitos que o leitor ou o pesquisador herdaram e construíram em sua vivência literária.
No recente trabalho, Eagleton começa fazendo um breve histórico do litígio medieval entre nominalismo e realismo, particularistas e universalistas. Os primeiros, capitaneados por Guilherme de Ockham, alegam que as abstrações são posteriores às coisas individuais e concretas: semblante de um método científico e indutivista avant la lettre. Os essencialistas, por sua vez, na esteira de Platão, compreendem que as idéias precedem os seres, os quais são delas mera expressão falível. Daqui, o professor britânico partirá para o debate sobre a pertinência da concepção de literatura e de sua pressuposta universalização. Um dos pontos de pauta é o fato de não existir, presumivelmente, nenhuma qualidade específica e imprescindível nas obras literárias, o que representa um óbice a qualquer esboço de definição. Entretanto, para acalorar a disputa, o que dizer de textos que, inexplicavelmente, atravessam os séculos e continuam em alta na bolsa literária, para usar a expressão sardônica de Northrop Frye?
Um certo Ludwig Wittgenstein, porém, fornece um respiradouro, uma saída secreta do labirinto: conjuntos como “artistas” e “filósofos” se formam não por identidades absolutas, mas por interseções intermitentes que se entrecruzam ou se sobrepõem (o que faz Petrônio pertencer ao mesmo grupo de Swift e Joyce, e Lucrécio ao de Hegel e Popper). A isso ele atribui a designação “semelhança familiar”, encontrando eco em Charles Stevenson e Martin Steinmann. Em contrapartida, algumas vozes, dentre as quais a de Peter Lamarque, se sublevam contra o modelo, afirmando que aproximações são possíveis entre dois elementos quaisquer, sendo necessário lhes notar a relevância. Stein Olsen não faz por menos e alimenta o fogo da peleja: a rede de similaridades proposta por Wittgenstein permite ligações entre o não literário e o literariamente válido. E aqui, numa espiral, nos reaproximamos do ponto de partida, no inquérito da essência estética. Depois dessa breve e densa diacronia, Terry Eagleton reafirma seu já conhecido ponto de vista: a arte não é portadora de DNA que a defina.
Em princípio, não há nenhum absurdo em tal afirmação, ainda que se possa discordar dela frontalmente. O problema se verifica na apreensão que o autor faz dos modelos de abordagem, na perquirição do literário. Alguns exemplos oferecidos em The event of literature atomizam toda a sua linha argumentativa, como este que traduzimos ad hoc:
É concebível que, de certo modo, um haiku, uma máscara ornamental de um guerreiro, uma pirouette e o 12-bar blues tenham em comum os chamados efeitos estéticos, mas é difícil perceber que partilhem quaisquer qualidades intrínsecas específicas.
Ora, se deveria existir alguma especificidade nas obras de arte seria justamente a proposta de novas formas que revitalizassem os modelos anquilosados. É necessário salientar que, se o conceito de literariedade é recente, o fenômeno é longínquo e reaparece, com reajustes de nomenclatura, no decorrer da tradição crítica. O estranhamento, a composição surpreendente, a frase magnífica, tudo isso é subconjunto de um evento psicológico mais amplo, que é o de ressignificar a experiência, higienizar os hábitos, fabricar o novo — o que, verdadeiramente, é puro pleonasmo. O desejo do clichê, prática, aliás, comum e reconfortante para mentes menos vivas, reflete certa patologia que, em última instância, desemboca na idéia fixa dos lunáticos. Não é à toa que o tópico da invenção ronda a natureza artística desde a Retórica — na qual compunha a etapa heurística das faturas —, ganhando roupagens diversas, como os preceitos de criação (sob a espiritualidade romântica) ou de produção (à luz do materialismo moderno).
Evidentemente, isto só pode ocorrer de modo sócio interacionista, suprindo tais demandas do público leitor. No fim das contas, os artistas pesquisam linguagens que renovem o sangue envelhecido, o cansaço, o déjà vu. Descartar a literariedade formalista por sua incompletude é não refinar o aporte, jogar fora a criança com a água do banho. Terry Eagleton tem razão ao recusar o substancialismo platônico e, junto com Stanley Fish, negar uma essência estanque, um haecceitas scotista, nas obras literárias. Ou seja, analisar o desautomatizado como estrutura inerente e fora da história é uma impossibilidade nos termos, já que — Eagleton bem o salienta em obras anteriores — só pode haver desvio daquilo que é norma, e, para identificá-la, a imanência não dá conta. Certos recursos figurais podem ser, em determinada época, um cacoete estilístico e, em outros tempos, apresentar-se como um dispositivo de oxigenação da língua e da percepção. É o caso do jogo conceitual barroco e suas inversões formais, que viraram puro maneirismo no século 18, mas promoveram saúde a certa literatura de anseio retratista no século 20 latino-americano. O mesmo ocorre com as exclamações e hipérboles românticas, que tanto incomodaram Machado de Assis e os parnasianos, mas podem, bem realizadas, ser alternativa a um cenário minimalista, como o nosso.
Por tais motivos é que não basta haver figuras para que o texto se “literaturize”: isto seria transformar em água parada — que apodrece — o que se habituou a ser fluido e corrente. Ignorando esse detalhe, no entanto, Eagleton retoma no seu novo livro um argumento que já encontramos em Literary theory. Nas suas palavras mais recentes, buscando desqualificar certas peculiaridades do uso literário da linguagem, afirma que “há tanta metáfora no Bronx quanto em Balzac”. Rigorosamente, isto não é novidade alguma para a Lingüística ou mesmo para a Teoria da Literatura. Já nos idos de 1980, George Lakoff e Mark Johnson, num trabalho clássico a respeito, intitulado Metaphors: we live by, tratavam exaustivamente a questão, ilustrando o quanto vivemos rodeados de tropos por todos os lados. Jorge Luis Borges, no persuasivo Esse ofício do verso, dizia o mesmo, sublinhando que todas as palavras da língua, bem escavadas, exumarão uma metáfora morta (pensar é se infiltrar no desconhecido e, portanto, necessita dos andaimes da analogia). Mas o que a alta literatura quer é desarticular a figura gasta, renovar seu fio e otimizar seu corte. Uma vez mais, o que interessa é a metáfora reciclada, efetivamente estética, e não anestesiada pelo hábito que a tudo embota. Que os olhos são as janelas da alma é coisa que todos já ouviram, de onde podem inferir a imagem suplementar das pálpebras como cortinas. Entretanto, um verso cabralino como “a pálpebra da onda cai sobre a própria pupila” (Imitação da Água), além de ostentar uma sonoridade poderosa, ainda apresenta o esplendor da imagem inesperada, rara senão ímpar, alargando a percepção mental pelas similitudes.
Em outro momento, também na querência inextinguível de mostrar o vazio do conceito de arte ou literatura, Eagleton expõe a seguinte assertiva: “Um crime thriller e um soneto de Petrarca dificilmente serão sósias, mas pareceriam ter mais em comum do que terão um impasto, um solo de fagote ou um glissade no balé”. De antemão, poderíamos refutar o crítico recordando-lhe que o cotejo não procede porque, obviamente, estamos manejando linguagens bem diversas. Todavia, aceitamos o desafio, retrucando: há, sim, considerável interseção entre os elementos elencados. Afinal, o impasto singulariza as imagens corriqueiras, o fagote é capaz de, por um eventual estranhamento, reeducar a compreensão auditiva, o glissade imprime ao ato trivial do andar uma possibilidade de encanto.
Curiosamente, a reputação de Terry Eagleton não parece residir na agudeza, presente em todo crítico de calibre. Não obstante a gama de visadas que povoa sua escrita, a pletora de falácias talvez involuntárias o descredibiliza frente a qualquer investigação menos panorâmica. Sem dúvidas, seu objetivo, para usar o jargão do momento, é desconstrucionista: depositar permanente dúvida sobre os discursos que, por força de circulação, se vão instalando como verdades naturais. Claro: pôr em revista idéias essencializadas lhe é certamente um quesito favorável. Todo alastramento de amnésia histórica requer uma medida alopática: a vigilância da linguagem (afinal, até as “ciências duras”, com sua maior estabilidade epistemológica, abrigam conceitos que se dobraram à onipotência de Cronos). Mas as instabilidades lógica e teórica só podem fazer do autor um exemplo irônico da metáfora de Anderson: habitante do aquário sem consistência do contemporâneo.