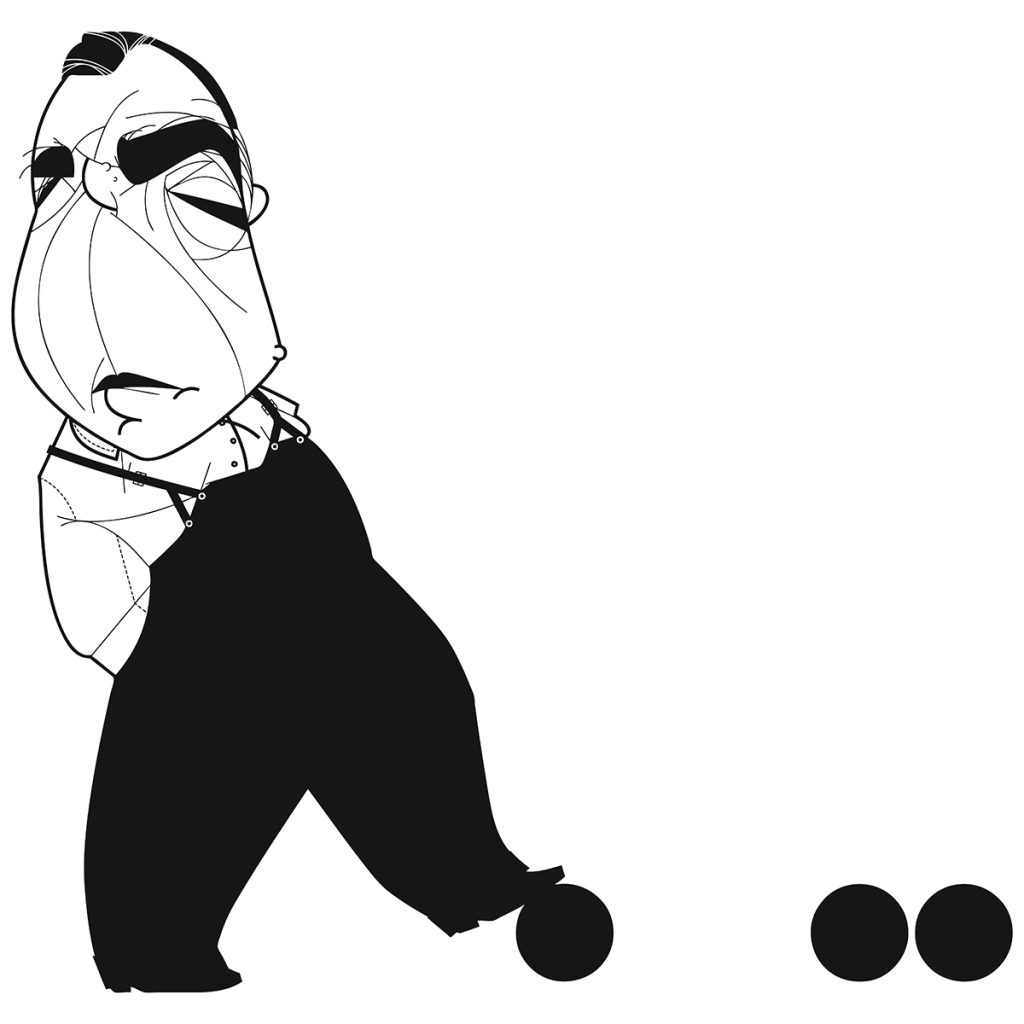O debate literário entre popularidade e apuro lingüístico está longe de ser uma novidade: da disputa entre românticos e clássicos no século 19 à discussão entre formalistas e engajados no século 20, passando pela destruição dos academicismos pelas vanguardas, é ainda o falso embate entre forma e conteúdo que parece assumir novas faces. Concentrada no gênero narrativo, a polêmica entre contar histórias ou fazer experiências de linguagem é provavelmente a variante mais recente.
Nada mais anacrônico do que as vanguardas; Mário de Andrade, já em 1930, declarava ultrapassada a fase da pura experimentação, e Drummond escrevia, em 1954: “E como ficou chato ser moderno, agora serei eterno”. Quando o novo por si só passa a ser um valor obrigatório, perde muito do sentido — pois se sua força vinha em grande parte do impulso demolidor, a chegada à tradição só pode assinalar sua ineficácia.
Como parte do impulso em direção ao novo, foi decretado algumas vezes o fim da literatura. Mas essa extinção não pode ser dita muito mais do que uma vez; e como o artista sempre tem algo a dizer — mesmo que esse algo seja a morte da literatura —, precisa procurar novos caminhos. Nelson Rodrigues, que proclamava que só os profetas enxergam o óbvio, afirmava que “nenhuma arte perdoa que se queira fazer a anti-arte”, e que “só os romancistas fracassados, os ensaístas fracassados, os poetas fracassados, que nunca tiveram nada a dizer e, portanto, nada a escrever, é que acreditam que o romance está morto, que a poesia está morta, que o teatro está morto e que a linguagem escrita está morta”. Entre a morte da literatura e a morte de Ivan Ilitch, certamente ele ficaria com a segunda.
Entretanto, Nelson Rodrigues está entre aqueles escritores paradoxais que unem experimentação e popularidade, força narrativa e rupturas de linguagem.
Erudito popular
Em Se um viajante numa noite de inverno, Italo Calvino propõe o seguinte projeto de história: dois escritores, um produtivo e um atormentado, habitantes de dois chalés situados em extremos de um mesmo vale, observam-se reciprocamente com suas lunetas. Enquanto o escritor atormentado inveja a pilha de folhas bem arrumadas que o outro produz ininterruptamente, o escritor produtivo, embora nunca tenha gostado das obras do escritor atormentado, sente, ao observá-lo roendo as unhas, perambulando pela sala, rabiscando e rasgando páginas, que ele procura algo obscuro, emaranhado e verdadeiro, e que, comparado ao que o outro está procurando, seu próprio trabalho é limitado e superficial. Ambos almejam escrever um romance como o que encanta uma jovem mulher que lê absorta no terraço de um chalé, e se decidem a escrevê-lo. É o que fazem, só que um ao modo do outro, e ambos entregam o seu manuscrito à leitora. Entre os vários finais imaginados por Calvino, um é a expressão de uma utopia: uma rajada de vento embaralha as páginas dos dois livros, que a leitora tenta reorganizar, o que resulta num romance belíssimo, que ambos os escritores sempre sonharam escrever.[1]
Não foram muitos os que chegaram perto desse ideal: Dostoiévski, Charles Dickens, o próprio Italo Calvino, e, entre os brasileiros, certamente, Nelson Rodrigues. Porque embora este fizesse “livros como um pé de abóboras faz abóboras” e fosse lido e admirado por vários tipos de leitores, estava muito longe de ser um simples reprodutor de fórmulas literárias. Ao contrário, suas obras revolucionaram a linguagem teatral, expuseram as entranhas da hipocrisia burguesa, incomodaram os conservadores, embora o próprio Nelson fizesse questão de se auto-intitular “reacionário”.
Qualquer um teria o direito (e alguns, o dever) de se perguntar que caminhos conduzem a este feliz paradoxo que dá ao escritor lugar tanto no cânone literário quanto no coração do leitor. Gostaria de propor alguns deles.
O primeiro é o suspense. Se todo escritor produtivo domina esse recurso, muito escritor atormentado sente pudor em usá-lo. O folhetim viveu dele, e a própria estrutura em capítulos do romance é tributária desse suspense imprescindível para vender o exemplar do dia seguinte — há mesmo quem afirme que todo bom romance é no fundo um romance policial, como seria o caso de Crime e castigo, cujo enigma não é quem cometeu o crime, mas por que o cometeu. O suspense bem jogado é a forma mais bem acabada de manejar e seduzir o leitor.
A segunda explicação se relaciona precisamente com esse manejo. Todo texto, sendo necessariamente emitido para alguém que o atualize, prevê o seu leitor — leitor esse que possui certa soma de informações e crenças específicas, que constituem sua enciclopédia. Umberto Eco chama a esse leitor, interno ao próprio mecanismo gerativo do texto, de Leitor-modelo. Numa obra de ficção, o leitor faz pressuposições e previsões; a cada acontecimento ele tem determinadas expectativas em relação à continuação do que é narrado. Prever o próprio leitor-modelo não significa somente esperar que exista, mas também mover o texto de modo a construí-lo. Porém, certas narrações podem eleger dois leitores-modelo, um mais astuto que o outro, ou prever um leitor-modelo que cresça em astúcia numa segunda leitura. Haveria, nesse caso, duas maneiras de percorrer uma narrativa: como um leitor-modelo de primeiro nível, que quer saber muito bem como a história termina, ou como um leitor-modelo de segundo nível, que quer descobrir como o autor-modelo faz para guiar o leitor. “Só quando tiverem descoberto o autor-modelo e tiverem compreendido (ou começado a compreender) o que o autor queria deles é que os leitores empíricos se tornarão leitores-modelo maduros”.[2]
No caso específico de Nelson Rodrigues, temos, em um primeiro nível, o leitor capturado pelo texto que, embora sofra o efeito dos enunciados, não necessariamente identifica suas implicações. Esse leitor pode fixar o elemento atual da crônica, ou a história passional e o exagero, ou a obscenidade, ou o enunciado moralista, enquanto num segundo nível o leitor-modelo avalia as estratégias discursivas, relacionando-as com a tradição literária e histórica, os valores envolvidos, a discussão moral. Todo leitor de segundo nível, porém, deve ser também um leitor de primeiro nível, pois uma leitura que visasse apenas ao leitor de segundo nível acabaria por mumificar o texto.
São esses dois níveis de leitura que tornam Nelson Rodrigues a um tempo popular (ou de massa) e erudito. Tendo obtido enorme sucesso popular com as crônicas de A vida como ela é e com seus folhetins, como Meu destino é pecar, além do impacto causado por suas peças “desagradáveis”, Nelson transitou pela subliteratura e incorporou o mau gosto à sua obra; apaixonado pelos romances-folhetins românticos, ele não é apenas o crítico do senso comum e dos clichês, mas também um apaixonado por eles; e ao mesmo tempo que afirma a força do senso comum — e com isso conquista o leitor comum —, no mesmo movimento o subverte.
Ele mesmo um clichê
Há clichês da frase feita e de efeito, ligados ao mecanismo da generalização hiperbólica, matriz do lugar-comum popular ou erudito: clichês que embaralham os conceitos de particular e geral, como em “Todas as mulheres deviam ter catorze anos” ou “Todo canalha é magro” — foi assim que Nelson elevou a frase praticamente a gênero literário. O mesmo mecanismo ocorre na caracterização de personagens-tipos: não se trata apenas do tipo geral da estagiária, mas do seu calcanhar sujo; e o tipo da grã-fina se particulariza nas narinas de cadáver.
Há o clichê topográfico: bairros do Rio, ruas, subúrbios, notações relacionadas com a crônica e o noticiário jornalístico. Há clichês-pessoas, como em Asfalto selvagem, em que Nelson converte pessoas reais, amigos (Otto Lara Resende, Carlos de Oliveira, Corção, Alceu etc.), desafetos, conhecidos do meio jornalístico, personalidades políticas e literárias em personagens-clichês, que interferem no texto, em uma espécie de mise-en-abyme do próprio jornal — lembremos que a própria palavra “clichê” provém do vocabulário da imprensa. Há clichês teatrais, trágicos e melodramáticos, e clichês da literatura popular, tanto nos romances não assinados, como Meu destino é pecar, quanto nos assinados O casamento e Asfalto Selvagem (Engraçadinha): os escândalos, os acontecimentos que se precipitam, as reviravoltas, clichês do melodrama exagerados até o ridículo. Há clichês lingüísticos, na fixação em determinadas palavras-clichês que subitamente se destacam dos enunciados, como nos seguintes exemplos de Asfalto selvagem[3]: “Ainda dou no couro! (fez questão de usar gíria mentalmente)”; “Com a exuberância da sua juventude ‘informal’ (muito usada atualmente a expressão ‘informal’)”. Também indicam a presença do clichê as frases sincopadas e incompletas: o leitor pode imaginar como elas continuam justamente porque conhece os enunciados do senso comum. São as reticências, interjeições e interrupções, como nos seguintes trechos, também de Asfalto selvagem: “porque eu, bom”; “não se trata de, entende?”; “você tem um corpo que”; “Esse rapaz é de opinião que”, “não há provas e”. Há, por fim, clichês sexuais e psicanalíticos (o desejo, o incesto).
O grande golpe de Nelson foi transformar a si mesmo em clichê. Se Nelson tinha vestido, em seu teatro, a máscara do transgressor e do “tarado”, “que espalha o tifo e a malária na platéia”, ao se dedicar à crônica assume, nas décadas de 60 e 70, o papel do polemista reacionário, cujo alvo preferido eram os regimes comunistas e seus simpatizantes. Nelson queria provocar o leitor, assim como fora provocado naqueles vinte anos em que o Brasil e o mundo mudaram tanto. Em uma época em que a única ofensa séria a alguém consistia em chamá-lo de reacionário, aquele que aceita esse rótulo pode estar movido justamente pelo desejo de despertar uma reação indignada, e, assim, obrigar a pensar.
“Anjo pornográfico” é apenas a versão mais recente do paradoxo do reacionário transgressor. Como poucos, Nelson soube usar também esses clichês a seu favor, prefigurando a tendência contemporânea de tornar o autor um personagem. E se suas leituras muitas vezes se fixaram num dos termos desse paradoxo, como em certas adaptações para o cinema, lhe deram uma popularidade que ele mesmo desejava. É verdade que, ao inaugurar com Álbum de família o seu teatro desagradável, Nelson queria fugir à unanimidade burra e encontrar a vitalidade que despertaria da sua letargia as “senhoras gordas comendo pipoca”, mas também é certo que, ao escrever seus contos e crônicas a partir da década de 60 tinha um projeto consciente — até por necessidade financeira — de conquistar o público. A forma (a fórmula?) que encontrou para fazer isso sem trair sua arte foi justamente o clichê paradoxal. Entender? Entenda quem lê.
Vitalidade do paradoxo rodrigueano
Mas todas essas estratégias — o suspense, a leitura em dois níveis, o clichê — pouco teriam efeito se não fosse uma outra qualidade dos textos do escritor. Alguns a chamariam de densidade; outros, de verdade, no sentido da verossimilhança aristotélica; prefiro chamar de vitalidade — o que implica, necessariamente, força estética. Sem vitalidade, não há personagem ou linguagem que se sustente; e, como vimos, é próprio da vitalidade descobrir um aspecto novo da existência. Os romances mortos são os que apenas repetem o que já foi dito. Romances vitais derivam de uma relação específica com a existência — é esse o real (“a vida como ela é”) que importa para o romance.
Em Nelson Rodrigues, essa vitalidade está sobretudo no paradoxo. O paradoxo rodrigueano é emblemático, sintomático e estrutural — como em Dostoiévski, o maior modelo literário de Nelson, para quem “o belo e o sublime” coexistem com o irrelevante e o grotesco. O paradoxo do terreno e do divino é reafirmado em frases como a do Monsenhor de O casamento — “Mas sabe quando é que me sinto mais próximo de Deus e Deus mais próximo de mim? É quando esvazio a bexiga, ou os intestinos”; ou de Odorico, de Asfalto selvagem, ao sentir como se Engraçadinha “pudesse dar-lhe materialmente, num embrulho, a vida eterna”.
Uma formulação poderia sintetizar o paradoxo rodrigueano: “todo casto é um obsceno”. Ou: “O pior devasso é ainda um puro”. “Ora aparecemos varados de luz, como um santo de vitral, ora surgimos como faunos de tapete”. Não é à toa que o tema da traição em Nelson Rodrigues seja elevado quase ao plano metafísico. Talvez seja o paradoxo sexual o principal aspecto da existência descoberto por Nelson. E, para Herman Broch, a única razão de ser de um romance é descobrir o que só um romance pode descobrir.
Em A arte do romance, Milan Kundera afirma que Cervantes foi, com Descartes, o fundador dos tempos modernos: a paixão de conhecer se apossou do romance, então, “para que ele perscrute a vida concreta do homem e a proteja contra o esquecimento do ser; para que ele mantenha o mundo da vida sob uma iluminação perpétua”[4]. Quando Dom Quixote deixou sua casa em busca de aventuras, não teve condições de reconhecer o mundo, que se tornara um celeiro de ambigüidades, de aparências enganosas e verdades relativas.
Como imagem e modelo desse novo mundo complexo, o romance explora os diferentes aspectos da existência: a aventura (Dom Quixote), o enraizamento do homem na História (Balzac), a terra incógnita do cotidiano (Madame Bovary), a relatividade do tempo (Proust). Os períodos da história do romance variam conforme o aspecto do ser explorado e são muito longos; para Kundera, estaríamos ainda hoje no período dos paradoxos terminais, inaugurado por Kafka.
O romance não desaparece; é sua história que cessa. Sua morte é dissimulada: ocorre quando não descobre mais nenhuma parcela da existência, apenas confirma o que já se disse, repetindo apenas a forma esvaziada do seu espírito — seja esta a forma do best-seller, a obrigação vanguardista ou o clichê neonaturalista. Daí que a terra mais inóspita para o romance sejam os totalitarismos.
Não à toa o grande protagonista de Nelson era o clichê. Também não por acaso ele se definia sobretudo como um libertário. É imoral o romance que não descobre algo até então desconhecido da existência — e é justamente porque esse conhecimento é a única moral do romance que seria incoerente chamar Nelson de imoral.
Nelson dostoievskiano
Ainda há muito a descobrir e a aprender com o grande romancista que foi Nelson Rodrigues. Antes de ter escrito seus romances, Nelson Rodrigues declarou: “Jamais deixarei de escrever. Pelo menos até que consiga realizar o que tem sido a minha grande frustração: escrever um romance. É o meu último objetivo na literatura”. E: “Sempre fui, desde garoto, um leitor voracíssimo de romances. Eu me considerava romancista e só o romance me fascinava. Não queria ler, nem ver teatro”.
É no mínimo curioso que um escritor cuja grande ambição era o romance tenha se destacado principalmente pela produção teatral e jornalística. Enquanto proclamava (de forma algo suspeita) que, ao escrever A mulher sem pecado, em 1941, a única peça que havia lido fora Maria Cachucha, já aos 17 anos lera Crime e castigo, e certamente não uma única vez. É o que sugere em A menina sem estrela: “Há poucos livros totais, que nos salvam e que nos perdem: ‘Que é que você leu?’ Respondi: ‘Dostoiévski’. Ele queria me atirar na cara os seus quarenta mil volumes. Insistiu: ‘Que mais?’ E eu: ‘Dostoiévski’. Teimou: ‘Só?’. Repeti: ‘Dostoiévski’. O sujeito, aturdido pelos seus quarenta mil volumes, não entendeu nada. Mas eis o que eu queria dizer: pode-se viver para um único livro de Dostoiévski.”
O impacto da leitura de Crime e castigo foi fortíssimo no adolescente Nelson, como se percebe na descrição que ele faz da confissão de Raskolnikov a Sônia: “Tremi de beleza quando os vi no quarto e sem que um desejasse o outro. Era uma ternura desesperada, um querer bem sem esperança nenhuma. (…) Súbito, há um lance de ópera ou pior, pior — de Rádio Nacional. Raskolnikov ajoelha-se aos pés da prostituta e brada: — ‘Não foi diante de ti que me ajoelhei, mas diante de todo sofrimento humano’. Chorei ao ler isso; e chorava por Sônia, pelo assassino e por mim”. A cena seria reproduzida quase identicamente na peça Anti-Nelson Rodrigues, quando Salim se atira aos pés de Joice, repete a frase de Raskolnikov, e, em seguida, ergue-se furioso: “Mas onde é que eu li isto, meu Deus!”.
Seria natural, portanto, que os dois romances assinados por Nelson (os outros são folhetins talhados no melodrama sob pseudônimos como Suzana Flag) dialogassem com Crime e castigo. Sabino, o falhado patriarca protagonista de O casamento, é um Raskolnikov envelhecido que se tortura por crimes de caráter sexual, reais ou imaginários, e termina confessando à polícia um crime não cometido, numa cena ironicamente redentora que remete ao final do romance dostoievskiano. Os crimes se multiplicam na narrativa através da figura do duplo, como em alguns romances de Dostoiévski: o humilhado e ofendido Xavier, cujos ternos cheiram mal, e o niilista Antônio Carlos são duplos de Sabino, como o terrível Svidrigáilov o é de Raskolnikov. A confissão de um redime o crime de outro; pois aqui o que importa é a culpa por um crime original, universal.
Já o crime do garoto Leleco, de Asfalto selvagem (Engraçadinha), é narrado explicitamente como um Crime e castigo fora do lugar: ao matar Cadelão, ele repete todos os gestos de Raskolnikov, e até encontra sua Sônia, a “menina de família” Janet, que a certa altura percebe a própria inadequação: “Não sou Sônia, eis o que pensa, com uma angústia tão grande que a desfigurou”.
Os romances de Nelson fazem uma desleitura de Dostoiévski: segundo Harold Bloom, o desvio que uma obra faz de outra na luta pela afirmação da individualidade literária do autor (esse pobre ser tantas vezes enxovalhado pelas teorias literárias…). Dostoiévski está dentro da obra de Nelson como elemento de construção, debate, ironia, admiração, frustração.
No romance rodrigueano, o drama e a tragédia se imprimem na escrita e nela se transformam. O aparecimento do narrador traz uma série de consequências, uma das quais é o discurso indireto livre. O leitor de Dostoiévski se inscreve na estrutura e no ritmo da escrita de Nelson Rodrigues: estrutura polifônica em romances de ritmo dramático e caráter trágico. Os romances rodrigueanos herdam muito do modo de enunciação teatral, a que Nelson estava habituado.
Enquanto, segundo afirmou Steiner, tolstoianos são épicos, Nelson era um temperamento dostoievskianamente dramático. O interessante é que o próprio Dostoiévski planejava inicialmente seus romances como peças teatrais. Daí se desenvolveu um poderoso romance polifônico, com suas múltiplas vozes, como demonstrou Bákhtin.
E é exatamente essa qualidade, presente tanto no enxuto O casamento quanto no caudaloso Asfalto selvagem, que pode justificar a preferência de Nelson pela forma romanesca. Polifônico, temivelmente ambíguo, contendo aquela sabedoria da incerteza em que as verdades relativas se incorporam em egos imaginários chamados personagens, o romance, com sua mistura de gêneros, seus fluxos de consciência, sua ironia, sua alternância e mescla de narrador e personagens, se mostrou um campo privilegiado para a imaginação hiperbólica e paradoxal do atormentado produtivo Nelson Rodrigues, que pertenceria à linhagem dos paradoxos terminais.
Voltemos à utopia do “romance belíssimo” de que fala Calvino; pois omitimos que o romancista imagina outros finais para a história dos dois escritores. Por exemplo: a jovem recebe os dois manuscritos e constata que se trata de dois exemplares do mesmo romance. Ou: a jovem sempre fora uma leitora apaixonada do escritor produtivo e detestava o atormentado. Ao ler o novo romance do produtivo, acha-o falso e compreende que tudo que ele escrevia era falso, enquanto, ao recordar as obras do atormentado, acha-as agora muito mais belas. No entanto, ao ler o seu novo romance se decepciona. Ou: idem, substituindo “produtivo” por “atormentado” e “atormentado” por “produtivo”.
O fato é que o destino de produtivos e atormentados depende em grande parte dos leitores, esses seres tão aleatórios e misteriosos quanto a própria História. Nelson, em mais uma das suas frases lapidares, afirmou uma vez que “a experiência literária é uma dupla frustração: — o autor não encontra o seu leitor, nem este o seu autor. Um Dante só deveria ser lido por outro Dante.” No entanto, essa experiência não cessa de se renovar.
A literatura é ao mesmo tempo a história desse descompasso e a utopia do encontro. É sua tragédia, sua comédia e sua beleza.
NOTAS
[1] CALVINO, Italo. Se um viajante numa noite de inverno. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, pp. 177-180.
[2] ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 33.
[3] RODRIGUES, Nelson. Asfalto Selvagem. Engraçadinha: seus amores e seus pecados. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
[4] KUNDERA, Milan. A arte do romance. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 13.