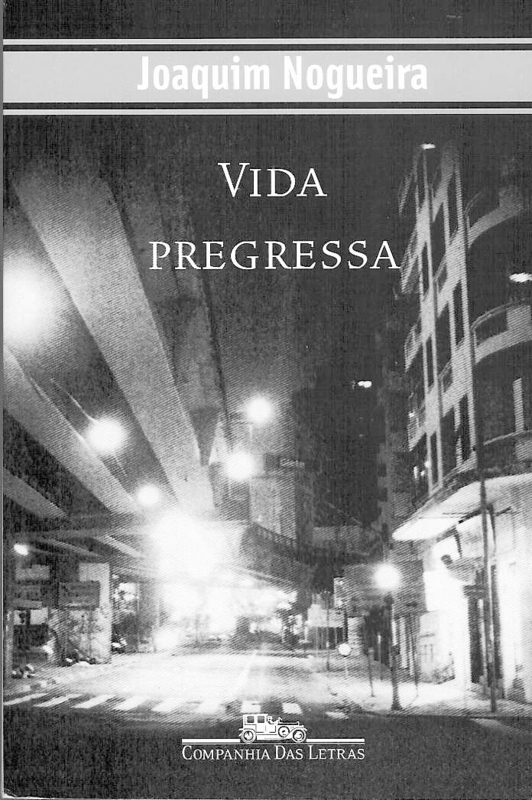A literatura brasileira não tem tradição em romances policiais. Engatinha, apenas. Não temos muitos calibres voltados para o mistério, como acontece nos Estados Unidos e na Europa — onde os crimes e os detetives andam lépidos pelas prateleiras das livrarias. Eles aportam aqui em quantidades consideráveis e a fazer enorme barulho. Autores como Alexander McCall Smith, Patricia Cornwell, Manuel Vázquez Montalbán, James Ellroy, Ed McBain, Andrea Camilleri, Lawrence Block, P. D. James, e mais um batalhão já figuram nas listas de mais procurados pelos leitores. Sem esquecer de clássicos com Dashiel Hammett. Lembremos: a literatura policial é uma das portas de entrada para muitos jovens leitores.
O que temos aqui com certa freqüência é a incursão de alguns autores pelo gênero (ou subgênero, como preferem os gênios de plantão), como Rubem Mauro Machado, Rubens Figueiredo, Domingos Pellegrini, Marçal Aquino, Patrícia Melo, Tabajara Ruas e mais uma leva que arrisca seus tiros. É claro que na rapidez deste texto, não podemos deixar de citar (por mais exaustivo que isso tenha se tornado) Rubem Fonseca e sua obra-prima policial Vastas emoções, pensamentos imperfeitos. Muitos críticos, com razão, defendem que Fonseca está acima do rótulo de policial. Concordo, mas também está extremamente atrelado a ele. Os melhores romances de Fonseca são os policiais. Os históricos (?) são ruins e os contos, primorosos.
Os motivos pela falta de consistência — ou de uma escola — da literatura policial brasileira têm diversos caminhos e merecem uma investigação mais demorada. Deixemo-la por ora. Vamos nos ater a dois autores (os únicos talvez) com projetos sólidos de literatura policial: Luiz Alfredo Garcia-Roza e Joaquim Nogueira. Ambos transitam com talento pelos meandros de crimes e mistérios, mas se afastam na maneira como cada um encontra para dar vida ao delegado Espinosa (Garcia-Roza) e ao investigador Venício (Nogueira).
São Paulo é a terra de Venício. O Rio de Janeiro é o mundo de Espinosa. Ambos são éticos, policiais esforçados, honestos e com grande respeito pelo sofrimento alheio. E talentosos na arte de seguir pistas, descobrir motivos e assassinos. Não há nada de mirabolante no feitio dos romances: há um crime, ou mais, a ser desvendado. A partir daí, começa a investigação e tem-se a solução. Simples e eficaz.
Ficha-corrida
Joaquim Nogueira é ex-delegado, nasceu em 1940 no Acre, e mora em São Paulo desde 1960. Foi seringueiro, servente de pedreiro, pintor de paredes, ajudante de serraria, auxiliar de escritório, bancário e oficial de polícia. Antes de Vida pregressa, publicou Informações sobre a vítima (2002).
Luiz Alfredo Garcia-Roza é o que se costuma chamar de intelectual. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1936. Formado em filosofia e psicologia, é professor da UFRJ e já escreveu diversos livros sobre psicanálise e filosofia. Antes de Perseguido, publicou O silêncio da chuva (1997), Achados e perdidos (1998), Vento sudoeste (1999) e Uma janela em Copacabana (2001).
A ficha-corrida de ambos pode esclarecer as escolhas narrativas de cada um.
Comecemos por Nogueira. Venício é um investigador dos mais honestos, autor de frases (inverossímeis?) do tipo: “Não quero receber. Eu sou um funcionário público, vivo do meu salário, não aceito suborno pra descumprir a lei de favorecer terceiros. Fico devendo” (p. 99). Faz suas investigações a bordo de um velho Fusca, mora sozinho e é um comedido amante. A honestidade e a dureza são suas marcas e delas muito se orgulha. Como se vê, a construção do personagem principal não é das mais profundas, como é característica da literatura policial. A ação é o centro — grande motivo de condenação por parte da crítica a este gênero.
Vida pregressa tem seu ponto central na morte do dono de motel Anatole France Castanheira, um sujeito de muitas caras e dívidas pelos bairros de São Paulo. Logo de início, ele aparece morto na carceragem de uma delegacia. Em seguida, descobre-se que o corpo não pertence a Anatole. A partir daí, Venício mete-se numa investigação para descobrir onde está o verdadeiro Anatole. Afunda-se em muitas histórias, seu carro é alvejado por alguns “elementos”, aproxima-se de mulheres, vê-se em histórias paralelas, para ao fim descobrir os motivos de tanto mistério.
Nogueira privilegia os diálogos. Toda a trama é sustentada por eles, todos muitos próximos da realidade, como se estivéssemos a ouvir tais conversas:
“Vamos lá, Venício, a gente é colega, apesar de tudo, e eu tenho que te dar atenção. O que você quer?
É sobre o crime que aconteceu na cadeia daí, ontem. O cara que foi assassinado era amigo meu. Anatole France Castanheira. Estou agora na casa dele com a viúva e queria saber notícias. Vocês já racharam o caso?
Porra nenhuma. Interrogamos alguns presos, mas na cadeia, como você sabe, impera a lei do silêncio. Ninguém abre o jogo. E também a gente não se interessa muito. Temos uma porção de coisas pra fazer, levar presos ao PS, no fórum, trocar lâmpadas queimadas, tampar goteiras no teto… não vamos sair por aí espremendo o cérebro a fim de esclarecer a morte de vagabundo.
Esse Anatole…, perguntei, o que foi que ele fez? Digo, pra entrar em cana?” (p. 27)
No desenrolar do romance, algumas gírias deslocadas soam um tanto anacrônicas. O uso intenso de diálogos torna a leitura rápida. Em Nogueira, não há requintes estilísticos, tudo é muito cru. A escrita é simples, o que dá mais verossimilhança à trama, pois a estrutura dos diálogos entre policiais, suspeitos e bandidos assim exige. Nogueira conhece muito bem o chão onde pisa, sabe do que fala, conhece os alicerces da polícia e não se perde pela costura ficcional.
Requinte até na hora da morte
Garcia-Roza é um requintado construtor de enigmas. Assim o faz desde O silêncio da chuva (seu melhor livro). O delegado Espinosa — nome inspirado no filósofo holandês — pode ser considerado um personagem com lugar garantido na literatura brasileira. É um sujeito estranho para o cargo de delegado de polícia, principalmente devido ao seu grande amor aos livros, comprados em sebos do Rio de Janeiro, e colocados na estranha biblioteca: composta pelos próprios livros, colocados de maneira a se tornarem uma biblioteca sem estruturas, volumes vão dando sustentação aos demais, numa estranha obra de engenharia literária. Espinosa é um sujeito tranqüilo. Um voraz comedor de lasanha congelada. Também mora sozinho, mas é separado de uma mulher com quem vivera durante dez anos.
A escrita de Garcia-Roza alterna diálogos, descrições dos personagens e, em especial, dos bairros do Leme e Copacabana, no Rio de Janeiro. Espinosa e o Rio estão atados, os passos de um ecoam sobre o outro. Há refinamento na construção dos personagens. Neste Perseguido, temos o Dr. Artur Nesse, um psiquiatra às voltas com um paciente um tanto estranho (há pacientes de psiquiatras não-estranhos?). Dr. Nesse sente seus movimentos observados por Isidoro, que prefere ser chamado de Jonas. Após algumas consultas, Jonas aparece morto. Ou melhor, desaparece. Ninguém tem notícias do estranho paciente que tivera um caso com a filha do Dr. Nesse. As mortes se seguem num jogo que apontam para um assassino. A surpresa final é das mais agradáveis para os amantes dos bons romances policiais. Entretenimento com bom gosto.
Ao contrário de Nogueira, que opta pela narrativa em primeira pessoa, Garcia-Roza utiliza a terceira pessoa. Tal artifício dá-lhe condições de tecer considerações a respeito de todos os personagens, principalmente de Espinosa, que a cada romance fortalece suas características:
“Espinosa se levantou do banco e iniciou uma volta completa na praça — o equivalente a uma volta no quarteirão — antes de retornar ao apartamento. Ainda não chegara a uma conclusão sobre se pensava melhor sentado ou andando. Isso, quando conseguia pensar. Na maioria das vezes, sua atividade mental consistia num livre fluxo associativo de idéias. Tinha a impressão de que em sua mente se travava uma luta constante entre a razão e a imaginação, com franco predomínio da segunda” (p. 79).
Joaquim Nogueira e Luiz Alfredo Garcia-Roza abrem caminho à bala pela literatura brasileira. Quem tiver coragem que os siga.