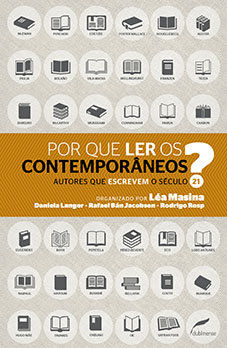Por que ler os contemporâneos? traz, segundo a apresentação da obra, uma reunião de verbetes de 101 prosadores, entre estrangeiros e raros brasileiros, resenhados por outros 101 colaboradores. De acordo com Léa Masina, saberemos “o que se lê, conta, ensina, comenta, escreve e edita agora no Brasil”. E a organizadora promete mais: “extrair os fundamentos de alguma poética, se isso fizer sentido ante a diversidade de propostas que revolucionam o próprio conceito de literatura e de arte”.
O livro ganhou certa visibilidade pelo título, instigante e perscrutador. Ora, sem ânimo para tantos escritores vivos, quem não quer saber por que ler, por exemplo, o norte-americano Philip Roth, o inglês Ian McEwan ou o moçambicano Mia Couto? Ou até mesmo nossos Chico Buarque e Cristovão Tezza (cujas últimas publicações já estão mobilizando leitores)? Afinal, justificam os organizadores, a mídia cita tantos contemporâneos e as livrarias estão abarrotadas de títulos.
A obra é de fácil consulta, exceto pelos duzentos e tantos nomes de autores e resenhistas anunciados no sumário. E lá vem forte decepção. O livro é de constrangedora irregularidade e (com raras exceções) superficialidade, e num primor de oscilações críticas, não consegue responder à pergunta que ele próprio faz: por que ler este ou aquele escritor que escreve no século 21?
Masina escreve que a ideia foi reunir cento e um (?) escritores “representativos das principais tendências literárias do século 21 e que estão sendo lidos agora no Brasil”, mas a obra aborda pouquíssimos brasileiros (10%). Ora, no Brasil, lemos muito mais brasileiros do que estrangeiros. (A saber: há menção à polêmica sobre incluir ou não Paulo Coelho. Não, ele não foi incluído.) Quanto aos estrangeiros, vamos lá: você tem lido Zoé Valdés, Zadie Smith, Teju Cole, Paulina Chiziane ou Neal Stephenson? Eu confesso que não. De vários nunca ouvi falar, e provavelmente não os lerei.
Claro, claro, nenhuma escolha em antologias ou glossários é consensual. Mas a aqui feita não prestou bons serviços nem a eventuais leitores da cultura “de massa” — que leem Kazuo Ishiguro (Os vestígios do dia) ou James Ellroy (Los Angeles: cidade proibida) — nem ao leitor mais aparelhado, que anseia por ajuda para melhor ler Amós Oz, Cristovão Tezza, J. M. Coetzee ou Valter Hugo Mãe. Tais autores cá estão. Mas há tantos outros, irrelevantes, partilhando a mesma limitação de uma página, que ninguém aparece nem reluz.
O projeto editorial “democratizou” e igualou em espaço, importância e consistência, Chimamanda Ngozi Adichie (já leu?) e Roberto Bolaño; Martín Kohan (tem lido?) e Umberto Eco. Pobres bons autores (incluam-se brasileiros preteridos), tão necessitados de um verbete crítico…
Vamos à crítica
Muito mais insatisfatória que a escolha de autores é a brutal instabilidade dos verbetes. Boa parte dos resenhistas (escritores, professores, médicos, advogados e/ou pós-graduandos da PUCRS, de onde vêm a maioria dos convidados) tem formação e informação tão variada que não pôde, quis ou soube responder à pergunta que o título exigia. Aliás, há um exorbitante gauchismo nesta obra; raros colaboradores vêm de outra região. (Nada contra o Rio Grande do Sul; há muito, o sul do país tem sido vigoroso na produção literária e na ensaística.)
Ora, se daqui se pretende elucidar a “importância da crítica literária face a tanta e tão radicais mudanças do seu objeto”, esta obra poderia ser “intencionalmente impressionista”? Ou ainda: “trabalhar com nossos próprios paradigmas teórico-críticos” seria o mesmo que optar “pelo risco, pela incerteza, pela sombra”?
Impossível não supor a ausência de mão firme dos organizadores/editores para cumprir seu projeto e tarefa. Uma importante obrigação editorial, estou convicta, é a de harmonizar, arredondar, explicar ao colaborador a que vem a obra e a quem serve. Fica a impressão desagradável (talvez injusta) de que o projeto teria sido uma ação entre amigos, colegas ou interessados, que, por sua vez, “escolheram” um escritor — o que deu à obra a configuração de mero trabalho escolar: uma tarefa de fim de curso ou de grupo de orientandos.
Quanto à inconsistência e irregularidade, muitos resenhistas se limitaram a resenhar esta ou aquela obra do “seu” autor; e (pior) vários registraram com instrumentais às vezes imprecisos este ou aquele personagem de uma única obra do resenhado. Ora, o leitor deseja saber, por exemplo, por que ler o inglês Alan Hollinghurst ou o alemão Bernhard Schlink; não quer paráfrase de obra ou perfil de um só personagem. Quem pesquisa quer características, temas, estilo e relações entre tal autor e a sociedade.
Prefiro não citá-los, mas nesta obra há muitos importantes autores maltratados, algumas vezes com graves cochilos da norma culta, e de quem nada de relevante se fala. Repito, enfadonha: a sensação é a de que não houve orientação editorial, nem escolhas peneiradas, nem bom trabalho do revisor — tudo essencial para uma obra com tal pretensão.
Dentre alguns bons resenhistas, quem melhor entendeu sua tarefa foi o experiente Charles Kiefer, que teve a naturalidade de falar em primeira pessoa e o bom gosto de levar o leitor ao escritor que resenhava:
Enfim, é de Paul Auster que é preciso falar, já que este texto se propõe a ser não um ensaio sobre a sua obra, mas uma espécie de provocação, uma espécie de degustação, como essas que se oferecem nos supermercados. A função deste texto é levar você, que nunca leu Paul Auster, a lê-lo, porque só podemos dizer que não gostamos de alguma coisa depois que a provamos.
E lá vêm características, influências, temas e estilo de Auster.
Há, sim, outros verbetes bastante bons. Mas me pergunto por que a maioria dos escritores consagrados foi resenhada por professores, escritores ou críticos experientes. Aos mais jovens, os escritores semi-ignotos? Não, não desejo atribuir aos estudantes as más resenhas, muito menos certa displicência. O que desejava era ver, ao lado dos experientes, o vigor nascente de novos críticos, tão necessários ao debate literário.
Banalidades
O fato é que o projeto e a realização deixaram escapar a preciosa e alentada oportunidade, com tantos “autores que escrevem o século 21” (vivos, produzindo, pensando!), de nos oferecer reflexões sobre esse pós-moderno 21, de nos desafiar a compreender criticamente recorrências ou dissonâncias, temas, estratégias de criação literária, diluição de gêneros, transposições de foco narrativo, etc. Ou seja, nos dar muito mais do que um rol de nomes “que se deve conhecer”.
Um texto final, com números e curiosidades, nos desvia bastante da crítica e do sóbrio: você quer saber como teria sido a primeira versão de capa? Qual o mais velho e o mais novo dos autores resenhados? Quantos morreram enquanto a obra era editada? Quantas mulheres foram resenhadas e quantos autores têm nome começando com J? (E, por acréscimo, que não há nenhum escritor com a inicial F, Q, X e Y?) Talvez queira saber qual o nome mais longo e o mais curto? Ou lembrar-se de um relevante número? Todos estes autores juntos já publicaram mais de 1.500 livros
Agora a moda é registrar uma “nota de preocupação”. Gostaria de, talvez, eliminá-la, com o trecho final da professora Léa Masina:
Que a qualidade das obras e dos autores resenhados permita ao leitor contemporâneo dispor de uma espécie de guia para um caminho de fruição e prazer (?) a ser construído de modo pessoal, sem preconceitos, (?) possibilitando que a mobilidade (?), as associações (?) e a transitoriedade dos insights (?) determinem o ritmo e o movimento da leitura.
Com todo o respeito, não consegui.