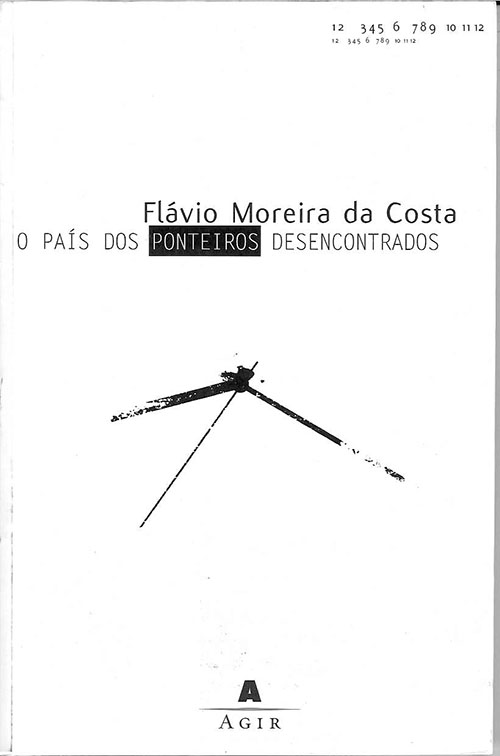Ninguém sai ileso de um grande romance. Como na guerra. Não há como ficar indiferente. A obra que almeja vida perene, longa, espalha luz para todos os lados; num jogo de espelhos, abre fendas por onde se estabelecem significados, sentimentos, dúvidas, certezas, angústias, e tantos outros substantivos que nos envolvem diante das imensas leituras. As trincheiras e as emboscadas da obra-prima (palavra das mais desgastadas em tempos de muitos equívocos) devem ser fundas e ardilosas. Enganam seus leitores, fazem trapaças, envolvem-nos num delicioso jogo de cumplicidade. Ninguém sai incólume desta lúdica batalha.
Talvez rasteiras — ou românticas em demasia —, estas definições foram formando-se logo no início de O país dos ponteiros desencontrados, de Flávio Moreira da Costa. Dois motivos foram preponderantes: um porque conheço o autor de outras leituras, em especial o romance O equilibrista no arame farpado e os contos de Nem todo canário é belga, lidos com avidez em meados da década de 90; outra, pela disposição gráfica do livro (basta uma rápida folhada para saber que estamos diante de algo provocativo, longe do tradicional, de uma linearidade exigida pelo leitor mais conservador). A leitura da obra de Moreira da Costa — com exceção dos romances policiais — mostra um provocador, um escritor inquieto e em busca da construção que se sobressaia diante de uma tentadora mesmice que tanto ludibria a massa de escritores, como tão bem assinalou Wilson Martins: “ele é um escritor original e inventivo, rico em sugestões e capacidade observadora, com o faro da vida moderna, tendo criado na ficção brasileira de nossos dias um idioma de narrativa que é um corte nítido em relação ao anterior”.
É diante desta originalidade, inventividade, riqueza de sugestões e de observação que nos coloca Moreira da Costa neste O país… A leitura atenta as confirma e também as contesta. Nele, o romancista — como um equilibrista no arame farpado naquele circo que visita a periferia — transita no limiar do sucesso e do fracasso. A confidência ao poeta Fabrício Carpinejar, autor da orelha do livro, demonstra o seu temor em relação à receptividade da empreitada: “é o mais genial ou mais idiota que fiz”. No balanço final, não saí incólume da batalha desencontrada neste país inventado (ou nem tanto) de Flávio Moreira da Costa.
O que nos espera logo à entrada desta casa (lembremos do conto A casa tomada, de Cortázar, só por diversão), repleta de cômodos que abrigam personalidades de um mundo que nos cerca o tempo todo, é um jogo não muito original, quase um clichê da literatura universal: a manjada busca do autor (Moreira da Costa) por um certo escritor chamado João do Silêncio — neste caso o sobrenome Silêncio tem infinitos significados, vale a pena levá-lo em consideração. Diante da facilitadora saída, penso na idiotia. Persisto. Há mais cômodos e corredores nesta construção irregular e saborosa a serem percorridos. Logo de início somos informados de que João do Silêncio está escondido em algum canto do mundo, mas o escritório de investigação encontrou uma mala abandonada pelo autor, contendo os escritos do procurado. Ali está a História da Filosofia Acidental (referência óbvia a Bertrand Russel), que compõe toda a obra de Silêncio. Da pilha de 5 mil páginas, o escritório de J.L. Carpeaux-Maigret (também óbvias referências ao crítico Otto Maria Carpeaux e ao detetive Maigret, de Georges Simenon) envia a Flávio Moreira da Costa os originais de O país dos ponteiros desencontrados.
Começam o jogo e a guerra, com suas desafiadoras trincheiras e emboscadas. Portanto, estamos diante de uma trapaça? Não. É apenas um desafio. Encontraremos em Silêncio um Flávio Moreira da Costa desafiador, inquieto e em busca de uma originalidade agradável e incômoda, apesar de, às vezes, soar forçada, artificial. Aterrissamos em Aldara — país que podemos traduzir como o Brasil, sem nenhum problema —, um lugar onde os ponteiros dos relógios estão desencontrados, ninguém se entende, não há simetria na vida, o caos está instalado e a “normalidade” precisa, urgentemente, ser restabelecida. Para tanto, o governo resolve contratar cientistas do tempo. O primeiro a aportar em Aldara é Johann Faber — aquele do lápis —, sem nenhum sucesso na missão. Tudo se resolverá e isso é o que menos importa nesta questão dos ponteiros desencontrados. (A leitura levou-me ao romance A sombra dos reis barbudos, de José J. Veiga; vejo as sombras de Veiga a pairar sobre O país dos ponteiros desencontrados).
Muito importam neste romance, ao dobrar os corredores ou escancarar as janelas, as diversas opções/alternativas de leitura, nas quais podemos nos acomodar ou nos inquietar ainda mais. Estranha casa de ratos roendo no sótão sabugos de milhos. A surpresa é inevitável a cada fresta espiada, mesmo quando as surpresas começam a se tornar cansativas. É um rio caudaloso a descer a serra. O ritmo é forte, um puro-sangue revigorado e ansioso para desbravar o horizonte. A leitura, mesmo com suas inúmeras citações e referências, flui com uma avassaladora rapidez. E a quem fogem algumas referências, perde o sentido a leitura? É óbvio que não. Salutar seria seguir o ritmo do autor, mas é quase impossível acompanhá-lo na totalidade, seja do popular Woody Allen a um pouco lido como Georges Perec e seu indispensável A vida modo de usar.
Mesmo aquilo que não conhecemos — e isso pode nos apavorar; e muito — nos faz pensar. Pinçar aqui e ali interrogações e respostas, sejam de Silêncio, Moreira da Costa ou surrupiadas de alguém, é reconfortante. Faz bem para fugirmos do comodismo intelectual que nos tenta agarrar a todo custo e seduz a maioria, de que nos fala Curtis White em A mente mediana. É muito mais fácil optar pela ignorância, nestes tempos em que pensar parece doer em todos os ossos e discutir é tão maléfico quanto uma chaga incurável. As possibilidades de leitura de O país dos ponteiros desencontrados são muitas — o que já vale o “esforço” de qualquer um no país dos banguelas. O simples fato de eleger os ponteiros do relógio — nada mais prosaico — como propulsores da barafunda em Aldara pode ser interpretado como uma crítica (o autor não tinha esta intenção, como confessa em entrevista a seguir) ao domínio da máquina sobre o homem; ou pelo menos do comodismo exacerbado diante das tantas tecnologias. Pensando melhor e em Millôr, concordo que essa leitura é uma grande besteira. Quem gostaria de voltar à Idade Média?
Como disse, as alternativas de leitura são inúmeras. Aldara é o Brasil. Fácil correlação. Não exige muito do leitor. Aldara é um país muito afeito a CPIs (as cômodas Comissões Parlamentares de Inquérito são, talvez, as maiores invenções dos políticos brasileiros [ou do mundo, não sei quem as inventou]; percebam como existem CPIs neste Brasil; todo político está metido numa e, quando não está fazendo nada, está trabalhando numa CPI, o que é uma boa maneira de disfarçar o não-fazer-nada; fantástico). Em Aldara, “(…) os políticos e o judiciário, bem, eles viviam muito bem, obrigado”. É o Brasil, com seu Judiciário de faz-de-conta e seus políticos malemolentes. Não é preciso dizer mais nada. Bom salientar que as muitas referências a escritores e poetas no romance são uma clara manifestação de amor à literatura e a sua importância num caos que bate à porta todos os dias.
O país dos ponteiros desencontrados também está envolto em brumas que ora descortinam um caráter pessimista — principalmente em seu início —, ora uma deliciosa ironia que percorre suas páginas. No balanço final, a ironia se sobressai. E é aí que o romance, definido por João do Silêncio como “sátira-romance-poesia”, pode cair em desgraça com alguns leitores. A ironia, muitas vezes amparada em clichês e ditados populares, soa como despropositada, sem sentido ou por demais artificial, como quando Silêncio da Costa refere-se à esperança como a última que morre. Um pouco demais, convenhamos. Também se pode contestar a reprodução pura e simples de inúmeras citações, como as 96 sobre o tempo entre as páginas 191 e 204, sendo que uma delas — “Os dias talvez seja iguais para um relógio, mas não para um homem”, Marcel Proust — repete-se. Nestas situações, o leitor mais atento pode lembrar-se da orelha do romance e o aviso do autor: “é o mais genial ou o mais idiota que fiz”. Considero que está muito longe de ser idiota.
Esta leitura negativa (para o autor) também mostra a riqueza do romance, por mais contraditória que possa parecer. Ao fim, O país dos ponteiros desencontrados é um feixe de luzes em variadas direções, uma casa tomada por seres estranhos e maravilhosos, uma viagem aos sobressaltos. Nesta guerra, granadas, tiros, bombas explodem para todos os lados. As trincheiras são o refúgio. As emboscadas transformam-se em labirintos. Borgeanos, por que não? Impossível sair ileso, incólume. Uma fagulha, ao menos, atravessará a roupa e queimará a pele. Isso basta.
P.S. Não quis incluir este P.S. no corpo do texto, para não abrir mais uma janela. Mas o faço agora. Quase insuportável a quantidade de erros de revisão deste O país dos ponteiros desencontrados. (Um livro não é um jornal, onde os erros já fazem parte da sua natureza. Este Rascunho é um exemplo em que a pressa se sobrepõe ao acerto.) Não aceito a desculpa de que se tratam de originais enviados por uma agência de detetives, portanto, sem revisão. A cada esquina há um acento faltando, um travessão incorreto, a falta do sufixo mente (como acontece à página 76 com independente), até chegar ao cúmulo de um “cidadães” à página 77. Difícil aceitar este “cidadães” como uma ironia do autor, seja ele Flávio Moreira da Costa ou João do Silêncio. Uma pena.